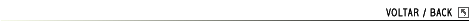
A política
da Igreja e a educação: o sentido de um pacto
Simon Schwartzman
Trabalho realizado no Centro de Pesquisa e Documentação
em História contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas. Publicado
em Religião e Sociedade, 13/1, março 1986, pp. 108-127.
I
Nunca, na vida republicana brasileira, a Igreja Católica teve presença política
tão importante quanto nos anos 30. Estes eram, no entanto, os anos de Getúlio
Vargas, gaúcho criado na tradição castilhista, positivista e anti-clerical
de seu estado. O pacto selado naqueles anos entre a Igreja e o regime getulista
é um episódio ainda pouco estudado e compreendido. Os poucos estudos que
existem a respeito se fascinam, sobretudo, com o intenso ativismo político
do Cardeal do Rio de Janeiro, D. Leme, deixando de lado a profunda influência
que a Igreja exerceu, naqueles anos, na área de educação, da política trabalhista
e em muitos outros aspectos da política social então adotada. Para entender
este pacto, não basta contar a história(1);
é importante, também, identificar suas raízes mais profundas.

Poucos entendem hoje a paixão e os conflitos que as questões de educação
provocavam no passado. Na perspectiva dos anos 80, as atividades educacionais
aparecem freqüentemente como uma rotina aborrecida e sem muitas perspectivas,
que só pode entusiasmar aos que desenvolvem uma vocação pedagógica peculiar.
O sistema educacional brasileiro parece ter entrado em um longo processo
de degradação, sem entretanto ter atingido sua plenitude. Metade das crianças
que vão à escola primária não passam do primeiro ano. O ensino secundário
parece fadado à repetição enfadonha de conhecimentos desidratados, e preocupado
exclusivamente com a preparação dos alunos para uma Universidade que, mais
tarde, os lançará, pouco preparados, em um mercado de trabalho cada vez
menos promissor. O ensino profissional, com raras exceções, é um fracasso.
Esta situação de calamidade geral não parece provocar, no entanto, maiores
arrepios. Em parte, talvez seja por um anestesiamento coletivo, provocado
pela crise geral de período. Em parte, também, é porque hoje já não se acredita
tanto na força e importância da educação. A noção antiga de que pela construção
moral e intelectual do homem seria possível mudar a sociedade já não encontra
muitos adeptos. Prevalecem, ao invés disto, os dados que mostram como o
desempenho escolar é determinado pela origem social das famílias das crianças
e as teorias que apontam no sistema escolar nada mais do que um elo da grande
máquina desenvolvida maquiavelicamente pelo Estado - ou pelo Capitalismo?
- para se reproduzir eternamente. Quando mudarem as estruturas sociais,
quando o Estado e o Capitalismo desmoronarem (mas como, se se reproduzem
com tanta eficiência?) , então o problema educacional estaria resolvido
naturalmente. A esta visão radical e milenarista se contrapõe uma outra,
a de que o mercado de trabalho treina as pessoas que precisa, gera os mecanismos
educacionais que necessita, e que, por isto, o problema educacional é um
falso problema. Reativemos a economia, e a questão educacional se resolverá
por si mesma. Duas visões opostas ideologicamente, mas coincidentes em um
ponto básico: a educação não é vista como um problema em si mesmo, nem um
meio específico para algo maior. Ela não passaria de um dado em um quadro
muito mais amplo econômico, político que a arrastaria consigo em suas idas
e vindas. Não haveria o que fazer, portanto, e nem mesmo que se preocupar
muito com a educação. Ela não teria, como dizem alguns, especificidade própria.
Não era assim no passado, e as diferenças eram tanto de concepções e ideologias
quanto da própria realidade. A história mostra que em praticamente todas
as sociedades que desenvolveram cultura escrita ou mesmo uma tradição oral
consolidada o acesso à educação foi um elemento importante de poder e prestígio
social. Não se tratava, simplesmente, da competência técnica que a cultura
proporcionava, e que podia ser utilizada nas guerras, no comércio ou na
indústria. Mais do que isto, ter educação significava ter acesso e autoridade
sobre os princípios morais da sociedade que serviam para obter o apoio das
massas e o respeito dos poderosos. Se, para quem já detinha o poder, a educação
era no máximo um adorno ou luxo desnecessários, para quem o aspirava ela
poderia ser a própria chave para a criação de uma nova posição de liderança,
para a exigência de novas formas de autoridade, ou pelo menos para um lugar
seguro e prestigiado ao lado da coroa. Por isto mesmo, em quase todas as
sociedades do passado, os letrados se constituíam em castas ou grupos à
parte, que investiam o que podiam em conhecimentos que se tornavam cada
vez mais esotéricos, e dos quais faziam derivar sua influência e poder,
quando não sua riqueza.
Isto explica como a cultura humanística e literária, fortemente vinculada
às tradições religiosas, sempre foi mais importante do que a cultura técnica,
ligada à vida prática. O homem que sabe fazer um navio, construir uma casa
ou montar um canhão tem como horizonte colocar-se a serviço dos poderosos
e receber deles a recompensa pelos seus serviços. Já o homem que tem a sabedoria
dos livros sagrados, das línguas mortas e dos rituais secretos tem poder
e prestígio próprios, que os poderosos necessitam e dos quais dependem.
Na tradição judaica antiga, que Max Weber estuda como um dos antecedentes
importantes da cultura ocidental, a educação se fazia no interior de cada
família, de forma comunitária, e sem que houvesse muito espaço para o surgimento
de uma classe sacerdotal constituída. A própria inexistência de um Estado
nacional contribuía para isto. A Igreja Católica, no entanto, ao se incorporar
ao Império Romano, foi aos poucos assumindo o monopólio não só do conhecimento,
mas o que é mais importante: do direito de definir o que é válido ou não
estudar, conhecer e aceitar como verdade. Desta posse do conhecimento tido
como verdadeiro decorria o princípio de que também a ela caberia a missão
de educar.
A revolta contra este tipo de dominação também se daria, freqüentemente,
na esfera da cultura e do conhecimento na luta pelo direito de ler a Bíblia,
de utilizar a própria língua e, mais tarde, de se fazer valer de um novo
tipo de verdade que surgia e que prometia abrir as portas para um mundo
novo, livre da ignorância, pobreza e opressão: o conhecimento da natureza,
ou científico. É desnecessário lembrar que, junto com estas questões, estavam
em jogo todas as demais, de tipo político e econômico.
Não teria sentido reconstituir aqui como esta história evoluiu
(o impacto da Reforma Protestante e do Renascimento, a Contra-Reforma,
o desenvolvimento do ensino leigo, os conflitos havidos na Europa e principalmente
na França) pelo controle do ensino por parte da Igreja e do Estado, e
o papel jogado por grupos protestantes e minorias étnicas e lingüísticas
em todo este processo. Basta lembrar que estes conflitos ainda estavam
bem vivos quando, a partir da década de 20 deste século, começam a se
fazer sentir com mais força em nosso meio.
II
É importante lembrar, ainda que de forma abreviada, a posição peculiar
que ocupa a Igreja Católica na história brasileira, sem o que os acontecimentos
dos anos 20 e 30 tornam-se incompreensíveis
Ao contrário do que freqüentemente se supõe, o Brasil nunca foi urna área
de predomínio indisputado e tranqüilo da Igreja Católica, apesar ou possivelmente
por causa da íntima relação que sempre existiu entre a Igreja e o Estado
português, e que teve continuidade durante o Império. É bem verdade que
a quase totalidade da população brasileira sempre se declarou católica,
e a Igreja proporcionava o único código moral e ético disponível no país.
A Igreja detinha o monopólio dos principais atos cívicos e ritos de passagem
que faziam parte da vida de todos o batismo, o casamento, o enterro -'
e estar fora da Igreja era sinônimo de não gozar da cidadania que estes
atos e rituais simbolizavam. Não se tratava somente de símbolos: ainda
no Império, o juramento católico era necessário "para colar grau nas faculdades
do Estado, para exercer empregos públicos, para desempenhar as funções
de deputado ou senador".(2) Ao mesmo tempo,
a instituição do padroado dava à coroa o direito ao "beneplácito", a ser
dado ou não às encíclicas, decretos e outras normas emanadas da Igreja
Romana, e ainda garantia à autoridade civil interferência na nomeação
dos bispos. Esta interpenetração entre a Igreja e o Estado significava,
na prática, que as questões religiosas eram freqüentemente tratadas como
meramente políticas, ou de qualquer forma leigas, enquanto que a religião
era freqüentemente utilizada para os fins políticos do Estado. Fosse a
sociedade portuguesa, e mais tarde a brasileira, profundamente religiosa,
isto significaria a existência de um regime teocrático, em que a hierarquia
católica governaria sobre o Estado e a sociedade. O que ocorria, no entanto,
era exatamente o contrário: o estado leigo prevalecia.. e a Igreja tinha
que se contentar com um papel relativamente menor, de aceitação mais ou
menos pacifica da autoridade civil e dos costumes do povo, em troca de
uma certa parcela de autoridade e de poder.(3)
O resultado foi o que hoje se denominaria de "catolicismo habitual", ou
de fachada. As normas éticas e morais da Igreja eram constantemente violadas,
deixando todos em um estado mais ou menos permanente de pecado, mas que
não parecia provocar maiores ansiedades, e era compensado. pelos ritos
das absolvições. As formas mais intensas de religiosidade ocorriam, como
ainda ocorrem, freqüentemente à margem ou ao arrepio das autoridades eclesiásticas,
nos cultos sincréticos, nos movimentos milenaristas e mesmo, mais recentemente,
nas diversas variedades de espiritismo e protestantismo, em suas vertentes
mais fundamentalistas.
Não é possível falar da Igreja Católica nesse período sem distinguir o
clero regular, e mais especialmente os jesuítas, do clero secular, espalhado
pelas paróquias do país. Os jesuítas formavam uma casta sacerdotal organizada
e fortemente hierarquizada, que tinha condições de disputar com a coroa
portuguesa o domínio temporal sobre a colônia. Para eles, o controle da
educação, que mantiveram no Império português de forma quase monopólica.
até sua expulsão em 1759, era somente parte de um projeto hegemônico muito
mais ambicioso, que ia do controle doutrinário da Universidade de Coimbra
à organização política e econômica dos índios na região das Missões. É
a grandiosidade e ambição deste projeto que explica, em última análise,
o conflito da Ordem com o Estado português, que leva à sua expulsão.
Já o padre secular, formado nos seminários que surgiam pelo país, era
geralmente uma figura de segundo plano, agregada aos donos da terra, aos
quais se aliava e para os quais desempenhava as funções rituais de praxe.
além de se dedicar eventualmente ao ensino das primeiras letras e da religião.
Para os filhos das melhores famílias que buscassem uma educação mais aprofundada,
no entanto, o caminho era Coimbra, desde o final do século XVIII sob o
impacto das reformas pombalinas, ou a França, a Bélgica e, mais tarde,
as escolas de direito, medicina e engenharia das grandes cidades brasileiras.(4)
A carreira eclesiástica era considerada como uma opção menor, buscada
por pessoas de origem social pouco definida, e que através dela buscavam
uma posição de relativo prestígio que de outra forma não conseguiriam.
Estes delineamentos são suficientes para termos uma idéia do papel que
a educação, e a atividade intelectual como um todo, desempenhavam no Brasil
colonial, e que continuou após a independência. Por um lado, ela era instrumento
de uma classe sacerdotal organizada, que disputava o poder temporal..
e que se viu finalmente derrotada no confronto com o poder real. Para
a elite política, a introdução de um novo tipo de educação, supostamente
mais moderna e adequada do que a jesuítica, era uma arma em seu confronto
com os inacianos. Sem chegar às rupturas do protestantismo, a Reforma
Pombalina buscou em outras congregações religiosas menos aguerridas as
armas que necessitava para este combate, e pouco a pouco levou a elite
luso-brasileira a. se abrir para o que ocorria no resto da Europa, incorporando
elementos das doutrinas cientificistas e naturalistas que então fervilhavam.
Para o resto da população, a educação formal quase nada significava, a
não ser para os poucos que adquiriam suas primeiras luzes nos seminários
e a partir daí buscavam um espaço na vida política e cultural que, muito
aos poucos, ia se abrindo. Exemplar, neste contexto, é o papel do Seminário
de Olinda e, particularmente, de Azeredo Coutinho, que, na frase de Antônio
Cândido, "talvez encarne como ninguém as tendências características de
nossa Ilustração - ao mesmo tempo religiosa e racional, realista e utópica,
misturando a influência dos filósofos ao policialismo clerical".(5) É desta combinação aparentemente irracional, mas
inteligível pela posição peculiar que ocupavam estes intelectuais, que
emerge a geração de "sacerdotes liberais" que participam de movimentos
independentistas, se filiam à maçonaria e, mais tarde, na pessoa de Feijó,
defendem o fim do celibato por um ato político do Império brasileiro,
o que levaria ao extremo o regalismo que, no passado, havia vitimado os
jesuítas
A independência somente acentuaria estas tendências. Por um lado, o Império
manteria o catolicismo como religião oficial, a instituição do padroado,
o beneplácito e a delegação de funções civis à Igreja. Mas era uma Igreja
enfraquecida, infiltrada pelo Iluminismo, com a espinha dorsal dos jesuítas
partida. Por outro, as idéias naturalistas e cientificistas iam penetrando
cada vez mais nas elites do país, ainda que sofrendo nesta passagem uma
importante transformação. Na Europa, esta nova mentalidade fazia parte
de duas forças gigantescas que iam, cada qual por seu lado, varrendo o
que restava da ordem política medieval: o Estado absolutista que se modernizava
e ampliava seus poderes, e a burguesia que crescia e afirmava seus direitos.
A ciência acenava com a possibilidade de uma nova ordem mais racional,
mais científica e possivelmente também mais totalitária do que a antiga.
E, ao mesmo tempo, era a afirmação dos valores da liberdade de pensamento,
da iniciativa individual, da razão comandada pela mão invisível do mercado
de mercadorias e idéias. À Reforma Pombalina, e mais tarde ao Império
brasileiro, só chega praticamente a primeira destas forças. A primeira
escola superior do país é a Academia Militar (mas onde se ensina, basicamente,
engenharia) ; as elites se organizam em sociedades secretas, e a aliança
entre o modernismo das idéias e o absolutismo da política não é meramente
casual.
É bastante evidente, neste quadro, a posição relativamente menor desempenhada
pela educação religiosa, se comparada com o sistema de escolas oficiais
e leigas que foi se implantando no pais a partir da chegada da família
real portuguesa, para a educação das elites. Se esta posição inferior
da Igreja causava fermentação no baixo clero, não era suficiente para
desafiar o poder do Estado. Quando este desafio se deu, com a famosa "questão
religiosa" do Segundo Reinado, sua orientação foi a oposta, ou seja, no
sentido da reafirmação do poder da hierarquia da Igreja, e não da liderança
dos intelectuais iluministas.
Basicamente, a questão religiosa girou ao redor do direito
que teria ou não o Bispo de Olinda, D. Vital (e também mais tarde o de
Belém, D. Macedo Costa), de ordenar a expulsão de membros de irmandades
religiosas que fossem também ligados à maçonaria, ou de interditar o funcionamento
destas irmandades enquanto suas ordens não fossem cumpridas. O que tornava
a questão complicada era que as irmandades não eram associações meramente
religiosas, mas cumpriam também funções civis. Mais do que um simples
conflito de jurisdição o que se disputava era o papel da Igreja em relação
ao Estado, em uma época em que a Igreja, em todo o mundo, buscava reafirmar
sua posição de liderança e autoridade pela reafirmação de seus valores
e conceitos mais tradicionais. Conforme indica Roque Spencer M. de Barros,
o Syllabus Errorum, que acompanha a encíclica Quanta Cura,
do Papa Pio IX, "condena sem apelação o racionalismo, absoluto ou moderado,
o naturalismo, o indiferentismo, o latitudinatismo, a idéia da Igreja
Livre no Estado Livre (isto é, a separação da Igreja e do Estado), o primado
do poder civil, a idéia da dependência do poder eclesiástico, o liberalismo,
o progresso, a civilização moderna etc., numa contraposição formal e absoluta
entre a Igreja e a opinião moderna, declaradas incompatíveis".(6) São estas as idéias adotadas por D. Vital que
o colocavam em linha inevitável de colisão com o Império. Em sua defesa
nos tribunais, D. Vital argumentaria que, se o Estado brasileiro é católico,
ele deveria ser, naturalmente, súdito da Igreja. "Com efeito", argumenta
ele, se não se pode admitir que superior da religião católica Seja quem
a ela não pertence, ainda menos se pode admitir que seja superior quem
é súdito, porque súdito-superior envolve contradição nos termos".(7) Como sabemos, D. Vital terminaria na cadeia.
III
A República consumou, finalmente, a separação entre a Igreja e o Estado,
institucionalizando, na própria bandeira do país, sua adesão ao positivismo.
No entanto, a nova ordem política, se abriu espaço para as oligarquias
dos grandes estados que o Império marginalizara, não incorporou de forma
mais efetiva a nova intelectualidade que ia se expandindo junto com o
crescimento das cidades e os albores da industrialização. Não havia muito
espaço, no novo regime, para os que haviam desfraldado a bandeira do abolicionismo
e agitado nas cidades as vertentes mais radicais do republicanismo. A
República é, em muitos sentidos, menos "ilustrada" e modernizadora do
que o Império, exatamente por transferir tanto poder aos estados e renunciar
ao comando político centralizado que havia caracterizado o Segundo Reinado
A questão educacional surge, quase naturalmente, como o objeto de atenção
desta intelectualidade que crescia de tamanho mas se mantinha marginalizada
pela estreiteza do regime republicano. É fácil ver por quê. Se o país
reconhecesse a importância da educação, os intelectuais e os educadores
em particular passariam a desempenhar um papel central na vida nacional.
Eles poderiam pôr em prática os instrumentos que acreditavam possuir e
que seriam capazes de resolver os problemas do atraso, da pobreza, da
ignorância e da falta de espírito público que assolavam a população brasileira.
Mais atenção à educação teria que significar não somente mais escolas,
mas também novas diretorias, secretarias e até mesmo um ministério para
a educação -e desta forma lugares reconhecidos e remunerados para os intelectuais.
É isto que explica, já na década de 20, o surgimento da influente Associação
Brasileira de Educação, que promove concorridas conferências nacionais
para discutir estes temas e cria o clima para os grandes projetos de reforma
que se iniciariam ainda na década de 20, para se intensificarem nos anos
30.
Os propagandistas da educação, se tinham em comum sua posição marginal
em relação ao regime, estavam por outra parte profundamente divididos.
Por um lado havia os que mais tarde se identificariam como os "pioneiros
da educação nova", um grupo heterogêneo que incluía nomes como Anísio
Teixeira, Fernando de Azevedo, Francisco Venâncio Filho, João Lira, Almeida
Jr. Lourenço Filho e vários outros. Este grupo difundia a idéia, então
considerada evidente, de que bastaria a modernização e racionalização
do sistema educacional para que seus problemas começassem a se resolver.
Fernando de Azevedo descreve os conflitos da época como, sobretudo, entre
o velho e o novo, mentalidades antigas e modernas, um conflito quase de
gerações. A expressão "educação nova", que provocava ódios e entusiasmos,
ele reconhece ser bastante ambígua. Sua conotação principal era sobretudo
pedagógica e inspirada nos princípios da liberdade, atividade e originalidade
no processo de ensino, em contraposição ao ensino tradicional, essencialmente
formal e baseado em memorizações. Além destes aspectos pedagógicos, que
estavam possivelmente mais presentes nos discursos do que nas salas de
aula das escolas reformadas, o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova",
publicado em 1932, defendia a laicidade no ensino, a sua organização em
escala nacional, a partir de princípios e normas gerais fixados pela União,
e a atribuição de um papel absolutamente central ao Estado, "como órgão
verdadeiramente capaz, nas condições atuais, de realizar o trabalho educativo".(8)
Tratava-se, em outras palavras, de aprofundar o projeto centralizador
e intervencionista do Estado, que vinha da tradição do Império e que a
República havia abandonado, mas que o governo provisório, com Vargas,
parecia poder reviver. É contra tudo isto que se insurge a outra vertente,
ou seja, o catolicismo militante.
Fernando de Azevedo, que percorrera pessoalmente o caminho do seminário
tradicional às tentativas de modernização da educação, descreve a Igreja
Católica no Brasil nos primeiros tempos da República como passando por
"uma crise de lassidão de que no século XX, e sobretudo depois da grande
guerra, devia reerguer-se apesar de graves obstáculos, para novas iniciativas
nos vários domínios das atividades religiosas, sociais e culturais". Havia,
segundo ele, "uma indiferença recíproca, senão quase uma dissociação ,
entre a Igreja e o século, entre a religião e as forças vivas da sociedade".
As vocações sacerdotais, "cada vez mais raras, que eram colhidas no seio
da família brasileira, isoladas e encerradas em seminários, já não partilhavam
da vida dos outros estudantes."(9) O que
não é claro é como, desta situação de desmoralização e apatia, surge o
que ele mesmo descreveria como "o mais vigoroso movimento católico de
nossa história, pela amplitude de sua ação social, por uma nova interpretação
da Igreja e do século, pelo renascimento do espírito -religioso e nacional
a um tempo e pela combatividade, nem sempre marcada pelo espírito ecumênico,
de catolicidade, ou por uma grande largueza de vistas".(10)
Não seria aqui o lugar para reconstruir esta história, já tratada exaustivamente
por outros autores.(11) O que mais chama
a atenção nesses anos é sem dúvida o ativismo do Cardeal Leme, que se
vale de momentos dramáticos como a inauguração da estátua de Cristo no
Corcovado e a consagração do país a Nossa Senhora de Aparecida, ambos
em 1931, para reunir multidões em praça pública e mostrar ao novo governo
a força da Igreja e a necessidade de tomá-la em consideração na nova ordem
política que estava sendo construída. A este ativismo da Igreja oficial
se soma um outro componente novo, os intelectuais, os católicos leigos
e militantes, cujo representante principal é o recém-convertido Alceu
Amoroso Lima. Como a maioria dos intelectuais da época, eles estão profundamente
insatisfeitos com o atraso do país, a ignorância e a má-formação intelectual
e moral das pessoas, e a inépcia dos governos. Como os outros, acreditam
que o caminho para a redenção do homem brasileiro é sua reconstrução desde
dentro, a partir da educação. Como os demais, pretendem também desempenhar
um papel importante nesta tarefa reeducativa e redentora. Intelectuais
sempre brigam entre si, e talvez fosse meramente por acaso que, ao buscarem
todos inspiração na França. uns se identificassem mais com o republicanismo
dos dreyfusards, enquanto outros encontrassem mais inspiração no
radicalismo conservador da Action Française.
Os católicos tinham, no entanto, sobre os liberais e republicanos, uma
vantagem relativa importante, que era sua tentativa de reencontrar, sob
o manto aparente da apatia e da indiferença do brasileiro, uma religiosidade
mais profunda, que pudesse ser reavivada e lhe servisse de apoio e sustentação.
Ainda que enfraquecida, a Igreja não perdera sua rede de contatos e influência
sobre a população espalhada por todo o território nacional, e para a maioria
da qual as idéias inovadoras e reformistas que as elites traziam da Europa
eram incompreensíveis ou absurdas. Diante da demissão do Estado, tanto
a nível federal quanto a nível estadual, é a ela que as famílias mais
.ricas recorrem para a educação de suas filhas e filhos, antes de mandá-los,
quando podem, para as escolas superiores das grandes cidades ou da Europa.
É na combinação deste contato com a população mais pobre e interiorana
com sua proximidade com os homens, e sobretudo as mulheres, das melhores
famílias, que a Igreja se baseia para tentar, mais uma vez, assumir o
papel hegemônico que a sociedade brasileira até então lhe negara. Não
é evidentemente por acaso que ela vai buscar o nome de D. Vital para inspirar
o centro de irradiação de idéias e de mobilização política que cria nos
anos 20, primeiro sob a liderança de Jackson de Figueiredo, e mais tarde
conduzido por Alceu Amoroso Lima. Assim como D. Vital, o novo catolicismo
militante vai buscar o que havia de radicalmente mais conservador e ultramontano
no pensamento da Igreja: a defesa da ordem, da hierarquia, da autoridade
religiosa, da educação guiada pelos princípios religiosos e controlada
pela autoridade eclesiástica e o ataque aos ideais, considerados deletérios,
do liberalismo, do individualismo, da liberdade de informação e pensamento,
e também ao poder do Estado, quando desprovido da supervisão da Igreja.
Também como nos tempos de D. Vital, a nova militância surge em um contexto
de reafirmação do poder e direção de Roma sobre sua Igreja Universal.
A conseqüente "romanização" da Igreja Católica teve, entre outras conseqüências,
um alinhamento muito mais próximo da Igreja brasileira com o ultramontanismo
de Roma, um grande fluxo de padres estrangeiros para as paróquias brasileiras,
e a busca de um papel político mais claro e significativo do que aquele
a que a Constituição Republicana lhe destinara.(12)
É difícil imaginar como tal programa poderia pretender se
efetivar no clima político dos anos 20 e 30. Por um lado, no entanto,
ele dava fundamento a todo um trabalho de reafirmação da fé católica e
dos princípios morais da Igreja, que sempre encontrava eco na população
ante a demissão doutrinária e ideológica das elites políticas tradicionais,
e que já havia servido de base para a atuação cada vez mais intensa de
D. Silvério, Arcebispo de Mariana, na política de seu estado.(13)
Por outro, a preocupação com a ordem e o horror à idéia de revolução leva
a uma aproximação natural entre a Igreja e o poder constituído, Seja ele
qual for, e à elaboração progressiva de um pacto que termina por se consumar
em
IV
O estado de Minas Gerais, segundo a descrição de John Wirth, foi o berço
do renascimento da militância católica conservadora no Brasil. Graças
à liderança do Arcebispo de Mariana, D. Silvério Gomes Pimenta, a igreja
desenvolve uma ampla ação de combate à laicização do ensino implantado
por João Pinheiro, que culmina com a introdução do ensino do catecismo
nas escolas públicas em todo o estado em 1928, sob a gestão de Francisco
Campos, Secretário do Interior do governo Antônio Carlos e principal responsável
pelas tentativas de modernização do sistema educacional em Minas Gerais
nos anos 20. É certamente desta experiência mineira que Campos deduziu
a importância de tê-la a Seu lado para projetos políticos mais ambiciosos
e o espaço que havia para conquistá-la
Não há nada que indique ter sido Campos um homem especialmente católico,
e suas idéias não provocavam entusiasmo em Alceu Amoroso Lima. Há uma
carta que Alceu escreve a Mário Casassanta, em 1932, e que faz parte do
Arquivo Gustavo Capanema, onde expressa sua inquietação sobre "o primado
da ação sobre o ato, que é um dos pecados mais graves do 'mobilismo contemporâneo"'.
Ele vê qualidades na Legião de Outubro, iniciada por Francisco Campos,
Capanema e Casassanta, que denomina sem pejo de "fascista", mas adverte
que ela só poderia ser realmente útil se mantivesse "o primado da inteligência
como meio de defesa da supremacia da fé". De outro modo, prossegue, "através
do hegelianismo, do primado da ação, continuaremos apenas no evolucionismo,
no relativismo que provocam o ceticismo e que numa nacionalidade como
a nossa, sem estrutura certa, sem ideais definidos, sem unidade geográfica
e sem critério político, poderá ser o nosso desastre definitivo".(14)
É uma condenação clara de toda a filosofia política de Campos, baseada
nas idéias sorelianas do primado da ação, do irracionalismo como elemento
irredutível da realidade social, a ser capitalizado pela audácia e liderança
de um herói nietzschiano, que ele mesmo tratou, embora fracassando, de
ser, e que depois buscou-se construir ao redor de Getúlio Vargas.
A revolução de 30 não provocou, entre os militantes católicos, a não ser
sentimentos de hostilidade e de suspeita. O próprio fato de ser uma "revolução"
já provocava arrepios em quem valorizava, acima de tudo, a manutenção
da ordem constituída. Além disto, Vargas provinha do Rio Grande do Sul,
estado há décadas sob o domínio absoluto de uma oligarquia inspirada no
pensamento positivista, e trazia para o poder uma orientação centralizadora
e de fortalecimento do Estado. Alceu Amoroso Lima, no início, define a
revolução getulista como "obra da Constituição sem Deus, da Escola sem
Deus, da Família sem Deus". Gustavo Capanema, que desenvolveria nos anos
seguintes relação de íntima colaboração com Alceu, descreve Getúlio Vargas
como "homem frio, inexpressivo; não achei nenhuma flama, nenhuma Simpatia;
sem ardor, sem luz; não inspirando confiança". E mais tarde, sobre a missa
que Getúlio participou em Minas, ao lado de Olegário Maciel e Afrânio
de Melo Franco: "Getúlio não ajoelhou. Protestante? Dizem que tem um filho
chamado Lutero. Positivista, talvez. Talvez nada".(15)
A Igreja buscava, neste momento, restabelecer sua posição e direitos que
havia perdido quando da implantação da República. O ensino religioso nas
escolas públicas era talvez o mais importante; além disto, o reconhecimento
de efeitos civis para os casamentos religiosos, e o direito de os sacerdotes
servirem o Exército não como soldados, mas como capelães. Eram estas as
"emendas religiosas" que terminaram, finalmente, incorporadas à Constituição
de 1934. Nesta época, a desconfiança entre a Igreja e o Estado já se havia
transformado em um pacto de colaboração, que ganharia mais tarde sua dinâmica
própria.
Ao Cardeal do Rio de Janeiro não faltariam, certamente, intermediários
para negociar este pacto com o governo, a começar pelo Padre Leonel Franca.(16)
Menos conhecida, no entanto, foi a atuação de Francisco Campos neste processo,
que tinha por objetivo colocar a Igreja a serviço de um projeto político
próprio
Ao lado de Getúlio nas conspirações de 30, Minas participa do governo
provisório através de Francisco Campos, que assume em 1931 o novo Ministério
da Educação e Saúde, de onde articula seus planos para vôos maiores. Por
um lado, haveria que quebrar o poder da velha oligarquia mineira , encastelada
no Partido Republicano Mineiro sob a liderança de Arthur Bernardes. Depois,
haveria que constituir sua base de sustentação política própria, que,
partindo de Minas, pudesse se espraiar para todo o país. Para isto, o
papel da Igreja seria fundamental
O projeto é apresentado de forma detalhada em carta de abril de 1931 a
Amaro Lanari, companheiro na organização da Legião de Outubro. Nela, Campos
rememora seus antecedentes de colaboração com a Igreja em Minas Gerais,
que o fazem insuspeito e "motivos de oportunidade ou de atualidade" para
defendê-la. Diz que a Legião de Outubro, para ir mais longe ainda em seu
programa de renovação e de disciplina espiritual, deveria pedir à Igreja
"não Somente inspirações, mas também modelos e quadros de disciplina e
ordem espiritual". Passa, depois, a descrever o conteúdo das emendas religiosas,
"das quais fui o autor espiritual e apoiei na Câmara dos Deputados", e
que São exatamente aquelas que seriam adotadas pela Constituinte de 1934.
Logo depois, em abril, escreve a Getúlio Vargas propondo a decretação
imediata do ensino religioso nas escolas públicas.(17)
Nesta carta a Getúlio Vargas, Campos defende a assinatura de um decreto
autorizando o ensino religioso nas escolas públicas que, na aparência,
não se limitaria ao catolicismo, mas atenderia às preferências de cada
um. Depois de justificar o projeto, Campos acentua que, "neste momento
de grandes dificuldades, em que é absolutamente indispensável recorrer
ao concurso de todas as forças materiais e morais, o decreto, se aprovado
por V. Excia., determinará a mobilização de toda a Igreja Católica do
lado do governo, empenhando as forças católicas de modo manifesto e declarado,
toda a sua valiosa e incomparável influência no Sentido de apoiar o governo,
pondo ao Serviço deste um movimento de opinião de caráter absolutamente
nacional".(18)
Não seria aqui o lugar para reconstituir, em detalhe, como
este pacto se desenvolveu nos anos Seguintes. Em 1932, Francisco Campos,
sob a Suspeita de envolvimento com a Revolução Constitucionalista, cai
no ostracismo, do qual só ressurgiria com o Estado Novo. Seu protegido
e sucessor na Secretaria do Interior de Olegário Maciel, Gustavo Capanema,
rompe com Campos, assume interinamente o governo de Minas com a morte
de Olegário Maciel, mas termina preterido para o cargo, com a nomeação
surpreendente de Benedito Valadares. Em 1934, no entanto, pelo menos três
fatos demonstram como o projeto do pacto havia frutificado: as emendas
religiosas são incorporadas à Constituição; Getúlio Vargas, em um ato
de acatamento à autoridade da Igreja, se casa no religioso, após anos
de vinculo estritamente civil; e Gustavo Capanema é empossado no Ministério
da Educação e Saúde, após negociações das quais participou Alceu Amoroso
Lima, que se transformaria. daí por diante, em mentor espiritual e intelectual
do Ministro e de toda a atividade educacional no país.
V
O texto manuscrito que Alceu Amoroso Lima encaminha a Capanema em 1934,
delineando o que a Igreja esperava do governo, vai muito além do que as
emendas religiosas haviam conseguido. A educação do país deveria ser estruturada
segundo princípios fundamentais de base católica, que serviriam como critérios
para a seleção dos professores das escolas e universidades. O "ecletismo
pedagógico" e o "bolchevismo'" deveriam ser rigorosamente excluídos; as
humanidades clássicas deveriam ter lugar predominante nas escolas; um
plano nacional de educação calcado em "filosofia sã" deveria ser elaborado,
e para isto uma Convenção Nacional das Sociedades de Educação deveria
ser convocada, mas "com as bases principais previamente assentadas". Faculdades
Católicas de Teologia deveriam ser implantadas nas universidades, e assim
por diante. O documento propunha também medidas correlatas na área sindical,
incluindo a "seleção cuidadosa dos funcionários do Ministério do Trabalho
e das diretorias?dos sindicatos, um Programa de publicações e periódicos
que difundissem a concepção cristã do trabalho' , , e cumprimento da legislação
social.(19)
As coisas não ocorreriam como era esperado, e em junho de 1935 Alceu Sente
que O país ameaça tomar rumos profundamente contrários aos que desejava.
"A recente fundação de uma universidade municipal (a UDF, dirigida por
Anísio Teixeira) " com a nomeação de certos diretores de faculdades que
não escondem suas idéias e pregações comunistas, são a gota d'água que
fez transbordar a grande inquietação dos católicos", escreve ele. O que
querem os católicos, diz Alceu, é a ordem pública, a paz social, a liberdade
de ação para o bem (mas não para o mal) e a unidade de direção do governo.
Eles querem a repressão ao comunismo, expurgos do Ministério do Trabalho,
do Exército e da Marinha, e a transformação da polícia do Distrito Federal
(então dirigida por Felinto Müller) em Ministério. A carta reafirma, também,
os termos da colaboração dos católicos com o governo: "Vejam eles que
o governo combate seriamente o comunismo (sob qualquer aparência ou máscara
para disfarçar) súmula de todo o pensamento anti-espiritual e portanto
anticatólico; que combate seriamente o imoralismo dos cinemas e teatros
pela censura honesta; Organiza a educação com a imediata colaboração da
Igreja e da Família vejam isto os católicos e apoiarão, pela própria força
das circunstâncias, os homens e os regimes que possam assegurar ao Brasil
estes benefícios".(20)
O sufocamento da rebelião da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, com
a deposição de Pedro Ernesto e o afastamento de Anísio Teixeira, abre
caminho para que estas idéias comecem a ser postas em prática. A Universidade
do Distrito Federal seria, por algum tempo, dirigida pelo próprio Alceu
Amoroso Lima, e mais tarde extinta, com parte de seus professores incorporados
à nova Universidade do Brasil, cuja recém-criada Faculdade de Filosofia
e Letras caberia também a ele dirigir (o que, finalmente, nunca ocorreu)
. A nova universidade tratou de repetir, na aparência, a idéia paulista
de trazer do exterior seus professores, mas a seleção foi feita em termos
estritamente confessionais, pouco ficando em termos de institucionalização
de uma verdadeira universidade. O ensino secundário foi reformado segundo
o modelo italiano (a chamada Reforma Gentile) , com grande ênfase
no ensino do clássico e do latim e na doutrinação patriótica da educação
moral e cívica. O ensino religioso foi instituído nas escolas públicas;
as escolas privadas católicas encontraram seu espaço e, aos poucos, seus
subsídios.
Se a Ação Católica, em nome da qual falava Alceu Amoroso
Lima, conseguia apoio em muitos setores das classes médias, os intelectuais
de inclinação mais conservadora se vinculavam mais diretamente ao movimento
integralista que, sem se afastar dos princípios doutrinários e do anticomunismo
militante da Igreja, tinha um projeto político muito mais explícito e
direto. A reação conservadora que se implanta no país a partir da insurreição
comunista de 1935 corresponde a uma união da Igreja, do movimento integralista,
das Forças Armadas e de outros setores do governo contra as ameaças de
rebelião popular e as lideranças leigas que a própria revolução de 30
havia ajudado a florescer.(21) Na estratégia
de Francisco Campos, um dos articuladores do golpe de estado de 1937,
esta seria a ocasião para realizar, finalmente, o projeto que acalentava
desde o início da década: um regime forte, centralizado a princípio na
figura idealizada de Vargas, com Plínio Salgado e os integralistas controlando
o Ministério da Educação, e com ele próprio, Campos, à frente de uma vasta
Organização paramilitar de juventude que controlaria, de fato, as Forças
Armadas e o próprio governo.
VI
Sabemos que a história foi distinta. Uma vez consolidado o golpe de 1937,
Getúlio Vargas volta-se contra os integralistas que O haviam apoiado,
e coloca o movimento na clandestinidade. Francisco Campos teria papel
importante no novo regime; Capanema é mantido no Ministério da Educação,
mas os projetos mais militantes e ambiciosos vão sendo pouco a pouco esvaziados.
A tentativa de organização de uma Organização Nacional da Juventude nos
moldes alemães ou italianos se reduz a pouco mais que um calendário de
solenidades cívicas. Em 1939, Capanema propõe a Vargas, com a assessoria
de Alceu Amoroso Lima e do Padre Leonel Franca, um ambicioso "estatuto
da família", que, entre outras coisas, proibia o trabalho feminino e estabelecia
uma censura rigorosa a todos os meios de expressão cinema, cátedra, jornais
para impedir a divulgação de idéias ou valores que, de alguma forma, pudessem
ir contra os valores da família em sua acepção cristã mais estrita. O
projeto se perde em discussões palacianas e finalmente se transforma em
uma série de medidas muito mais limitadas e inócuas de proteção à infância
e auxílio ao matrimônio
Consolidado no Ministério da Educação, sem ter que prestar contas ao Congresso,
e livre das ameaças do ativismo mobilizante que vinha do integralismo,
Capanema trata de consolidar seu espaço próprio no interior do Estado
Novo. Este espaço teve que ser disputado com o Ministério do Trabalho,
pelo controle do ensino industrial; com o Ministério da Justiça, pelo
controle do cinema e do rádio educativo; com o Exército, pelo controle
do ensino paramilitar, da educação física e da educação moral e cívica.
Além disto, havia que garantir o lugar junto ao Presidente, por demonstrações
de fidelidade e respeito, materializadas sobretudo no grande livro de
comemoração dos feitos do Estado Novo, que tanto ocupa o tempo do Ministro.
Nem tudo seriam vitórias. O ensino industrial fica em grande parte com
a Federação das Indústrias, com o apoio do Ministério do Trabalho; o DIP
não abandona seu controle sobre os meios de difusão e a propaganda ideológica
do regime; o livro comemorativo no Estado Novo jamais chegaria à luz.(22)
É neste espaço, disputado a duras penas, que o Ministro vai tratando de
dar cumprimento a seu acordo com a Igreja através de um projeto ambicioso
e, em última análise, irrealista, de definir no papel e na legislação
todo o funcionamento presente e futuro do sistema educacional do país,
a ser controlado por um Ministério de dimensões avantajadas. Tudo, dos
currículos escolares às plantas dos prédios, dos salários dos professores
às taxas de matrícula, deveria ser regulamentado e controlado pelo Ministério.
Comissões e mais comissões são formadas, projetos de todo o tipo são elaborados
e encaminhados, e pessoas vão sendo empregadas, muitas vezes por indicação
de Alceu Amoroso Lima, e tantas outras por políticos, homens de governo
ou relações pessoais às quais favores não podiam ser negados. A lógica
de poder e de montagem de uma burocracia com estas dimensões nem sempre
permitiria que Capanema fizesse o que seu mentor desejava. Alceu termina
por recusar a direção da Faculdade de Filosofia, que é assumida por San
Tiago Dantas, e até mesmo se afasta, por algum tempo, do Ministro. Capanema
ressente, e em julho de 1939 escreve a Alceu dizendo ser melhor "você
ouvir menos alhures, e conversar mais comigo. O governo é coisa constituída
de tal natureza, que exige que a gente adote a todo momento um modo especial
de agir, a fim de que o objetivo desejado e previsto se atinja. É a tal
história de andar direito por linhas tortas". O principal, porém, era
que "tudo quanto combinei com você está na minha memória, e não deixará
de ser cumprido".(23)
Era uma promessa que não poderia ser cumprida em sua integridade.
É fato que, muitos anos após o fim do governo Vargas e do ministério Capanema,
o catolicismo conservador continuaria a manter posições importantes no
sistema educacional do país e particularmente na Universidade do Brasil,
mais tarde convertida novamente em Universidade do Rio de Janeiro. Mas
a própria Igreja, desde o final da década de 30, acalentava o projeto
de construir sua própria Universidade, que finalmente seria instituída
no Rio de Janeiro no início dos anos
* * *
Como se explica o fracasso de um projeto que havia chegado, aparentemente,
tão perto de se realizar? Em parte são razões políticas, as mesmas que
haviam levado D. Vital à prisão no século anterior. O pacto de 1934 restabeleceu,
em linhas gerais, a mesma ambigüidade e as mesmas tensões que haviam marcado
o relacionamento da Igreja com o Estado até a República. O governo Vargas,
aparentemente, limitou-se a cumprir a letra das emendas religiosas sem
jamais aceitar a tutela ideológica e doutrinária que a Igreja pretendia.
Esta, tal como D. Vital no século anterior, trataria de utilizar-se dos
espaços conquistados para alinhar o Estado brasileiro com seus princípios
e ideais e trazer a Igreja à posição de predomínio que talvez nunca, nem
mesmo antes de Pombal, tivesse alcançado. Por alguns anos de 1935 a 1939,
mais precisamente pareceria que este objetivo seria alcançado. Pouco a
pouco, no entanto, ficaria claro para a Igreja que esta não era ainda
a sua vez.
O apoio da Igreja, a manutenção da ordem pública e dos princípios morais,
o fortalecimento da família, a censura à imprensa, o ensino religioso,
todas estas coisas eram bem-vindas e desejadas pelo regime, desde que
não ameaçassem O sistema político mais profundamente. A Universidade poderia,
sem grandes riscos, ficar com os católicos. O Ministério da Educação estava
bem nas mãos de Capanema, pessoa ambiciosa mas moderada e conciliadora;
nas mãos de Plínio Salgado, como pretendia Francisco Campos, já era demais.
A própria mobilização da juventude, enquanto significasse um movimento
patriótico, de culto aos símbolos do país e às qualidades de seus líderes,
deixava de ser aceitável quando pretendia se aproximar do modelo das Organizações
paramilitares , que , nos regimes fascistas , terminavam compartilhando
do exercício do poder. Em outras palavras, o limite da colaboração da
Igreja com o Estado era o da delegação de funções, principalmente na área
educacional e dos ritos civis.
Havia ainda outros limites, talvez mais profundos, de tipo social e institucional.
O projeto educacional e cultural da Igreja era extremamente limitado e
conservador em seu conteúdo, e não dava lugar para o mundo moderno ao
qual o país tratava, bem ou mal, de se incorporar. A ausência de um espaço
realmente aberto para a pesquisa científica, a ênfase excessiva nas pedagogias
tradicionais, o conteúdo fortemente elitista da educação secundária, o
lugar menor a que era relegado tudo o que não fosse o ensino secundário
ou universitário em sentido estrito, tudo isto fazia do projeto educacional
que ia se implantando no Brasil algo que já nascia esclerosado, com pouca
vida.
A estes problemas de conteúdo se juntaram outros derivados da própria
natureza autoritária e centralizadora do Estado Novo. A tentativa de organizar
todo o sistema educacional de cima para baixo, através de uma legislação
minuciosa que se fizesse acompanhar por sistemas complexos de inspeção
e controle, teve duas conseqüências extremamente sérias. Primeiro, iniciativas
locais e autônomas eram tanto quanto possível sufocadas, em nome dos princípios
da uniformidade ou da manutenção de padrões nacionais de qualidade e cultura.
Isto ocorreu, de forma visível, na violência que se instituiu contra a
educação em língua materna dos imigrantes do sul, facilitada pela identificação
entre muitos destes imigrantes e o fascismo europeu. Também afetou, de
diversas formas, as iniciativas educacionais dos estados, que, até 1934,
pareciam indicar que se iniciava no país um movimento descentralizado
bastante amplo e renovador da educação. É fácil ver que foram as áreas
que, de alguma forma, conseguiram resistir a esta uniformização centralizadora
- a Universidade de São Paulo, o SENAI, colégios católicos mais tradicionais
-, que conseguiram manter, cada qual à sua maneira, os padrões de qualidade
de seu ensino.
A segunda conseqüência foi fazer de todo o sistema educacional uma Vasta
burocracia cujo funcionamento jamais conseguiu corresponder às intenções
da legislação. A forma prevalecia sobre o conteúdo, a letra sobre o espírito
das normas, tudo isto gerando comportamentos ritualizados, com pouco sentido
para os que ensinavam, e menos ainda para os que deveriam, pelo menos
em princípio, dele se beneficiar. E uma herança que ainda hoje nos acompanha
VII
Ao final do Estado Novo, pouco restava do pacto de 1934, e o regime de
1946 restabeleceria a tradição republicana de afastamento entre o Estado
e a Igreja. A tradicional vinculação de setores católicos com o ensino
privado continuava existindo, e universidades católicas começaram a surgir
em outras regiões do país. O debate entre ensino público e privado, que
havia polarizado católicos e escolanovistas nos anos 30, ressurgiria novamente
nas longas discussões sobre a Lei de Diretrizes e Bases, e a corrente
católica ainda conseguiria fazer predominar seus pontos de vista na legislação
aprovada já nos anos.
A esta altura, no entanto, a questão educacional já perdera a importância
política que havia tido no passado, e a Igreja já não jogava nela tantos
de seus trunfos. Nos anos que se seguem, voltam a surgir dentro do catolicismo
brasileiro as três tendências que, de uma forma ou de outra, sempre o
caracterizaram. Em sua maior parte, continuou prevalecendo o catolicismo
tradicional e rotineiro de sempre, educando as moças e rapazes, cuidando
dos batizados, casamentos e enterros, e ocupando um papel respeitável,
mas Secundário, na vida nacional. A tradição ultramontana e reacionária
ficou por muitos anos reprimida, sofrendo os rescaldos de sua aproximação
passada com o integralismo, até ressurgir por breves momentos com as "marchas
da família" de 1964, para voltar a se fechar ao redor de grupos ativistas
e minoritários como a TFP ou figuras isoladas como os bispos de Campos
e Diamantina. o que realmente cresce, até dar por um breve momento o tom
preponderante, é a tradição iluminista que havia tido seu apogeu no início
do Império, e que havia refluído até quase desaparecer a partir de D.
Vital e sua reencarnação nos anos
Em sua versão moderna, o iluminismo surge pela tentativa de fazer um catolicismo
engajado na história e comprometido com as transformações sociais que
estavam por vir. Suas raízes intelectuais são européias: a experiência
dos padres operários fascina, e Teilhard de Chardin parece oferecer a
ponte que faltava entre o catolicismo e o evolucionismo histórico, quase
indistinguível do historicismo hegeliano-marxista. Mas é na América Latina,
e particularmente no Brasil, que esta corrente encontra sua maior penetração.
No inicio dos anos 60, ela capta a imaginação dos jovens intelectuais
universitários e de parte importante do clero, e dela se aproxima aos
poucos até mesmo Alceu Amoroso Lima, novamente converso. Por um tempo,
pareceria que o "reencontro do século", por tantos anos buscado, fora
finalmente atingido, dando à Igreja e a seus sacerdotes e líderes leigos
a posição central que sempre buscaram, em um país em processo de transformações
profundas. Esta posição parecia se firmar, significativamente, no âmago
das universidades brasileiras, para daí se espraiar, de forma aparentemente
irresistível, para os movimentos populares, os partidos políticos e até,
quem sabe, para a conquista do poder. Era o sonho frustrado dos anos 30
que parecia tornar-se realidade.
Não caberia aqui acompanhar o desenrolar desta história tão recente. Basta
observar que, com o passar dos anos, o catolicismo progressista perde
força junto à hierarquia, e retrocede enquanto pólo de atração para jovens
universitários que, ou são levados pelo radicalismo ao rompimento total
com a Igreja, ou, ao perderem a juventude e saírem do ambiente universitário,
abandonam também sua militância. O catolicismo progressista não desaparece,
mas é possível observar que, aos poucos, o componente iluminista e histórico
parece ceder lugar seja a um novo romanismo que se afirma com João Paulo
II, seja a um progressismo onde a indignação profética predomina sobre
as pretensões intelectuais e culturais.
É assim que, por diversos lados, a Igreja parece ter desistido, pelo menos
por enquanto, da conquista da alma do brasileiro através das instituições
de ensino do país. Nas universidades católicas, construídas com tanta perseverança
nos anos 40, os conteúdos religiosos passam a segundo plano, e elas se distinguem
pouco pelos professores, pelos alunos, pelos conteúdos curriculares das
demais escolas superiores, leigas ou públicas. A Igreja continua a ter presença
importante no ensino secundário, e suas escolas conseguem freqüentemente
manter padrões de qualidade que as destacam como estabelecimentos de elite
no quadro de massificação do ensino brasileiro. Mas é exatamente este aspecto
de educação de elite o que predomina, e não o de educação católica. O progressivismo
católico, finalmente, busca assentar raízes não mais nas universidades e
escolas, mas nas favelas e sindicatos, nas comunidades do campo e nas periferias
das grandes cidades, de onde, supõem seus líderes, sairá revigorado, e poderá
desempenhar o papel central na sociedade brasileira que até hoje lhe tem
sido negado.
Notas:
1. Para a história das relações entre a Igreja e a Estado
no Brasil contemporâneo, veja, entre outros, Márcio Moreira Alves, L'Église
et le politique au Brésil, Paris, Les Éditons do Cerf, 1974; Thomas
C., Political Transformations of the Brazilian Catholic Church (Nova
Iorque, Cambrídge University Press, 1974); Emmanuel de Kadt, Catholic radicais
in Brazil (Londres e Nova lorque, Oxford University Press, 1970); e Margareth
Patrice Todaro (Todaro Williams), Pastors, prophets and politicians:
a study of lhe Brazilian Catholic Church, 1916-1945 (Tese de Ph.D.,
Universidade de Columbia, 1971). Para uma apreciação conjunta destes trabalhos,
veja Ralph DelIa Cava, "Catholicism and Society in Twentieth Century Brazil",
Latin American Research Review XII, 2, 1976, p. 7-50. Todos estes
trabalhos se concentram nos aspectos políticos da ação da Igreja, e deixam
em segundo plano seu papel na área da educação. Este papel, no entanto,
é central em Tânia SaIem, "Do Centro D. Vital à Universidade católica",
em S. Schwartzman, ed., Universidades e instituições científicas no Rio
de Janeiro (Brasília, CNPQ, 1982, p. 97-136), e em S. Schwartzman, Helena
Mana B. Bomeny e Vanda Maria R. Costa, Tempos de Capanema (Rio de
Janeiro e São Paulo, Paz e Terra/EDUSP, 1985).
2. Roque Spencer M. de Barros, "vida Religiosa". em Sérgio
Buarque de Holanda, ed. História Geral da Civilização Brasileira
(HGCB), vol. II, 4 ("O Brasil Monárquico: Declínio e Queda do Império",
p. 330).
3. Sobre a presença da Igreja no Brasil colonial, veja
a capítulo correspondente de Américo Jacobina Lacombe em HGCB, vol.
1, 2 ("A Época Colonial: Administração, Economia, Saciedade", p. 51-75).
4. Sobre a educação das elites brasileiras até a século
XIX, ver José Murilo de Carvalho, A Construção da ordem, Rio de Janeiro,
Ed. Campus, 1980.
5. Antônio Cândida de Meio e Souza, "Letras e idéias
no Brasil Colonial", HGCB, vol. 1, 2. p. 102.
6. HGCB, II, 4. p. 326.
7. Citada por Roque Spencer M. de Barros, HGCB,
11, 4, p. 349.
8. Fernando dc Azevedo, A Cultura brasileira,
4 Edição, Editora Universidade de Brasília, 1963, p. 668.
9. A Cultura Brasileira, op. cit., p. 270-271.
10. ibid.
11. ver nota 1.
12. Sobre "romanização", ver Ralph Della Cava, op. cit.,
p. 11-12; Roger Bastide, "Religion and Church in Brazil", em T. Lynn Smith
e Alexander Marchant, eds. , Brazil: Portrait of Half a Continent
(Nova lorque, Dryden Press, 1951, p. 334-355).
13. Veia a este respeito: John D. Wirth, O fiel da
balança (Minas Gerais na Federação Brasileira 1889-1937), Rio
de Janeiro, Paz e Terra, 1982, especialmente capítulo 3.
14. Esta carta, assim como as demais citadas abaixo,
exceto uma, faz parte do Arquivo Gustavo Capanema, do acervo do Centro de
Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do Brasil da Fundação
Getúlio vargas. Assim como as demais, ela foi incluída no apêndice de S.
Schwartzman, H. Bomeny e V. Ribeiro Costa, Tempos de Capanema. A
exceção é a carta de Francisco Campos a Getúlio vargas de 1931, que faz
parte do arquivo Getúlio Vargas, também do acervo do CPDOC.
15. Anotações manuscritas de Capanema, FGV/CPDOC, AC/Capanema,
pi 00.00.00/2.
16. Veja, a respeito, Margareth Todaro Williams, "Integralism
and the Brazilian Catholic Church", Hispanic American Historical Review,
vol. 54, 3 (agosto de 1974) , p. 443. Ver também Irmã Maria Regina do Santo
Rosário (Laurita Pessoa Gabaglia), O Cardeal Leme (Rio de Janeiro,
1962).
17. FGV/CPDOC/Arq. AC.
18. FGV/CPDOC/Arq. GV.
19. FGV/CPDOC/Arq. GC.
20. FGV/CPDOC/Arq. GC
21. Sobre o inter-relacionamento entre a Ação Católica
e o Integralismo, ver Margareth Todaro Williams, op. cit
22. Este livro jamais seria publicado sob a gestão de
Capanema, e só viria à luz com a abertura de seus arquivos. Cf. Simon Schwartzman,
organizador, Estado Novo: um Auto-Retrato (Brasília: 1983).
23. FGV/CPDOC/Arq. GC.
<
