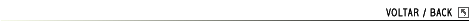
As Condições
Políticas para a ação governamental Simon Schwartzman
Este texto, de 1989, se baseia em parte na introdução
à terceira edição deBases do Autoritarismo Brasileiro,
Rio de Janeiro, Editora Campus, 1985.
A Nova República encontrou o Brasil profundamente transformado, depois de
20 anos de regime militar. Era um país muito mais urbanizado, industrializado
e populoso do que nos anos 60. Ao mesmo tempo, as condições sociais pareciam
ter piorado: aumentou a desigualdade da renda, a criminalidade urbana parece
fora de controle, os problemas de saúde pública são críticos. Ao final do
Governo Sarney, a crise social não diminuiu, e a crise econômica parece
fora de controle. Quantos destes problemas se devem ao regime político que
imperou nas últimas décadas? Quantos ao governo Sarney? Quantas ocorreriam
independentemente de um ou outro?
A experiência do autoritarismo gerou muitas análises e controvérsias a respeito
de seu verdadeiro sentido. Teriam sido estes anos apenas um desagradável
acidente em um processo inelutável de desenvolvimento econômico, social
e político, tal como as teorias do desenvolvimentismo dos anos 50 e 60 fariam
supor? Ou, ao contrário, teriam sido eles uma simples volta a um padrão
recorrente e mais profundo da sociedade ou da cultura brasileiras, por natureza
autoritárias e incapazes de evoluir para uma ordem democrática estável?
Como entender os anos de regime autoritário? É possível dizer que o Brasil
parou em 1964, para sair 20 anos depois de um grande pesadelo? Ou será que
as transformações ocorridas nestes anos foram suficientemente amplas e profundas,
independentemente das intenções dos sucessivos governos militares, para
que seja impossível pensar em um simples retorno aos tempos pre-64? E como
interpretar a situação atual em que nos encontramos? Podemos supor que o
padrão de desenvolvimento com desigualdade não passou de uma perversão dos
regimes militares, infelizmente prorrogada pela transição abortada do governo
Sarney, a ser corrigida agora que vivemos em uma democracia? Ou, ao contrário,
trata-se de uma característica mais permanente e profunda do autoritarismo
brasileiro, e por isto fadada a persistir, fazendo com que o prognóstico
de nossa incipiente democracia seja necessariamente pessimista?
É impossível responder a estas questões neste nível de generalidade. Para
abordá-las, é necessário ter um entendimento adequado de nosso passado social
e político, das mudanças profundas que ocorreram nas últimas décadas, e
das repercussões que esta bagagem acumulada ainda tem na maneira pela qual
nossa sociedade se move. Ao final deste texto não teremos ainda condições
de saber com segurança o que o futuro nos espera; mas teremos, pelo menos,
uma idéia mais clara sobre as questões que estão em jogo.
A temática das perversões do Estado brasileiro não é um simples fenômeno
passageiro, mas tem raízes profundas e implicações que não se desfazem por
meros rearranjos institucionais.
Bases do Autoritarismo Brasileiro pretende ser uma contribuição
para este esforço. Sua versão inicial, com o título de São Paulo e o
Estado Nacional, foi escrita e publicada no inicio dos anos 70, portanto
em plena vigência do AI-5 e nos anos mais duros do regime militar. A atual
versão, aqui republicada com simples correções de detalhe, foi escrita no
inicio dos anos 80, quando o processo de abertura política já se prenunciava
como irreversível. O interesse continuo que o livro tem encontrado ao longo
destes anos parece confirmar que a temática do autoritarismo brasileiro
não é um simples fenômeno passageiro, mas tem raízes profundas e implicações
que não se desfazem por meros rearranjos institucionais. Reconhecer isto
não significa supor que o Brasil padece de um estigma autoritário congênito,
para o qual não existe salvação. Reconhecer isto não significa supor que
o Brasil padece de um estigma congênito, para o qual não existe salvação.
Mas significa, isto sim, que este passado, e suas conseqüências presentes,
tem que ser vistos de frente, para que tenhamos realmente chance de um futuro
mais promissor.
Uma das teses centrais deste livro é que o Brasil herdou um sistema político
que não funciona como "representante" ou "agente" de grupos ou classes sociais
determinados, mas que tem uma dinâmica própria e independente, que só pode
ser entendida se examinamos a história da formação do Estado brasileiro.
Esta tese parece incompreensível dentro de uma visão de corte marxista ou
economicista convencional, que tende a interpretar tudo o que ocorre em
uma sociedade em termos de sua divisão de classes, mas torna-se mais inteligível
em uma perspectiva que vê o estado como uma formação histórica específica,
com seus próprios interesses, e que desenvolve um sem número de arranjos
e alianças com diferentes setores da sociedade, para diversos fins. É nesta
perspectiva weberiana que podemos ver que o Estado brasileiro tem como característica
histórica predominante sua dimensão neo-patrimonial, que é uma
forma de dominação política gerada no processo de transição para a modernidade
com o passivo de uma burocracia administrativa pesada e uma "sociedade civil"
(classes sociais, grupos religiosos, étnicos, lingüísticos, nobreza, etc.)
fraca e pouco articulada. O Brasil nunca teve uma nobreza digna deste nome,
a Igreja foi quase sempre submissa ao poder civil, os ricos geralmente dependeram
dos favores do Estado, e os pobres, de sua magnanimidade. Não se trata de
afirmar que, no Brasil, o Estado é tudo e a sociedade nada. O que se trata
é de entender os padrões de relacionamento entre Estado e sociedade, que
no Brasil tem se caracterizado, através dos séculos, por uma burocracia
estatal pesada, todo-poderosa mas ineficiente e pouco ágil, e uma sociedade
acovardada, submetida mas, por isto mesmo, fugidia e freqüentemente rebelde.
Este padrão de predomínio do Estado leva a que ele se constitua, historicamente,
com duas características predominantes. Primeiro, por um sistema burocrático
e administrativo que denominamos, para seguir a tradição weberiana, de neo-patrimonial,
e que se caracteriza pela apropriação de funções, órgãos e rendas públicas
por setores privados, que permanecem no entanto subordinados e dependentes
do poder central, formando aquilo que Raymundo Faoro chamou de "estamento
burocrático". Quando este tipo de administração se moderniza, e segmentos
do antigo estamento burocrático vão se profissionalizando e burocratizando,
surge uma segunda característica do Estado brasileiro, que é o despotismo
burocrático. Do imperador-sábio D. Pedro II aos militares da Escola
Superior de Guerra, passando pelos positivistas do Sul e tecnocratas do
Estado Novo ou de pós-64, nossos governantes tendem a achar que tudo sabem,
tudo podem, e não tem na realidade que dar muita atenção as formalidades
da lei.
I
O jogo político que se desenvolve nestas condições consiste muito menos
em um processo de representação de setores da sociedade junto ao Estado
do que em uma negociação contínua entre o Estado neo-patrimonial e todo
o tipo de setores sociais quanto à sua inclusão ou exclusão nas vias de
acesso aos benefícios e privilégios controlados pelo Estado. Não é uma negociação
entre iguais: "fora do poder não há salvação", dizia o velho político mineiro.
A política é tanto mais importante quanto maior é o poder do Estado, e por
isto, na tradição brasileira, todas as questões - religiosas, econômicas,
educacionais - passam sempre pelo crivo do poder público. Esta negociação
contínua leva a vários tipos de solução. Lideranças mais ativas são cooptadas
pelo sistema político, e colocadas a seu serviço. O estamento burocrático
brasileiro é permissivo, e incorpora com facilidade intelectuais, empresários,
líderes religiosos e dirigentes sindicais. Quando a cooptação se institucionaliza,
ela assume, muitas vezes, características corporativistas, que consiste
na tentativa de organizar os grupos funcionais e de interesse em instituições
supervisionadas e controladas pelo Estado. É por mecanismos corporativistas
que o Estado brasileiro tem buscado, desde pelo menos os anos 30, com grau
relativo de sucesso, enquadrar os sindicatos, as associações patronais e
as profissões liberais, incluindo aí todo o sistema de ensino superior.
O outro lado da cooptação é a exclusão, tanto dos processos políticos e
decisórios quanto da eventual distribuição da riqueza social. O Estado Novo,
ao mesmo tempo em que tratava de organizar e cooptar o operariado urbano,
excluía o campesinato de qualquer forma de acesso a seus benefícios. A exclusão
do campesinato é somente o exemplo mais flagrante do processo de modernização
conservadora que tem caracterizado o desenvolvimento brasileiro. O
regime pós-64 tratou também de excluir os trabalhadores urbanos, os intelectuais
e, em geral, as populações das grandes cidades de uma influência mais significativa
na vida política do país. O sistema bicameral, em nome do princípio federativo,
sobre-representa no Senado os pequenos estados em detrimento das grandes
concentrações populacionais do centro-sul, e distorções semelhantes também
existem para a Câmara de Deputados. É um quadro que já vem da Constituição
de 1946, e sobrevive ao regime militar.
Além de cooptar, enquadrar ou excluir pessoas e setores da sociedade, o
Estado neo-corporatista desenvolve uma atividade econômica que pode ser
caracterizada como neo-mercantilista. Como no mercantilismo dos
velhos tempos, o Estado se intromete em empreendimentos econômicos de todo
tipo, tem seus bancos, indústrias próprias e protegidas, firmas de exportação
e comercialização de produtos primários. Em parte, isto é feito através
de suas próprias empresas; mais tradicionalmente, no entanto, a atividade
neo-mercantilista se exerce pela distribuição de privilégios econômicos
a grupos privados, nacionais ou internacionais, que estabelecem assim alianças
de interesse com o estamento burocrático
A última característica do estado neo-corporativista é seu aspecto plebiscitário,
ou populista. O que caracteriza o populismo é a tentativa de estabelecer
uma relação direta entre a liderança política e a "massa", o "povo", sem
a intermediação de grupos sociais organizados. O populismo plebiscitário,
como a experiência do fascismo europeu tão bem demonstrou, é a outra cara
do autoritarismo. A relação entre estas duas coisas não é simples, no entanto.
Nunca se investiu tanto em relações públicas e publicidade no Brasil quanto
nos anos de governo militar e durante o governo Sarney. Mas isto não foi
suficiente para dar a estes regimes uma dimensão populista, que foi, no
entanto, uma característica marcante de certos momentos do regime getulista.
Existe além disto uma diferença profunda entre o populismo plebiscitário
e o populismo de tipo fascista. O primeiro é pouco mais do que um instrumento
de legitimação do poder, e, por isto, é geralmente mantido dentro de limites
"convenientes". O segundo, no entanto, é utilizado para a própria conquista
e manutenção do poder, uma situação em que torna-se difícil conte-lo em
seus limites. O estado brasileiro convive bem com o primeiro, mas tem horror
as ameaças do segundo, como foi possível constatar em 1945, 1961, 1964 e
possivelmente também agora, em 1989.
II
Diante de um Estado com estas características, como se estrutura a sociedade?
Em parte, ela segue uma dinâmica própria, que não se explica nem se entende
pelo que ocorre a nível político. O país passou da escravatura para o trabalho
livre, por um processo dramático de deslocamento populacional do campo para
as grandes cidades e de estímulo a imigração, desenvolveu um parque industrial
de grandes proporções da região centro-sul, e não se pode dizer que tudo
isto ocorreu por decisão ou intenção dos governos, ainda que o Estado neo-patrimonial
tratasse sempre de influenciar ou condicionar estes processos. Do ponto
de vista político, no entanto, pode-se observar que a sociedade brasileira
tende a ser, em geral, dependente do Estado para a obtenção de benefícios,
sinecuras, autorizações, empregos, regulamentos, subvenções. A outra face
da dependência é a clandestinidade. Como o Estado pretende controlar tudo
(sem, no entanto, conseguí-lo), comportamentos não regulados passam a ser
vistos como ilegítimos, mas ao mesmo tempo aceitos de forma tácita e consensual:
a economia informal, o jogo do bicho, as religiões populares, o contrabando,
o poder privado em suas diversas manifestações, os sistemas familiares que
se constituem à margem das normas e da moral estabelecida, Com isto, a vida
quotidiana tende a ser desprovida de conteúdos éticos e normativos, uma
situação endêmica de anomia cujas conseqüências ainda não foram plenamente
entendidas por nossos cientistas sociais.
O caso da Igreja Católica é interessante como ilustração destas relações
entre o Estado e a sociedade. O que é a Igreja, Estado ou sociedade? Na
tradição portuguesa do padroado, transposta para o Brasil, a Igreja era
parte do Estado, em uma simbiose na qual a religião cuidava dos ritos e
da educação sem se intrometer, e na realidade legitimando, o poder político
constituído à sua revelia. A elite política brasileira sempre foi muito
mais racionalista, maçon ou positivista do que propriamente católica, e
as vezes em que a Igreja desafiou o poder do Estado - como quando da Questão
Religiosa no século XIX, ou durante o regime militar - a elite política
e burocrática reagiu com energia.
Na década de 20 e 30 deste século a Igreja buscou, pela primeira vez, se
constituir em movimento social e intelectual autônomo e capaz de influenciar
decisivamente a política do país, agindo assim do lado da sociedade. Ela
terminou, no entanto, cooptada pelo regime varguista, que lhe entregou o
Ministério da Educação e lhe roubou, ao mesmo tempo, a bandeira do ensino
privado, que só seria retomada, com timidez, no após-guerra. O caráter semi-oficial,
mas subalterno, da Igreja Católica, contribui muito para o formalismo e
a pouca convicção que caracteriza grande parte do catolicismo tradicional
brasileiro, em contraste com a intensidade das formas mais espontâneas e
"clandestinas" de religiosidade popular. A redescoberta da sociedade vitalizou
os movimentos de Ação Católica nos anos 60, se prolongou no envolvimento
da Igreja com as questões de direitos humanos nos anos de autoritarismo
militar, e prossegue no envolvimento aparentemente irreversível de setores
importantes da Igreja com os movimentos comunitários do campo e das periferias
urbanas. Uma das facetas importantes desta redescoberta é a tentativa de
incutir na vida social e comunitária um conteúdo ética e moral que se tornara
impossível de estimular a partir da tradicional identificação entre a Igreja
e a ordem política estabelecida. Os sucessos, as dificuldades e os conflitos
internos que a Igreja vem experimentando neste processo refletem os dilemas
da superação de uma ordem política autoritária e hierárquica e sua superação
por formas novas de organização e participação social.
III
O quadro esboçado até aqui descreve, em linhas muito amplas, a situação
brasileira até o inicio da Segunda República, em meados do Século XX, assim
como alguns de seus desdobramentos mais visíveis. A partir daí a sociedade
brasileira entra em grandes transformações, onde o que mais se evidencia
é um processo de crescimento demográfico acelerado, que se faz acompanhar
da intensificação dos processos migratórios do campo para as cidades. A
economia rural mais tradicional e decadente, com sua combinação perversa
de minifúndio-latifúndio, vai se esvaziando aos poucos, sendo substituída
pelas grandes lavouras mecanizadas de exportação, pelas grandes extensões
de criação de gado, pela expansão de uma agricultura e pecuária de alta
tecnologia e voltados ao mercado interno, e assim por diante. Os antigos
meeiros e posseiros vão perdendo suas raízes, imigrando ou transformando-se
em bóias frias ou assalariados das grandes plantações de cana de açúcar
e outras agro-indústrias. É um processo intenso e violento, acompanhado
do deslocamento forçado da população e por conflitos pela posse da terra.
Com tudo isto, os problemas brasileiros dependem hoje muito menos do que
ocorre no campo do que o que ocorre nos grandes centros urbanos. O esvaziamento
do campo permite sua modernização cada vez mais acelerada, a extensão do
sistema previdenciário e da sindicalização ao setor rural, e outras transformações
que fazem com que as diferenças entre campo e cidade no Brasil tendam a
se reduzir.
A contrapartida do despovoamento do campo é o inchamento das cidades. A
existência de "classes perigosas", setores populares que convivem com padrões
altos de violência e ameaçam a segurança física das classes médias e altas,
não chega a ser uma novidade no Brasil; ao contrário, estas "classes perigosas"
tem sido uma constante na história do Rio de Janeiro, e constituem uma característica
central de uma sociedade baseada no predomínio de centros político-administrativos
desprovidos de adequada estrutura de emprego industrial. No entanto, os
processos demográficos do pós-guerra acentuam este fenômeno, e levam ao
surgimento de novas formas de organização "clandestina" das sociedades urbanas,
que vão das poderosas máquinas de política urbana ao crime organizado, passando
por associações locais de todo tipo, e sem que as fronteiras entre elas
se definam com clareza. No Rio de Janeiro, que é onde este fenômeno se dá
com maior intensidade, já é muitas vezes impossível dizer aonde acabam e
aonde começam as organizações do jogo do bicho, o tráfico de drogas, as
escolas de samba, os times de futebol, a polícia, os partidos políticos,
a burocracia governamental, os donos de hotéis e os agenciadores de turismo.
O pós-guerra assinala além disto o surgimento de uma classe média urbana
significativa, que busca se proteger nas asas do emprego público ou na segurança
das profissões liberais, mas se volta também para as oportunidades comerciais
e industriais proporcionadas pelas grandes concentrações urbanas. Esta classe
média força, aos poucos, a expansão do sistema educacional, particularmente
de nível médio, que é atendido pela iniciativa privada, e o de nível superior,
que é inicialmente proporcionado de forma gratuita pelo Estado, passando
depois a ser atendido também pela livre iniciativa. Consolida-se em alguns
centros, além disto, uma indústria voltada para o mercado interno (e, na
última década, também para o mercado internacional), que serve de base a
um crescente proletariado urbano. É este último o setor capitalista por
excelência da sociedade brasileira, que, como sabemos, só incorpora uma
parte pequena das populações urbanas, e se concentra principalmente na região
de São Paulo. É também nesta região que surge, de forma mais marcada do
que nunca na história do país, um setor industrial internacionalizado.
IV
Estas transformações tão intensas não poderiam deixar de colocar em crise
a relação de simbiose e dependência que havia se estabelecido no passado
entre o Estado brasileiro e a sociedade civil. Entra em crise a administração
patrimonial clássica, formalista, pesada, ineficiente e voltada para a distribuição
de empregos e privilégios. O Estado agora é chamado a gerir com eficiência
grandes aglomerados urbanos, proporcionar infraestrutura a uma economia
moderna em expansão, regular um sistema financeiro extremamente complexo,
e assim por diante. O antigo sistema corporativista, que implicava em um
pacto de conveniência mútua entre o Estado em alguns setores mais organizados
da sociedade, também entra em colapso: o número de participantes aumenta,
os recursos e privilégios a serem distribuídos não crescem na mesma proporção.
O "neo-mercantilismo" também sofre. Sua inerente ineficiência, os altos
níveis de corrupção, tudo isto é aceito e tolerado quando a economia se
expande, e o que uns ganham não chega a ser necessariamente retirado de
outros. Quando os recursos se tornam mais escassos, no entanto, quando os
mecanismos inflacionários de financiamento do dispêndio público colocam
em risco a ordem econômica e social, aumenta a pressão por maior eficiência,
racionalidade e previsibilidade das ações do governo.
Um dos setores onde a crise se manifesta com mais clareza é na previdência
social. O mito de que o sistema previdenciário brasileiro é "um dos mais
avançados do mundo" foi mantido por muitos anos graças à exclusão da população
rural e ligada ao setor informal da economia de seus benefícios, e também
à juventude e baixa expectativa de vida de todos, o que significava poucos
velhos e poucas doenças degenerativas. Só assim foi passível planejar um
sistema previdenciário que aposenta pessoas aos 45 ou 50 anos de idade e
oferece atendimento médico ilimitado. Ainda que exista, certamente, muito
espaço para o aumento da eficiência da previdência social brasileira, pela
racionalização de custos, mudanças nas fontes de financiamento e nas formas
de atendimento ao público, não há duvida de que sua crise econômico-financeira
é extremamente grave, e deverá levar a profundas revisões quanto à maneira
pela qual a sociedade brasileira espera, tradicionalmente, receber os benefícios
do Estado.
Entra em crise, finalmente, o sistema político de cooptação. A organização
de setores mais ativos da sociedade em corporações subordinadas ao Estado
é um arranjo cômodo quando estas corporações são relativamente fracas e
pequenas, e o Estado tem condições de transferir para elas alguns privilégios
e benefícios. Com o tempo, no entanto, estas corporações crescem, aumentam
seu poder de reivindicação, enquanto diminui progressivamente a capacidade
que o Estado tem de atender a suas demandas. No período pre-64 o antigo
Partido Trabalhista Brasileiro, que controlava tradicionalmente o Ministério
do Trabalho, perdeu aos poucos o controle do sistema sindical do país, e
parte da radicalização política havida naqueles anos se explica pelo esforço
do PTB em não se alienar completamente da liderança sindical que lhe escapava.
Esta radicalização do movimento sindical corporativizado fez com que as
propostas de criação de um sindicalismo livre e desatrelado da tutela governamental
(e das vantagens do imposto sindical) nunca encontrassem maior apoio nos
meios sindicais brasileiros. Nos anos 80 são as corporações de classe média
- funcionários públicos, professores, certas categorias de profissionais
liberais - que desenvolvem padrão semelhante de radicalização.
Em síntese, os mecanismos que haviam sido desenvolvidos no passado para
garantir uma ordem política estável se transformam, com o correr do tempo,
em fatores de instabilidade e perplexidade. Como se adaptar aos novos tempos?
Que formatos institucionais, legalmente definidos ou de fato, podem ser
estabelecidos para substituir os antigos, em um pacto social mais aberto
e socialmente mais justo?
V
A primeira reação à crise foi, como sabemos, a repressiva. Reprimiu-se,
a partir de 1964, as demandas por participação política e o direito à reivindicação
organizada de interesses. Não foi, desde logo, uma repressão neutra e generalizada,
mas que beneficiou uns em detrimento de outros. A história dos 20 anos de
governo militar mostra que, apesar de seu compromisso genérico com o que
se pode denominar genericamente de "sistema capitalista", houve suficientes
variações e contradições que fazem com que esta expressão, em si mesma,
explique muito pouco. Tentou-se, em um primeiro momento, um modelo de racionalização
capitalista mais clássico e ortodoxo, com o aumento da eficiência e redução
do peso do Estado, criação de instituições capitalistas modernas (mercados
financeiros, banco central autônomo, grandes conglomerados industriais e
financeiros, descentralização administrativa, etc.), e internacionalização
da economia. Se estas foram as linhas principais dos primeiros anos de regime
militar, elas foram substituídas depois por outras mais ajustadas as tradições
do Estado brasileiro: o crescimento do setor público, o lançamento de grandes
projetos e programas sociais ambiciosos, como a da padronização e generalização
da previdência social e a erradicação do analfabetismo através do Mobral.
Ainda que a discussão sobre os fatores que conduziram ao fim do regime militar
ainda continue, é passível assinalar que a resposta desmobilizadora e repressiva
à crise do antigo estado patrimonial continha em si mesma alguns limites
bastante claros. Processos sociais tão amplos como os de esvaziamento do
campo e super-povoamento das cidades são impossíveis de controlar, e os
regimes militares nem sequer o tentaram. Obter legitimidade política e ideológica
em um contexto de repressão e desmobilização é quase uma contradição em
termos, que não pode ser superada pela simples manipulação de símbolos nacionais
ou pelo uso mais ou menos competente dos meios de comunicação de massas.
Nada impediu, tampouco, e muitos fatores estimularam, o renascimento de
velhos padrões patrimonialistas e neo-mercantilistas em um contexto político
autoritário e repressivo. Analistas tendem a atribuir ao governo Geisel
um projeto de desenvolvimento sócio-econômico e político definido, que deveria
culminar no restabelecimento da ordem democrática em novas bases. O período
seguinte, por outro lado, é normalmente reconhecido como aquele em que a
apropriação privada da coisa pública mais se exacerbou, em um contexto histórico
em que os grandes projetos do governo anterior entravam em hibernação ou
eram abandonados. Em grande parte, esta diferença entre os dois últimos
governos militares se explica pela mudança nas condições externas que afetaram
os projetos governamentais (a segunda crise do petróleo, a crise da dívida,
etc.); e, em parte, pelas diferenças pessoais entre as personalidades envolvidas.
Mas o que mais chama a atenção não é tanto o contraste quanto a convivência
relativamente pacífica entre padrões éticos aparentemente tão distintos,
sugerindo que ambos fazem parte de uma síndrome comum, própria dos sistemas
autoritários de base neo-patrimonialista.
O regime militar também chegou ao fim por um dinâmica de conflitos internos
que tendia, inevitavelmente, a incorporar novos atores às disputas pelo
poder, fazendo que, mesmo nos períodos de autoritarismo mais intenso, o
setor civil do sistema político do país não fosse completamente desarticulado.
A existência destas disputas internas, e a manutenção de canais abertos
entre o Estado e setores da elite política e econômica é uma característica
histórica do estado patrimonial brasileiro que o regime militar não chegou
a destruir, e acabou por alimentar as contradições que levaram a devolução
pacífica do poder aos civís.
A transição negociada entre o regime militar e a Nova República implicava
na contenção dos ímpetos renovadores expressos pelo movimento das "diretas
já" e pelo renascimento de certas lideranças populistas tradicionais e a
entrega do poder a uma liderança civil mais tradicional e "confiável", capaz
de se valer do populismo sem se deixar dominar por ele; e implicava também
na contenção de algumas formas mais agressivas e arrivistas do poder econômico,
em eventual aliança com os setores militares mais vinculados ao sistema
repressivo e de informações. Buscou-se um novo equilíbrio entre Estado e
sociedade que continuasse a dar primazia ao Estado, eventualmente modernizado
e adaptado aos novos tempos. Apesar da reconhecida maestria com que este
processo foi conduzido, permitindo inclusive que a aliança assim formada
sobrevivesse à tragédia pessoal de Tancredo Neves, o fato é que a Nova República
transformou-se em um regime frágil, sustentado quase que exclusivamente
na inércia institucional e na troca de favores, ansiosamente pendente dos
resultados das pesquisas de opinião pública, alimentadas de forma cada vez
mais inadequada por ações de impacto de repercussão progressivamente menor,
e administrando um calendário eleitoral que não governa totalmente e que
parece exaurir quase todas suas energias.
VI
Esta visão panorâmica da evolução brasileira nas últimas décadas, e das
frustrações trazidas pelo governo Sarney, permite sugerir algumas respostas
à pergunta inicial a respeito da irreversibilidade ou não dos processos
de abertura política e democratização que estamos assistindo. Uma das teses
defendidas a este respeito é de que os anos de autoritarismo já teriam cumprido
sua função, que seria a de realizar, a sua maneira, o processo de transição
da economia brasileira de um sistema proto-capitalista para uma economia
capitalista plena. Uma vez cumprida esta função, o autoritarismo já não
teria razão de ser. É uma tese difícil de ser sustentada, para quem não
acredita que exista um padrão uniforme de desenvolvimento a ser seguido
pelos diversos países, e sabe que o entendimento de uma sociedade nem de
longe se esgota na análise das transformações de seu sistema produtivo;
ou, mais especificamente, que o Estado brasileiro tem características próprias,
ligadas a suas origens patrimonialistas, que o tornam bastante distinto
dos modelos dos países capitalistas ocidentais. Bastaria, além disto, uma
simples visão da conjuntura econômica brasileira ao final da década de 80
- o problema da dívida externa não equacionado, a dívida interna quase que
fora de controle, gastos públicos também descontrolados - para vermos que
os anos futuros serão, certamente, turbulentos na área econômica, com inevitáveis
repercussões ao nível político e social.
Uma outra tese, certamente mais complexa que a anterior, é o que poderíamos
chamar de "tese do transbordamento". Basicamente, ela consiste em afirmar
que o crescimento e a modernização da sociedade brasileira nas últimas décadas
foi de tal ordem que os sistemas tradicionais de controle político da sociedade,
pela cooptação das lideranças e enquadramento corporativista dos setores
organizados da população, ou pela mobilização populista do eleitorado, já
seriam coisas do passado, e neste sentido a volta aos padrões tradicionais
de dominação de nosso Estado neo-patrimonial seria impensável.
Trata-se de uma tese somente em parte verdadeira. É certo que a parafernália
de controles políticos e institucionais que conhecemos, em parte constituída
nos anos do Estado Novo, está começando a se desmoronar, e a sociedade brasileira
se organiza hoje em uma pluralidade de formas não previstas e dificilmente
enquadráveis em qualquer mecanismo estável de dominação estatal. O que não
é certo é que este processo significa a consolidação da ascendência permanente
da "sociedade civil" sobre o Estado, superando assim, de maneira definitiva,
nosso passado neo-patrimonial e autoritário. Para que isto fosse verdade
seria necessário não somente que as estruturas tradicionais de dominação
tivessem "transbordado" - que não deixa de ser um fato - mas também que
a sociedade brasileira tivesse se tornado "mais madura" neste processo,
e o Estado, mais competente - duas premissas bastante problemáticas.
VII
Teorias sobre a "maturidade" dos cidadãos costumam vir em duas versões,
uma de tipo evolucionista, outra de fundamento mais religioso. A primeira
destas versões consiste em afirmar que, na medida em que as sociedades se
desenvolvem, é o povo se torna mais culto e educado, aumenta também seu
nível de politização, seu grau de consciência política, sua maturidade.
Como todas as teses evolucionistas, esta também tem duas vertentes, uma
mais liberal, outra mais marxista e revolucionária. Pela vertente liberal,
o processo de "amadurecimento" se relaciona basicamente com a educação a
ser obtida nas escolas a ser transmitida pelas famílias. Na vertente mais
revolucionária, o processo de amadurecimento político estaria diretamente
relacionado com o desenvolvimento do capitalismo, que traria como conseqüência
a transformação das antigas "classes em si" em "classes para si". Ambas
teorias tem em comum a noção de que o amadurecimento político não se dá
de forma espontânea e automática, mas é um processo evolutivo que depende
de um trabalho constante e permanente de educação e proselitismo, tanto
para que as pessoas "evoluam", na vertente liberal, quanto para que elas
superem os condicionantes das ideologias hegemônicas e mascaradoras dos
verdadeiros interesses, na segunda vertente.
As teorias de fundo mais religioso dispensam a evolução, e partem da tese
que o povo é naturalmente bom, justo e sábio. O problema com o regime político
brasileiro não estaria na "imaturidade" ou falta de consciência política
do povo, mas sim nas manipulações das elites, que sistematicamente tratariam
de escamotear a realidade e apresentá-la de maneira falsa e deturpada. O
verdadeiro trabalho político não seria o de educar e catequizar o povo,
mas sim o de desmascarar seus inimigos explícitos ou ocultos. Esta visão
religiosa da sabedoria popular se manifestou com muita clareza na idéia
lançada por alguns setores segundo a qual a Assembléia Constituinte de 1987
não deveria ser eleita pelos partidos convencionais, e sim formada, "diretamente",
pelo povo. Havia a idéia de que os partidos políticos, mesmo nas condições
de liberdade estabelecidas para as eleições de 1986, seriam necessariamente
corrompidos e alienados; mas que o "povo", se pudesse se manifestar em sua
pureza, poderia se expressar de maneira plena, fazendo com que o Brasil
finalmente encontrasse o regime político de seus sonhos. O mesmo raciocínio
foi utilizado nas eleições municipais de 1988.
Resultados de eleições permitem testar algumas destas teses, e neste sentido
as evidências de 1986 e 1988 parecem muito contraditórias. Chamou a atenção,
em 1986, tanto o fracasso dos candidatos mais ideológicos quanto o dos candidatos
cuja principal base eleitoral fosse o simples poder econômico ou a identificação
de classe. A eleição paulista poderia ter se polarizado entre o grande capitalista,
Ermírio de Morais, e a liderança operária organizada no Partido dos Trabalhadores;
no entanto, ela terminou sendo muito mais um conflito entre o líder municipalista
Quércia e o arrivista Paulo Maluf. No Rio de Janeiro, a tentativa de polarizar
as eleições entre "ricos" e "pobres" fracassou, levando com ela o candidato
do PDT. Em Minas Gerais a polarização foi entre um político tradicional
mas rebelde e outro de base populista, que contava com o apoio do governo
do Estado. Entre os dois, foi punida a rebeldia. A vitória maciça do PMDB,
alimentada pelo sucesso temporário do Plano Cruzado, foi, em sua maior parte,
a vitória do governo federal. Em alguns casos, o voto peemedebista ainda
poderia ser visto como voto de oposição aos remanescentes do regime militar;
mas, em muitos estados, o peemedebista de hoje é o pedeessista de ontem,
e o governo é sempre governo. As eleições de 1988, em plena crise do governo
Sarney, mostrou resultados diametralmente opostos, com a derrota generalizada
dos candidatos governamentais. Mas é bastante óbvio que este foi um voto
contra "tudo isto que está aí", mais do que o resultado de um processo de
amadurecimento ou "sabedoria" popular.
Sem pretender esgotar a complexidade e variedade dos resultados eleitorais,
e pensando não só nas eleições de governadores, mas também nas proporcionais,
é possível dar uma lista dos atributos necessários para que um candidato
fosse eleito. A primeira é que ele conseguisse, de alguma forma, furar a
barreira do anonimato, é se transformasse em um "mídia event", uma figura
dos meios de comunicação de massas. É claro que dinheiro conta para isto,
mas radialistas e comentaristas de televisão foram eleitos sem maiores dificuldades,
assim como candidatos de pequenos partidos que souberam utilizar bem os
horários gratuitos de propaganda eleitoral. O segundo tipo de candidato
bem votado foi o que tinha uma base institucional bem estruturada: a polícia
civil, um grupo religioso organizado. Alguns candidatos conseguiram boa
votação ao se identificar com um ou dois pontos de grande apelo ideológico
para a classe média, como os "candidatos da pena de morte" do Rio de Janeiro
e São Paulo. Acima de tudo, no entanto, foram eleitos candidatos que, pela
posição atual ou passada na máquina administrativa de seu estado ou município,
conseguiram construir no passado redes de lealdades pessoais que agora se
pagam, ou se renovam na esperança da continuidade. Para o eleitor que não
fosse ligado aos meios de comunicação de massas, não fosse beneficiário
de uma rede de favores públicos, não tivesse um tema que o identificasse
fortemente com um candidato e nem tivesse um parente ou amigo concorrendo,
as eleições majoritárias não chegaram a fazer muito sentido, o que explica
o grande número de votos em branco. As eleições de 1986 significaram não
só a derrota eleitoral dos candidatos ideológicos e programáticos, que tentaram
basear sua campanha na problemática da Assembléia Constituinte, como também
dos partidos que pretenderam a uma definição ideológica mais clara - o Partido
Socialista, o Partido dos Trabalhadores e os partidos comunistas. As eleições
de 1988, apesar da eleição de Luisa Erundina em São Paulo e outros candidatos
de esquerda, não dsconfirma esta generalização, que foi apenas mascarada
pelo voto de protesto. Em 1989 este voto deverá ir novamente contra o governo,
tanto a nível federal quanto estadual; quem polarizará este voto, no entanto,
é menos uma questão de ideologia do que de capacidade de manipulação dos
meios de comunicação de massas, e de formação e transmissão de imagem.
O que esta análise suscinta revela é que a "maturidade do povo", tanto quanto
sua hipotética sabedoria e bondade naturais, estão longe de proporcionar
uma base sólida para a constituição de uma nova ordem democrática. Na realidade,
o exemplo de outros países que lograram um sistema político-eleitoral estável
revela que a questão fundamental não é a da "maturidade" do povo, mas a
da natureza das instituições sociais, governamentais e partidárias existentes.
Se estas instituições são bem constituídas e autônomas, elas conseguem traduzir
as preferências eleitorais em mandatos políticos legítimos e regimes políticos
responsáveis. O problema principal com os estados de base neo-patrimonial
não é que eles mantêm o povo em situação dependente e alienada, mas, principalmente,
que todas as formas de organização social que eles geram tendem a ser dependentes
do poder público e orientadas para a obtenção de seus favores. O simples
transbordamento das estruturas de dominação mais tradicionais, e a criação
de novas formas de organização política e social, não garante que este padrão
de comportamento não vá se reproduzir.
VIII
Em última análise, se o Estado é todo-poderoso, nada mais racional do que
buscar seus favores e proteção. A crise atual do Estado patrimonial brasileiro,
no entanto, revela que ele parece ter cada vez menos capacidade de atender
às demandas que lhe são feitas, ou os interesses dos grupos que dele participam
ou a ele se associam. Para usar uma expressão da moda, o Estado brasileiro
enfrenta o problema da "ingovernabilidade" do país. A maneira mais simples
de caracterizar esta ingovernabilidade é pensar que ela se coloca quando
se dão simultaneamente duas condições; primeiro, o volume de demandas e
expectativas que se dirigem ao Estado supera sua capacidade de atendê-los;
e, segundo, quando o Estado não dispõe de força, legitimidade e competência
técnica suficientes para hierarquizar estas demandas, postergá-las ou suprimí-las.
A primeira destas condições é comum a quase todos os países, e surge na
Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, na forma da crise do "Welfare
State". A segunda, no entanto, nos atinge de maneira mais grave, ainda que
não somente a nós. Esta situação foi descrita para a França de 20 anos atrás
como a de uma "sociedade bloqueada", ocupada por grupos de interesse organizados
ao longo de toda a estrutura social, e que tornam os governos imóveis e
incapazes de agir. Em certo sentido, as sociedades bloqueadas são a culminação
das sociedades corporativas, quando as corporações deixam de ser as partes
manipuladas de um todo comandado de cima, e tratam, a partir da perspectiva
de cada uma, comandar o todo deste baixo, sem conseguir, ou mesmo pretender,
exergá-lo em seu conjunto. É disto, aparentemente, que estamos nos aproximando.
"Sociedades bloqueadas" não são, simplesmente, aquelas em que os mais ricos
detêm o poder, e exploram os mais pobres. Elas ocorrem, possivelmente com
mais força ainda, quando existem interesses organizados e poderosos em todos
os níveis, dos donos das fábricas aos sindicatos, dos partidos políticos
às associações de bairro, dos sindicatos de professores à academia de ciências,
das corporações profissionais às universidades, dos bancos aos fazendeiros,
do poder legislativo ao executivo e ao judiciário. Isto não significa, obviamente,
que estas sociedades sejam igualitárias. O que significa é que cada setor
tem seu pedaço de poder, seus direitos adquiridos, seus pequenos ou grandes
privilégios (conquistados muitas vezes de forma árdua e prolongada), e não
estão dispostos a abandoná-los. O bloqueio atinge seu ponto máximo quando
os privilégios e as conquistas de cada um são transformados em direitos,
escritos em lei, e garantidos pela rotina do judiciário.
Sociedades bloqueadas na riqueza são pesadas, pouco inovadoras, lentas,
mas relativamente prósperas, harmônicas e não conflitivas. Disputas, quando
ocorrem, são na negociação de ajustes e acertos marginais; conflitos, quando
surgem, são contra os jovens, os estrangeiros ou radicais que perturbam
a ordem tão penosamente conquistada, trazendo a ameaça do desconhecido.
Este bloqueio, comum a quase todos os países da Europa, e incluindo os do
lado oriental, começou a se desfazer com a crise do Welfare State e a ameaça
da obsolescência tecnológica e industrial, ao qual se somou a impaciência
das novas gerações com o apego de seus pais às seguranças do passado. Apesar
dos custos e dificuldades evidentes, chama a atenção, na Europa, o ímpeto
com que ocorre este desbloqueio, tanto através de lideranças políticas marcantes,
de Tatcher a Gorbachev, quanto pelo surgimento de novas modalidades de estilo
de vida e ação social, e quanto, finalmente, por um movimento aparentemente
irresistível no sentido da integração e cooperação supra-nacional.
O Brasil do final da década de 80, no entanto, parece estar sendo bloqueado
na pobreza. Já existem suficientes interesses criados e estruturados para
paralisar a ação do Estado, reverter decisões e imobilizar governantes.
Que estes interesses se mobilizem na forma de "lobbies" que operam às escondidas,
"anéis burocráticos" que vinculam órgãos de governo a interesses privados,
funcionários ou empregados de grandes empresas que fazem greve e paralisam
a vida das cidades ou funcionários que conseguem equiparações salariais,
promoções e estabilidade na justiça do trabalho; que eles venham cercados
de ideologias deste ou daquele tipo, ou simplesmente se apresentem na nudeza
do que são é menos importante do que eles significam enquanto implantação
de bloqueios que impedem qualquer política pública de longo prazo, e diminuem
progressivamente a capacidade de ação do Estado.
Levada a suas últimas conseqüências, esta ingovernabilidade pode vir a significar
o colapso do Estado neo-patrimonial tal como o conhecemos, e a conseqüente
destruição de todas as formas de dependência que a sociedade civil tem desenvolvido
em relação a ele, a um custo social certamente muito alto. Esta situação
limite dificilmente se colocaria, no entanto, já que o potencial repressivo
de que o Estado dispõe tenderia a se manifestar muito antes que um colapso
deste tipo se materializasse. A "ingovernabilidade" não é uma situação absoluta
e extrema, mas pode se manifestar em graus e formas distintas, e países
podem muito bem deslizar lentamente pela rampa inclinada do desgoverno sem
maiores convulsões; é o que mostra o exemplo da Argentina nos últimos anos,
assim como o de outros países latinoamericanos.
Os anos de regime militar serviram para mostrar que a ingovernabilidade
não se resolve, simplesmente, pela força. Ela afeta com freqüência os regimes
fortes, fechados e imunes aos controles da imprensa, da opinião pública
e dos partidos políticos. O que a democratização mostra é que ela não basta
para que a governabilidade seja instaurada. A experiência dos poucos anos
da Nova República já mostra como algumas decisões e ações são certamente
mais fáceis do que outras. Decisões grandiosas e de grande impacto, quando
possíveis, são sempre as preferidas (veja o plano cruzado). Políticas setoriais
e de longo prazo, no outro extremo, são quase impossíveis, pela paralisação
provocada pelo trabalho continuado de interesses contrariados (reforma agrária,
eliminação dos subsídios agrícolas, reforma administrativa, os próprios
ajustes do plano cruzado). Ações aparentemente "técnicas", de pouca visibilidade
pública, são em princípio mais fáceis de serem conduzidas. Mas, freqüentemente,
seu caráter técnico significa também que estas ações se subtraem facilmente
ao controle político, e são suscetíveis à influencia de grupos de interesse
especializados (decisões sobre mercado financeiro, políticas de exportação,
subsídios, política nuclear, incentivos fiscais, etc.)
Pareceria que o principal ingrediente para o rompimento do bloqueio é a
legitimidade política, e daí a importância dos processos eleitorais, onde
lideranças podem surgir e se afirmar. Os mecanismos produzem votos geralmente
não são, entretanto, aqueles que produzem os instrumentos adequados de governo,
que incluem o uso adequado da competência técnica e o exercício pleno de
autoridade decisória.
O desenvolvimento de graus mais altos de governabilidade em um contexto
de legitimidade política depende, tanto quanto a construção de uma ordem
democrática estável, da constituição de uma série de instituições estáveis
e auto-referidas que intermediem entre, por um lado, a opinião pública amorfa
e manipulável e os interesses privados e setoriais capazes de mobilizá-la,
e, por outro, o Estado. Estas instituições são necessárias não somente do
lado da "sociedade civil", como os partidos políticos, os meios de comunicação
de massas, as associações profissionais e sindicais, os grupos de interesse
organizado, etc., como também do lado do Estado, através da constituição
de um funcionalismo público motivado e cioso de suas responsabilidades,
de um judiciário zeloso de sua competência e independência, e assim por
diante. O problema é fazer com que estas instituições, indispensáveis ao
funcionamento adequado de qualquer sociedade moderna, não se esclerosem
antes do tempo, prisioneiras de suas primeiras conquistas, e se transformem
em instrumento de paralisia para o que venha depois. São as lideranças políticas
que podem, pelo menos em princípio, impedir que isto ocorra, pelo uso de
mandatos que transcendem os interesses particulares, e que possam encarnar
uma perspectiva de conjunto e de longo prazo, sem cair, seja no populismo
que tudo destrói, seja na demagogia da defesa impensada de todos os interesses
que falem mais alto. Infelizmente, nada nos garante, a não ser sua necessidade
dolorosa, que lideranças deste tipo venham a surgir pelo processo tortuoso
que são nossas disputas eleitorais.
É de se esperar que estas novas formas de institucionalização surjam e se
desenvolvam não pela simples boa intenção de algumas pessoas, mas pela própria
lógica de interesses dos grupos envolvidos, na medida em que eles comecem
a sentir a precariedade de sua dependência exclusiva dos favores e privilégios
de um Estado neo-patrimonial em crise. O resultado final deste processo,
se ele for bem sucedido, não será, possivelmente, um Estado controlado pela
"sociedade civil", mas uma situação em que instituições públicas solidamente
constituídas possam colocar freios e contrapesos efetivos tanto à volatilidade
da opinião pública quanto ao abuso de poder do Estado e dos interesses privados.
A opinião pública, os grupos de interesse e o poder político do Estado serão
também essenciais, neste contexto ideal, para manter sempre em cheque as
tendências paralisadoras e conservadoras de qualquer sistema social que
se institucionaliza. Nestas condições, as fronteiras usuais entre "público",
"privado", "Estado" e "sociedade" estarão profundamente alterados, assim
como os conceitos que hoje utilizamos para seu entendimento.
IX
Vislumbrar a possibilidade de um encaminhamento adequado para os problemas
políticos e institucionais do país não é o mesmo que afirmar que este caminho
será seguido, e nem mesmo que ele é o mais provável. Se este caminho vier
a ser efetivamente trilhado existem uma série de questões e dilemas a serem
enfrentados, dois dos quais merecem uma atenção especial, e servirão para
concluir este texto.
Uma questão que se coloca com intensidade é a dos mecanismos de inclusão
ou exclusão dos setores hoje marginalizados do "Brasil moderno" em relação
a sociedade futura que se pretende construir. Esta questão é por vezes colocada
em termos de uma oposição entre um modelo de desenvolvimento internacionalizado,
baseado no fluxo relativamente aberto de idéias, pessoas e mercadorias do
Brasil com o resto do mundo, e um modelo mais autárquico, fechado e, presumivelmente,
mais autêntico e nacional. O que dá argumentos à segunda posição é a constatação
de que o desenvolvimento do "Brasil moderno" tem se caracterizado pela exclusão
de grandes setores da população, afetando particularmente as regiões nordestinas,
o interior e a população de cor. No seu extremo, esta posição vem acompanhada
de um rechaço generalizado à civilização ocidental e seus valores de eficiência,
racionalidade, e individualidade, é sua substituição por valores supostamente
mais autênticos de identidade étnica e cultural, afetividade, e coletividade.
Não falta, nesta perspectiva, os que sustentam que o Brasil possui os elementos
de uma civilização superior à do racionalismo e materialismo ocidentais,
que estaria tão somente mascarada pelas manipulações das classes dominantes
e seus aliados internacionais.
Quem conhece algo da história do Brasil sabe, no entanto, que não possuímos
no passado um modelo de civilização próprio e mais autêntico para o qual
possamos aspirar a retornar. Desde sua criação este país tem sido um complemento
- e, freqüentemente, uma imagem retorcida - dos impérios coloniais e dos
centros mundiais cujas influências culturais e interesses econômicos até
aqui chegaram. A busca de um passado idealizado, apesar de provavelmente
irrealista e ilusória em todos os casos, pode fazer algum sentido em países
com uma história distinta, e uma cultura não ocidental identificável. Isto
não significa, evidentemente, que não existam especifidades culturais próprias
do país que não tenham valor e não possam florescer. Mas esta especificidade,
para florescer e adquirir valor universal, há de residir nas maneiras próprias
que os brasileiros construirão para se inserir no mundo moderno, e não no
retorno nostálgico a formas culturais de um passado que não chegou a existir.
Assinalar o beco sem saída do nacionalismo cultural não significa ignorar
a gravidade dos problemas de incorporação assinalados acima. O que é importante
frisar em relação a esta discussão sobre a cultura brasileira é menos a
solidez das teses nacionalistas e isolacionistas - que é quase inexistente
- do que seu potencial de criação de formas explosivas de nacionalismo populista,
em um contexto de altos níveis de exclusão social causados por uma internacionalização
da cultura e da economia caracterizada pelo uso de tecnologias complexas
e em qualificações educacionais cada vez mais elevadas.
Esta discussão traz à tona uma questão que permaneceu latente até aqui,
e que não ocupa o primeiro plano no próprio livro: a da dependência do Brasil
em relação aos centros do capitalismo internacional contemporâneo. As chamadas
"teorias da dependência", que existem de muitas formas, partem de um fato
importante e conhecido - que países como o Brasil se constituíram, desde
suas origens, como dependências de outros centros - para chegar muitas vezes
a duas conclusões pelo menos paradoxais. A primeira é a de que o peso da
dependência é tal que nada pode ser entendido em um país como o nosso a
não ser a partir de sua inserção ao contexto externo. Em sua forma mais
extremada, a teoria da dependência assume feição claramente paranóica: países
como o Brasil são uma tragédia só, e tudo isto por culpa única e exclusiva
"deles". O que pretendemos mostrar, ao contrário, é que a dependência não
exclui o fato de existir uma realidade própria, especifica e interna ao
país, que não se esgota nem se exaure nas relações com os centros capitalistas
mais desenvolvidos. A outra conclusão paradoxal, que decorre da primeira,
é a de que todos os problemas poderiam ser resolvidos pela superação das
relações de dependência. Mas se, de fato, a dependência é tão constitutiva,
fica difícil imaginar de onde o país encontrará forças e recursos para superá-la.
Se, ao contrário, entendermos que a realidade de um país com a complexidade
do Brasil não se esgota nas suas relações externas, isto nos dá condições
de pensar nas coisas que podemos fazer com nossos recursos, ter uma visão
menos persecutória do mundo que nos cerca e, a partir daí, ter elementos
para buscar reverter as situações de dependência que nos pareçam inadequadas.
X
A conclusão geral de tudo o que foi dito até aqui é que o autoritarismo
e neo-patrimonialismo brasileiros, cujas bases se erguem a partir da própria
formação inicial do Brasil como colônia portuguesa, e que evolui a se transforma
ao longo de nossa história, não constitui um traço congênito e insuperável
de nossa nacionalidade, mas é certamente um condicionante poderoso em relação
a nosso presente e futuro como país. A complexidade das questões envolvidas
nesta discussão deve ser suficiente para deixar claro que, na realidade,
termos como "corporativismo", "autoritarismo" ou "patrimonialismo" são pouco
mais do que expressões de conveniência que utilizamos para nos referir a
uma realidade cheia de contradições e contra-exemplos, onde, no entanto,
um certo padrão parece predominar: o de um Estado hipertrofiado, burocratizado
e ineficiente, ligado simbioticamente a uma sociedade debilitada, dependente,
alienada e bloqueada. É da superação deste padrão histórico e suas conseqüências
que depende nosso futuro. E como o passado é contraditório e o futuro aberto
e pronto para ser construído, é sempre possível ser otimista.
Rio-São Paulo, maio de 1989.
<