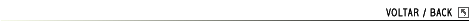
Gustavo Capanema
e a Educação Brasileira Simon Schwartzman
Texto preparado para o Seminário "Gustavo Capanema:
Política, Educação e Cultura", organizado pela Secretaria de Estado
da Cultura de Minas Gerais, com o apoio do Ministério da Educação e do Departamento
de História da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, e 8
de agosto de 2000.
O ano 2000 foi antecipado de grandes expectativas sobre comemorações: além
do novo milênio que se aproximava, o Brasil também faria quinhentos anos,
e, dentro do mesmo clima, Minas Gerais comemoraria o centenário de Gustavo
Capanema. É possivel que a festa do milênio tenha correspondido às expectativas,
com a profusão de fogos e as multidões vestidas de branco nas praias do
Rio de Janeiro. As comemorações dos quinhentos anos, no entanto, foram no
mínimo um anti-clímax, e isto nos leva a refletir um pouco melhor sobre
o sentido que pode ter esta outra comemoração da qual participamos hoje,
relacionada com a política, a educação, a cultura, e a personalidade de
Gustavo Capanema, em Minas Gerais.
Existem pelo menos duas maneiras de fazermos uma comemoração. A primeira,
mais tradicional, é parecida com as homenagens que são prestadas nos velórios
e nos obituários. Nestas ocasiões, enaltecemos as qualidades do falecido,
ignorando seus defeitos ou debilidades, e tratamos de tirar, de sua biografia
e de sua lembrança, aquilo que mais valorize sua memória para os que com
ele conviveram, e que sirva de exemplo e modelo para as gerações futuras.
Foi o que se tentou fazer na comemoração dos quinhentos anos, e não poderia
dar certo: comemorar a descoberta, as caravelas, as raças da nacionalidade,
porquê me ufano do Brasil. Não poderia dar certo, porque o Brasil continua
vivo, com suas contradições, qualidades e defeitos, e um presente e futuro
que está marcado não só pelas qualidades, mas também pelos problemas e pela
maneira peculiar que foi sua história, que não precisa ser enaltecida, e
sim entendida e interpretada.
Esta é outra forma de comemoração, que creio ser adequada para este centenário
de Capanema. Do ponto de vista pessoal, de seus familiares e descendentes,
cabe sem dúvida uma homenagem póstuma para alguém que já não está entre
nós, e cuja lembrança merece ser enaltecida. Os temas da cultura, da educação
e da política, no entanto, estão bem vivos, não são temas do passado, mas
do presente e do futuro. Precisamos olhar o passado para entender como chegamos
até aqui, que possibilidades temos pela frente, e é nesta perspectiva que
a comemoração de um centenário poder fazer sentido.
Aonde estamos hoje, em temos de educação? Só agora, na virada do milênio,
mais de meio século após a saída de Capanema do Ministério da Educação,
é que o país pode dizer que tem lugar em escolas para todas as crianças,
mas ainda não pode dizer que escolas são estas, e o que estas crianças aprendem.
A educação básica foi ampliada de quatro para oito anos, mas temos sérias
dúvidas se, nestes oito anos, as crianças aprendem de fato o dobro do que
deviam aprender no antigo primário. A educação secundária se expande rapidamente,
mas de forma preocupante. Quase todos os cursos são noturnos, metade dos
alunos são adultos, a maioria trabalha enquanto estuda, e ninguém sabe se
o que se ensina nas escolas tem algum vínculo significativo com a vida real.
Muitos destes alunos abandonam o curso pelo meio; uns poucos se formam,
e entram em cursos superiores de algum tipo. Não existe, praticamente, ensino
profissional, nem em nível médio, nem em nível pós-secundário, em quantidade
e qualidade suficientes para a grande maioria de estudantes que precisariam
dele. O ensino superior continua restrito a uma parcela pequena da população,
menos de 10% dos jovens. Uma pequena parte deste ensino é pública, de boa
qualidade, e ainda por cima gratuito, mas de difícil acesso a quem não teve
uma educação secundária de elite. A maior parte é privada, de qualidade
duvidosa, e custa caro. Algumas universidades e faculdades públicas dão
cursos de pós-graduação bastante razoáveis, e a pesquisa científica de alguns
centros tem nível e qualidade internacionais.
É possível descrever tudo isto em uma simples frase: o Brasil tem um sistema
de educação de elite financiado com recursos públicos pelo Estado. No passado,
era fácil ver isto, quando o antigo Ginásio Mineiro, ou Colégio Estadual
de Minas Gerais, ou o Colégio D. Pedro II, no Rio de Janeiro, ofereciam
educação de qualidade para os filhos das elites, as faculdades de direito,
engenharia e medicina lhes davam os títulos e bacharel e de doutor, e a
grande maioria da população permanecia analfabeta. Hoje a cobertura é maior,
o analfabetismo está desaparecendo, e, mesmo nas universidades públicas
uma parte significativa dos estudantes vêm de famílias mais pobres, com
pouca ou nenhuma tradição de cultura e educação. O elitismo se mantém, no
entanto, em dois aspectos fundamentais. Primeiro, na persistência um modelo
educacional que parte de normas e conteúdos estabelecidos centralmente,
que só são de fato acessíveis para uma pequena parcela da população, e que
depois são reproduzidos, de forma cada vez mais imperfeita e vazia de conteúdos,
para os demais. E, segundo, por um sistema de subsídios que beneficia as
classes médias e altas, sobretudo no ensino superior, em detrimento das
populações menos favorecidas.
Como chegamos até aqui? Que papel teve Gustavo Capanema na montagem deste
sistema educacional?
A tradição brasileira, desde o Império, sempre foi a de que o governo central
se preocupava com a educação superior e a ciência, deixando para a Igreja,
para as províncias, e principalmente para ninguém, a educação da população.
Ao final do século XIX, quando muitos países da Europa haviam conseguido
universalizar a educação básica, o Brasil criava novas faculdades de engenharia
e medicina, o Instituto Maninhos adquiria prestígio internacional, mas a
população continuava analfabeta.
Quando Capanema assume o Ministério da Educação em 1934 o Brasil continuava
um país de analfabetos, mas o tema da educação pública já começava a preocupar.
O Ministério da Educação havia sido criado em 1931, e em março de 1932 foi
divulgado o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova", redigido
por Fernando de Azevedo, que fazia referência ao "movimento de reconstrução
educacional, com que, reagindo contra o empirismo dominante, pretendeu um
grupo de educadores, nestes últimos doze anos, transferir do terreno administrativo
para os planos político-sociais a solução dos problemas escolares."
O Manifesto argumentava que o Brasil estava avançando economicamente, mas
que a educação estava ficando para trás. Defendia uma "educação nova
que, certamente pragmática, se propõe ao fim de servir não aos interesses
de classes, mas aos interesses do indivíduo, e que se funda sobre o princípio
da vinculação da escola com o meio social, tem o seu ideal condicionado
pela vida social atual, mas profundamente humano, de solidariedade, de serviço
social e cooperação." E afirmava que "a laicidade, gratuidade,
obrigatoriedade e co-educação são outros tantos princípios em que assenta
a escola unificada e que decorrem tanto da subordinação à finalidade biológica
da educação de todos os fins particulares e parciais (de classes, grupos
ou crenças), como do reconhecimento do direito biológico que cada ser humano
tem à educação." O Manifesto defendia a criação de um fundo público
para a educação que financiasse as escolas em todo o país, de forma descentralizada,
mas atendendo a um núcleo comum de conhecimentos para a educação até os
15 anos, com forte diferenciação profissional a partir daí, e uma universidade
onde o ensino e a pesquisa ocorressem de forma inseparável.
Não há dúvida que é o Manifesto dos Pioneiros, e a atuação de seus signatários,
que vão marcar a evolução da educação brasileira nas décadas seguintes.
É o Manifesto também que define o conjunto de idéias que serão utilizadas
ou rechaçadas por Capanema ao longo de seus onze anos de Ministério. A contribuição
principal de Capanema na área de educação talvez tenha sido a de manter
esta agenda presente no governo federal ao longo dos anos subsequentes.
No entanto, não é possível dizer, antes pelo contrário, que Capanema tenha
sido um adepto fiel das idéias e propostas dos pioneiros.
O Manifesto não revela isto, mas sabemos que os movimentos educacionais
dos anos 20 e 30 foram marcados por profundos conflitos ideológicos, onde
a Igreja Católica e seus representantes leigos jogaram um papel fundamental.
Tradicionalmente, em todas partes, a aprendizagem das primeiras letras sempre
esteve associada ao ensino da religião, e não é por acaso que judeus e protestantes,
para os quais a leitura da Bíblia é obrigatória, não conheçam o analfabetismo.
A Igreja Católica também sempre se preocupou muito com a educação, sobretudo
para garantir o conteúdo da formação ética, humanista e religiosa das elites
dirigentes dos países aonde está presente. Na França, o Estado assumiu para
si a função educativa, das massas e das elites, e estabeleceu-se um grande
conflito entre os ideais da educação leiga e da educação religiosa, que
se traduziu em termos de educação pública, dirigida e supervisionada pelo
Estado, e educação privada, de responsabilidade das famílias e sob influência
da Igreja.
No Brasil dos anos de Capanema, o conflito não era entre a educação pública
e a privada, mas sim entre a educação leiga, proposta pelo Manifesto dos
Pioneiros, e uma educação com conteúdo e orientação religiosos. Para a Igreja
Católica da época, a terminologia sociológica do Manifesto, que dizia que
a educação era uma ciência, que propunha uma "escola socializada",
pragmática e vinculada à vida do trabalho, que substituísse a estrutura
tradicional de classes por uma sociedade meritocrática, e que fosse pública,
leiga, universal e co-educacional, soava como puro bolchevismo. Anísio Teixeira,
formado em um país protestante, os Estados Unidos, sob a influência do pragmatismo
pedagógico de John Dewey, era o mais perigoso entre todos. A co-educação,
juntando meninos e meninas e ameaçando o papel tradicional da mulher na
família, era inaceitável.
Neste conflito, Capanema pendia para o lado da Igreja conservadora, seja
por convicção, seja por fidelidade ao pacto que havia sido estabelecido
pouco antes entre a Igreja e o Estado Novo, inspirado por Francisco Campos,
que teve seu apogeu com a inauguração da estátua do Cristo Redentor no Rio
de Janeiro,e cujo elemento mais visível, na área da educação, foi a introdução
do ensino religioso nas escolas públicas, rompendo décadas de separação
entre a Igreja e o Estado. A maior parte do trabalho do Ministério Capanema
na área da educação se dá nos níveis médio e superior. Para o ensino médio,
que naqueles anos começava com o antigo ginásio, que recebia crianças a
partir de 10 anos, o Ministério busca na Itália o modelo para um currículo
enciclopedista, centralizado e convencional, baseado na aprendizagem formal
e abstrata das ciências e das letras, que consolidava a natureza elitista
e classista da educação, e uma pedagogia "de fora para dentro",
e não a partir da vivência do mundo do trabalho e da vida em comunidade,
que o Manifesto dos Pioneiros havia tão bem criticado. No ensino superior,
a principal atividade do Ministério parece se concentrar nas negociações
e projetos para a construção dos prédios da cidade universitária do Rio
de Janeiro, e na elaboração detalhada e minuciosa dos currículos dos diferentes
cursos e carreiras a serem proporcionados pela Universidade do Brasil, que
deveria ser imposta como modelo e forma para as demais instituições de ensino
superior, incluindo a Universidade de São Paulo, que havia se estabelecido
de forma independente em 1934, com a participação ativa de Fernando de Azevedo.
A partir de 1935, o autoritarismo do regime Vargas se acentua, e Capanema
toma a iniciativa de fechar a Universidade do Distrito Federal, liderada
por Anísio Teixeira, assim como de sufocar as tentativas dos imigrantes
do Sul em manter suas próprias escolas e educar seus filhos na língua materna.
É nesta época também que Capanema prepara, sob a influência de Alceu Amoroso
Lima, o projeto de um "Estatuto da Família" extremamente retrógrado,
que pretendia proibir o trabalho feminino, restringir a co-educação, e exercer
forte censura sobre todos os meios de comunicação, para impedir que idéias
e informações que pudessem ameaçar o papel tradicional da mulher na família,
e sua função reprodutiva, circulassem no Brasil.
Ainda que nem sempre lembradas, estas divergências ideológicas do Ministério
Capanema com o Manifesto dos Pioneiros são mais conhecidas do que outras,
mais sutis, mas de conseqüências e impactos possivelmente muito mais duradouros.
Um dos objetivos centrais dos pioneiros era retirar a educação da rotina
administrativa quotidiana dos governos, e fazer dela uma atividade autônoma
e descentralizada - " transferir do terreno administrativo para os
planos político-sociais a solução dos problemas escolares", como consta
do trecho já citado. O principal argumento, que hoje parece excessivamente
em causa própria, era que a educação era uma ciência, e que por isto as
instituições educacionais deveriam ser dirigidas pelos especialistas em
educação. Mas havia, também, certa familiaridade com a experiência americana,
aonde as escolas mantinham fortes raízes comunitárias e locais, assim como
com as noções de autonomia acadêmica e liberdade de pesquisa que eram típicos
das principais universidades em todo o mundo.
Nada disto fazia sentido para Vargas e seus Ministros, voltados todos para
a preservação e fortalecimento do poder e da autoridade do governo central.
Ao invés de um sistema educacional aberto, descentralizado e plural, evoluímos
para um sistema cada vez mais uniforme, centralizado, rígido e pouco criativo.
É certo que o governo federal nunca chegou a assumir a administração direta
da educação básica, que ficou sempre nas mãos dos Estados. Mas o governo
federal manteve sempre a pretensão de cuidar dos conteúdos do que era ensinado
em todo o país, e os Estados, na mesma tradição centralista, criaram enormes
burocracias públicas para administrar suas escolas, impedindo que os ideais
de uma escola realmente comunitária, vinculada ao mundo da vida e do trabalho
das crianças de dos jovens, pudesse vicejar.
Hoje temos consciência desta situação, e a nossa principal lei educacional,
a Lei de Diretrizes e Bases, abre espaço para iniciativas e experimentos
que antes eram impensáveis, da mesma forma em que as reformas administrativas
abrem espaço para novos formatos organizacionais e institucionais. O maior
obstáculo para a melhoria da educação brasileira hoje, além das limitações
conhecidas da falta de recursos, não são mais as leis, mas os mau hábitos
adquiridos ao longo de tantos anos, e que custarão a desaparecer.
Chamar a atenção para estas questões, reabrir a discussão sobre os grandes
dilemas da educação brasileira, tratar de entender suas origens, esta me
parece ser a melhor homenagem que podemos prestar hoje à memória de Gustavo
Capanema. Independente das decisões e opções que ele tenha feito em algum
momento, por razões próprias da época e das influências sobre as quais viveu,
Capanema tinha um interesse e um envolvimento sincero com as questões da
educação e da cultura, e nada o alegraria mais, estou seguro, do que saber
que a documentação tão rica que nos legou pode estar ajudando a compreender
melhor nossa herança, e levar a educação brasileira a um novo patamar de
qualidade e desempenho.
<