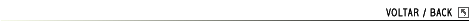
Desempenho
das Unidades de Pesquisa: Ponto para as Universidades Simon
Schwarzman
(publicado na Revista Brasileira de Tecnologia,
vol. 16, nº 2, Março/Abril de 1985, pp. 54-60.)
Sumário:
Introdução
1. Pesquisa universitária e não universitária: qual a prioridade?
2. As motivações para a ação
3. Efetividade e orientações de pesquisa: o papel de instituições,
áreas de conhecimento e localização geográfica
4. As diferenças organizacionais
5. O desempenho individual
Referências
Introdução
A pesquisa cientifica e tecnológica é, cada vez mais, o produto do trabalho
de grupos. No entanto, as análises existentes sobre a atividade cientifica
tendem, em geral, a se preocupar com o pesquisador individual, em um extremo,
ou com os sistemas nacionais de ciência e tecnologia no outro. Foi para
corrigir esta tendência que a Unesco deu inicio, há cerca de 10 anos, a
um estudo comparado internacional sobre a organização e desempenho de unidades
de pesquisa cientifica e tecnológica, considerando como "unidade de
pesquisa" um grupo mínimo formado por um pesquisador "senior"
e pelo menos dois assistentes ou técnicos, desenvolvendo um ou mais projetos,
e com a duração de pelo menos um ano. É claro que nem toda a pesquisa cientifica
se dá em unidades deste tipo; no entanto, esta definição tem sido suficiente
para que informações comparáveis sejam colhidas em muitos países e áreas
de conhecimento, permitindo uma visão até então inexistente sobre a maneira
pela qual a atividade de pesquisa vem de fato se dando.
No Brasil, este estudo foi realizado através de uma amostra representativa
de 288 unidades de pesquisa cobrindo os principais estados da federação
(Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Brasília) e áreas de conhecimento (ciências biológicas, tecnológicas,
exatas, médicas e agrícolas) excetuando as ciências sociais e as humanidades
(exclusão que se explica pelo fato de que estas últimas satisfazem pouco
ao conceito de "unidade de pesquisa" adotado pela Unesco).
A seleção desta amostra exigiu um levantamento bastante exaustivo do universo
de "unidades de pesquisa" existentes no pais, que confirmou o
fato de que a pesquisa está fortemente concentrada nas universidades. Além
disto, o estudo mostrou que existem profundas diferenças entre a pesquisa
universitária e a que se realiza em outros tipos de instituição; mas estas
diferenças nem sempre são aquelas que se imagina.
1. Pesquisa universitária e não universitária:
qual a prioridade?
Esta pesquisa permitiu estimar que no Brasil, em 1983, havia um total de
aproximadamente 5 mil unidades de pesquisa cientifica que satisfaziam a
definição da Unesco, nas regiões e áreas de conhecimento pesquisadas. Destas,
60% estavam localizadas em instituições universitárias, 32% em institutos
de pesquisa governamentais não universitários, e 8% em empresas orientadas
para a produção, públicas ou privadas (mas, em sua maior parte, estatais).
(Para os detalhes do projeto, ver os documentos de trabalho do IUPERJ sobre
o projeto ICSOPRU, 1984 e 1984a; para os dados utilizados na análise, ver
S. Schwartzman, 1984). Esta concentração de unidades de pesquisa no sistema
universitário não se faz acompanhar, no entanto, da mesma proporção de investimentos
públicos. Existem alguns dados que, apesar de imperfeitos, permitem alguma
idéia da magnitude destes recursos. Os dados publicados indicam que o orçamento
federal para a ciência e tecnologia em 1980 era de aproximadamente 351 milhões
de dólares, ou 2,1% do orçamento total. Para 1982 o valor era de 862 milhões,
ou 3.6%. (Os dados orçamentários federais, estaduais e das empresas estatais
se encontram nas publicações da Presidência da República/SEPLAN/CNPq indicadas
na bibliografia).
Estes dados são meramente contábeis, e a inclusão de um item determinado
na categoria de " ciência e tecnologia" não significa necessariamente
que os recursos tiveram esta destinação. De fato, uma boa parte do aumento
de 1982 a 1983 pode ser atribuido a simples mudanças nos procedimentos contábeis.
Há um aumento de 27% em valores corrigidos de 1982 a 1983, elevando o total
para mais de um bilhão de dólares, ou 4,2% do orçamento. Este aumento se
deve, no entanto, às chamadas "atividades cientificas e técnicas correlatas"
(entre 30 e 40% do total), e mais especificamente à inclusão dos gastos
do programa nuclear no orçamento de ciência e tecnologia. Além disto, sabemos
que existem muitas diferenças entre o que é orçado e o que é efetivamente
gasto cada ano. Finalmente, existem outras fontes de financiamento para
a pesquisa cientifica e tecnológica, além do orçamento federal, incluindo
os orçamentos das grandes empresas estatais (que serão considerados mais
abaixo) e o dos estados. A consolidação das informações estaduais feita
pelo CNPq permite estimar um total de 254 milhões de dólares para 1980,
e 326 milhões para 1982, cerca de 1,8% dos orçamentos estaduais. Mais da
metade destes recursos, no entanto, são dedicados a atividades correlatas
à pesquisa (informação em C&T, extensão rural, administração geral,
etc.).
Com estas limitações em mente, podemos notar que a agencia federal com o
maior orçamento de P&D no ano de 1982 foi o Ministério da Agricultura,
com 265 milhões de dólares, seguido do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico (CNPq) com 111 milhões. Abaixo vinham o Ministério
da Educação e Cultura (106 milhões), Minas e Energia (96 milhões), e finalmente
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), administrado
pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, com 64 milhões. As seis
maiores empresas estatais tinham, em seu conjunto, um orçamento de 155 milhões
de dólares para 1982.
Quanto deste dinheiro era destinado para a pesquisa universitária? Em principio,
unidades de pesquisa universitária podem receber auxílios do CNPq, do FNDCT,
através da FINEP, do Ministério da Educação, e, por contratos de pesquisa,
das demais agências. Sabemos, no entanto, que mais da metade dos recursos
do CNPq são gastos com seus próprios institutos ou com sua própria administração
(em 1982 somente 47,1% de seus recursos foram gastos em atividades definidas
como de "fomento"). Do orçamento da Embrapa para 1982, 142 milhões
de dólares, 30 milhões foram para "administração e coordenação",
47 milhões para "fortalecimento da pesquisa agropecuária" e 65
milhões para pesquisa, realizada principalmente por seus próprios núcleos.
Quanto ao FNDCT, sabemos que seus recursos são amplamente utilizados para
o apoio a institutos não universitários de pesquisa.
Podemos os supor, para efeito de raciocínio, que metade dos recursos do
FNDCT, metade dos recursos do CNPq e todos os recursos de P&D do Ministério
da Educação se destinam à pesquisa universitária. Obtemos, assim, um total
de 266 milhões de dólares para 1982, o que representa cerca de um terço
do total dos gastos federais em P&D, ou um quarto se incluímos neste
total os gastos das estatais. Isto significa que, em média, o governo federal
gastou em 1982 90 mil dólares por unidade de pesquisa nas universidades,
380 mil dólares por unidades em institutos não universitários, e 596 mil
dólares por unidades em empresas. Os dados por pesquisador são, respectivamente,
14, 80 e 135 mil dólares "per capita"
Assim, ainda que a pesquisa esteja fortemente concentrada nas universidades,
a ênfase, em termos de financiamento, tem sido posta em outros tipos de
instituição. Isto se explica, em certa medida, pelo fato de que os trabalhos
de desenvolvimento experimental, que são geralmente os mais caros, tendem
a se realizar fora das universidades. Mas significa que as agências responsáveis
pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia do país não crêem que a
pesquisa universitária seja capaz de responder com eficiência às suas orientações,
e preferem colocar seus recursos em outros tipos de instituição.
Além de mais numerosas, as unidades de pesquisa universitária são também
as mais qualificadas, pelo menos formalmente. A pesquisa mostra que 78%
dos líderes nestas unidades possuem doutorado completo, contra 30% nas unidades
em institutos e 6% nas unidades em companhias. Entre os demais pesquisadores,
as proporções são 25%, 14% e 1%, respectivamente. Isto significa que, na
maior parte do sistema universitário, ter um doutorado completo é um requisito
mínimo para liderar um grupo de pesquisas, o que não ocorre nas demais instituições.
A maior parte dos lideres de unidades universitárias têm também estudos
no exterior. Instituições não universitárias também mandam seus pesquisadores
para fora, mas não necessariamente para programas de doutorado. Esta situação
se explica, em parte, pela noção de que a pesquisa tecnológica não requer,
necessariamente, o nível de formação acadêmica que é normalmente exigido
nas universidades. No entanto, as modernas tecnologias exigem uma base de
pesquisa cada vez mais complexa, e existem hoje em muitas instituições não-universitárias
de pesquisa no Brasil programas de formação de recursos humanos orientados
para corrigir esta situação .
A estas diferenças em qualificação formal não correspondem diferenças salariais.
Em geral, os salários nas empresas eram muito mais altos do que os das universidades
e institutos, quando este levantamento foi feito, no primeiro semestre de
1983. Mais ainda, quase não existe, nas empresas, correlação entre nível
salarial e nível educacional entre os pesquisadores, que entretanto é clara
tanto nas universidades quanto nos institutos. Isto significa que existe
um incentivo claro, nas universidades e institutos, à obtenção de alta qualificação
acadêmica, que falta nas empresas, o que ajuda a explicar porque elas geralmente
não têm pessoas com esta qualificação (o decreto assinado pelo Ministro
da Educação Rubem Ludwig, que permitiu a incorporação de auxiliares de ensino
ao quadro permanente das universidades e promoções independentemente de
mérito, sem dúvida reduziu a importância deste incentivo) .
Finalmente, as unidades de pesquisa universitária têm em média um técnico
para cada dois pesquisadores, enquanto que nas empresas a relação é de um
para um; nas universidades faltam mais equipamentos, e os pesquisadores
estão geralmente mais insatisfeitos com seus recursos materiais, técnicos
e humanos do que em outras instituições. Todos os dados apontam no mesmo
sentido: a ênfase, em termos de recursos e incentivos, parece estar colocada
fora do sistema universitário, favorecendo acima de tudo as unidades de
pesquisa ligadas a empresas. Os institutos não-universitários ocupam uma
posição intermediária.
2. As motivações para a ação.
Dinheiro é, certamente, uma motivação importante para a ação em qualquer
empreendimento humano, ainda que não o único. Em que medida as diferenças
de recursos entre os diferentes tipos de instituição afetam seu desempenho?
Será que, ao serem pior aquinhoadas, as unidades de pesquisa universitárias
tem um desempenho significativamente pior do que as demais?
Não é isto o que a pesquisa mostra. Na realidade, as unidades de pesquisa
universitárias não só têm menos recursos, como seus recursos são instáveis,
vindo, na maioria dos casos, de fora de suas instituições. De fato, quase
40% dos líderes destas unidades declaram que teriam que parar totalmente
suas pesquisas se tivessem que contar meramente com recursos institucionais,
o que não ocorre com em outros tipos de instituição.
Esta necessidade de buscar recursos fora, combinada com a qualificação acadêmica
geralmente alta do pesquisador universitário, faz dele uma pessoa dotada
de um alto grau de iniciativa e autonomia, que quase não existe em outros
tipos de instituição. São os líderes das unidades de pesquisa universitárias
que decidem, na maioria das vezes, o que pesquisar, como disseminar os resultados
de seu trabalho, e tomam a iniciativa de buscar os recursos de pesquisa
sem os quais suas unidades não sobreviveriam. Este fato contradiz a idéia
que se tem geralmente do ambiente universitário como altamente burocratizado
e sem espaço para o surgimento de lideranças e iniciativas individuais ou
de grupo, em contraste com o ambiente empresarial geralmente supõe-se existir
em empresas orientadas para o mercado. Na realidade, é no ambiente universitário
que os cientistas parecem encontrar aquele espaço para a iniciativa e a
criatividade que parece estar ausente em outros tipos de ambiente.
Este espaço é dado, em primeiro lugar, pela existência de agências de financiamento
que operam fora do sistema universitário, mas que apóiam diretamente o pesquisador
ou o grupo de pesquisa, contornando a burocracia e os controles do sistema
universitário. Ele é dado também por uma série de arranjos institucionais
- fundações, institutos independentes, sistemas de bolsas de estudo - que
livram os pesquisadores dos controles de rotina, e lhes dão flexibilidade
de ação, além de, freqüentemente, aumentarem seus salários. Finalmente,
como o prestígio vem freqüentemente associado à imagem pública do cientista,
isto lhes dá uma posição de autoridade dentro do próprio sistema universitário,
o que aumenta seus graus de independência e autonomia .
Esta liberdade de movimentos que os cientistas encontram no ambiente universitário
não deixa de trazer seus problemas. Os cientistas entram freqüentemente
em conflito com a administração central de suas universidades sobre questões
como a gestão do dinheiro de pesquisa, políticas de contratação de pessoal
e dedicação ao ensino. Eles podem também entrar em conflito com seus colegas
que não fazem pesquisa, trabalham com menos autonomia, têm dificuldade em
complementar seus salários, e percebem muitas vezes os pesquisadores como
um grupo elitista e injustamente privilegiado. Estas tensões podem se exacerbar
quando os pesquisadores elevam seus salários além dos níveis usuais, seja
por contratos de pesquisa, seja por financiamentos especiais ou outras formas.
Estas diferenças salariais também ajudam a entender por que os pesquisadores
mais qualificados tendem a permanecer à margem dos movimentos coletivos
e das associações de cunho sindical que existem hoje entre os professores
das universidades públicas brasileiras .
Em contraste, os pesquisadores em institutos ou companhias mostram um nível
muito mais baixo de autonomia. Nos institutos, eles respondem muito mais
diretamente as orientações de pesquisa oriundas das agências de financiamento
ou de política científica; nas empresas, o que prevalece são as orientações
emanadas das próprias empresas, em seus escalões mais altos. Nestas últimas,
existe maior pressão externa para a utilização dos resultados da pesquisa,
mas também mais sigilo. Seus pesquisadores têm melhores salários e mais
estabilidade no emprego, e não precisam se envolver em atividades empresariais
em benefício de suas unidades de pesquisa. Se tivessem que fazê-lo, encontrariam
provavelmente muitas dificuldades, porque suas credenciais acadêmicas não
são muito altas, e por isto não lhes seria fácil competir por recursos junto
a agências operam com mecanismos de revisão por pares.
Nossos dados indicam que as agências de política científica - FINEP, CNPq,
Embrapa, Ministério da Industria e Comércio, etc. - só influenciam em 16%
das escolhas de temas de pesquisa das unidades, variando de um máximo de
24% para as unidades em institutos para um mínimo de 3% para unidades em
empresas. Para as unidades universitárias a proporção é de 15%. Por outro
lado, elas surgem como responsáveis por 35% de todo o financiamento da pesquisa,
indo de um máximo de 42% nas universidades para um mínimo de 4% nas empresas,
com 24% para os institutos. Em outras palavras, quem paga a orquestra nem
por isto escolhe a música. Como entender este resultado?
Antes de mais nada, há que observar que estas percentagens de referem a
respostas verbais dos líderes das unidades de pesquisa, que podem não refletir
toda a realidade. De fato, sabemos que as agências de financiamento podem
influenciar as orientações da pesquisa colocando mais recursos em uma área
do que em outras, negociando projetos de pesquisa com as unidades ou, simplesmente,
anunciando prioridades que condicionam a escolha de temas pelos pesquisadores.
Os cientistas podem ajustar seus projetos às expectativas das agências e,
ao mesmo tempo, conservar a sensação de que a escolha dos temas de pesquisa
continua sua. Ao mesmo tempo, as agências freqüentemente não têm idéias
muito claras sobre o que financiar, e tendem a distribuir seus recursos
de forma incremental, a partir de demandas prévias da própria comunidade
científica. Elas se aconselham com a comunidade, e neste sentido acabam
por seguir sua orientação. Em outras palavras, as agências de financiamento
são livres para estabelecer preferências e prioridades muito amplas de pesquisa,
mas trabalham sob a influência direta da comunidade, ou pelo menos de um
grupo selecionado de pesquisadores, quando se trata de apoiar projetos específicos.
Assim, sua influência real é menor do que geralmente se supõe, e mais de
acordo com nossos dados. Além disto, não há dúvida que estes dados refletem
diferenças reais entre os diferentes tipos de instituição.
Estes dados também contradizem a idéia bastante comum de que a pesquisa
universitária tende a ser predominantemente acadêmica, enquanto que a pesquisa
em institutos e empresas é mais prática e aplicada. Na realidade, não existem
diferenças entre estes três tipos de instituição quanto à percentagem de
unidades de pesquisa orientadas para o trabalho aplicado, de acordo com
o que dizem os líderes: ela varia entre 44% para as unidades universitárias
e 50% para as de empresas. Somente 30% das unidades de pesquisa universitária
declaram fazer predominantemente pesquisa pura, contra 7% ou menos entre
as demais; por outro lado, 31% das unidades em empresas se dedicam a trabalhos
de desenvolvimento experimental, contra 9% nas universidades é 20% nos institutos.
Estas diferenças refletem, em parte, a distribuição de disciplinas entre
os diversos tipos de instituição. Assim, as empresas cobrem somente a pesquisa
tecnológica e alguns ramos da química e da geologia, enquanto que as universidades
cobrem também as áreas de física, biologia e medicina, entre outras. De
qualquer forma, fica claro que 70% da pesquisa universitária é aplicada
ou experimental, ou não considera a distinção entre pesquisa básica e as
demais como significativa.
Finalmente, pesquisadores nas universidades tendem a fazer muito mais consultoria
fora de suas instituições do que os demais. Isto se relaciona, sem dúvida,
com seus baixos salários, e é muitas vezes interpretado como indicando um
baixo nível de profissionalização em suas carreiras científicas. De fato,
muitas vezes é assim. Entretanto, a existência de consultorias externas
pode ser também uma indicação de que os pesquisadores não ficam isolados
em seus laboratórios, mas estabelecem contatos e colaboração com o mundo
"lá fora". A idéia de que o pesquisador, para produzir mais, precisa
se dedicar exclusivamente ao seu laboratório, é um dos mitos que a pesquisa
da Unesco vem ajudando a desfazer, ao mostrar que os mais produtivos são
freqüentemente aqueles que se dedicam a um maior número de atividades distintas.
É interessante notar que as maiores percentagens de líderes envolvidos em
trabalhos de consultoria, ao redor de 40%, se encontram em São Paulo, por
um lado, é na Bahia e Pernambuco, por outro. Já em Minas Gerais a percentagem
é de 32%, caindo para 21% no Rio Grande do Sul. É possível que a primeira
interpretação do sentido da consultoria seja válida para os estados nordestinos,
enquanto que a segunda prevaleça para São Paulo.
Em resumo, é possível concluir que, nas universidades, o sucesso profissional
dos pesquisadores depende muito de sua iniciativa individual ou grupal para
encontrar um espaço adequado de trabalho em sua instituição, definir seus
projetos de pesquisa, negociar recursos com as agências de financiamento,
e cuidar dos trabalhos de difusão e continuidade dos resultados obtidos.
Nos institutos, e nas empresas com muito mais razão, existe muito pouco
espaço para este tipo de iniciativa. Nestes ambientes, o sucesso profissional
está provavelmente menos relacionado com o desempenho acadêmico ou de pesquisa
do que, por um lado, com a habilidade do pesquisador subir na estrutura
burocrática de sua organização, e, por outro, na de trazer lucros a curto
prazo para sua empresa. É provável que esta última condição prevaleça em
empresas de menor porte, enquanto que a anterior seja mais freqüente em
empresas grandes, e acima de tudo estatais, que não dependem de lucros a
curto prazo, e podem diluir seus gastos de pesquisa em grandes orçamentos.
3. Efetividade e orientações de pesquisa: o papel
de instituições, áreas de conhecimento e localização geográfica .
"Efetividade" é um conceito dado a múltiplas interpretações. Alguns
autores distinguem "eficiência" - a capacidade de obter resultados
com um mínimo de custos - de "eficácia"- a capacidade de obter
resultados independentemente de custos. "Efetividade" pode ser
considerada como uma combinação dos dois: a capacidade de obter resultados
a custos razoáveis. Diversas unidades de pesquisa podem ter sua eficiência
comparada independentemente de seus objetivos, desde que seja possível traduzir
seus custos e resultados em algo comensurável - geralmente dinheiro. Eficácia
e eficiência, no entanto, só podem ser apreciadas a partir de objetivos
que nem sempre são redutíveis a um denominador comum. Um dos achados dos
estudos da Unesco é que a pesquisa científica visa objetivos muito distintos
uns dos outros, e que o desempenho em relação a um destes objetivos não
nos permite predizer o desempenho em relação a outros.
O que vale para os demais países vale também para o Brasil. Quando perguntados,
os pesquisadores se dividem entre os que se orientam para a pesquisa pura,
pesquisa básica ou pesquisa aplicada. Diferenças mais detalhadas podem ser
vistas quando perguntamos aos líderes quais produtos eles consideram importantes
para os objetivos de suas unidades de pesquisa. Uma análise fatorial das
respostas revela a existência de três orientações principais. A primeira
é acadêmica: dentro dela, os principais produtos são as publicações feitas
pelos pesquisadores na literatura internacional e nacional. A segunda é
tecnológica: aqui, o que conta é a produção de protótipos experimentais
e patentes de produtos e processos. A terceira, finalmente, pode ser denominada
burocrática, ou organizacional: o que conta é a produção de relatórios que
permanecem dentro das paredes da organização.
As unidades universitárias têm uma orientação acadêmica muito mais marcada
do que as demais; nas unidades em empresas predomina a orientação organizacional;
as dos institutos permanecem em uma posição intermediária. Estas variações
poderiam ser um simples reflexo das diferenças entre disciplinas, e equivalente
às preferências por pesquisa básica, aplicada ou de desenvolvimento experimental.
No entanto, quando consideramos somente a área de engenharia, que existe
nos três tipos de instituição, observamos que, ainda que todas elas valorizem
os produtos de tipo tecnológico, como seria de se esperar, as que estão
nas universidades mostram também uma preocupação notável com sua produção
acadêmica, em contraste com as demais, enquanto que as das empresas se orientam
principalmente para produtos que permanecem no interior de suas organizações.
A estas diferenças de orientação correspondem, como seria de esperar, diferenças
de produtividade. As unidades de pesquisa universitárias são, de longe,
as que mais produzem artigos para publicações especializadas, enquanto que
as de empresa se concentram quase exclusivamente na produção de documentos
internos. Os institutos, como ocorre em geral, ocupam uma posição intermediária.
A interpretação deste fato não é óbvia. Artigos em revistas científicas
são indicadores bastante claros de desempenho acadêmico, apesar das limitações
que possam ter as medidas de produtividade baseadas em sua quantificação.
Indicadores de produtividade tecnológica, quando não traduzíveis em moeda,
são muito mais difíceis de obter. Patentes ou solicitação de patentes, materiais
experimentais e protótipos produzidos são aproximações bastante limitadas.
Uma unidade de pesquisa em uma empresa pode ser muito produtiva e, por isto
mesmo, trabalhar de forma altamente protegida e secreta, produzindo somente
relatórios internos à sua própria organização. Por outro lado, é possível
imaginar que unidades de pesquisa somente para dentro de suas instituições,
cujos membros têm qualificação acadêmica relativamente baixa, aonde não
existe correlação entre educação formal e renda, e que não são submetidas
a avaliações periódicas de custo-benefício, são fortes candidatas a se tornarem
defensivas, burocratizadas e ineficientes. Para estas unidades, a única
forma possível de avaliação comparada seria através do desempenho de suas
empresas em um mercado competitivo, e no qual a variável tecnológica fosse
determinante dos resultados obtidos. Como este dificilmente é o caso para
as empresas cujas unidades de pesquisa foram pesquisadas neste estudo, o
que restaria seriam avaliações substantivas e técnicas, caso a caso, o que
iria além do que este tipo de dados pode revelar.
Uma idéia um pouco mais aprofundada da natureza destes produtos surge quando
tratamos de examinar o papel de três tipos de variáveis contextuais, o tipo
de instituição, a área de conhecimento e a localização geográfica da unidade,
em sua produção. O que esta análise revela é que a publicação de artigos
em português, e em revistas nacionais, é típica de áreas aplicadas, e mais
especialmente de medicina e pesquisa agropecuária. Em média, as unidades
de pesquisa no Brasil publicam 9,6 artigos no pais cada 3 anos; para estas
áreas, a média sobe para 15,8. Além disto, existe um fator geográfico claro:
enquanto a média para as unidades destas áreas no Rio de Janeiro e Nordeste
é de 6,1, em São Paulo e no Centro-Sul ela se eleva para 19,9. É curioso,
e digno de atenção, o fato de que o Rio de Janeiro se agrupe com o Nordeste
no polo de baixa produtividade. Este fato talvez esteja relacionado com
a vertiginosa queda do orçamento de ciência e tecnologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, que passou do primeiro para o sétimo lugar entre
as universidades federais de 1979 a 1983 (CNPq, 1983).
Publicações em revistas internacionais são muito mais raras, mais claramente
acadêmicas, e mais concentradas. A média, para o país, é de 3,5 artigos
internacionais por unidade de pesquisa a cada 3 anos (ou seja, pouco mais
de um por ano). É um produto tipicamente universitário (média: 4,9, contra
1,6 para institutos e companhias). Além disto, é predominantemente paulista,
com a média de 8,2 para as unidades universitárias neste estado, contra
3,4 nos demais.
O padrão é menos claro para a produção de patentes, que quase não são produzidas
no Brasil. A média para todo o país é de apenas 0,18 patentes cada 3 anos.
Para unidades de tecnologia e ciências exatas, ela sobe para 0,33; quando
estas unidades estão em São Paulo, a média atinge 0,65, valor ainda extremamente
baixo.
4. As diferenças organizacionais.
Área de conhecimento, tipo de instituição e localização geográfica (e tudo
o que isto significa) explicam algumas diferenças importantes na orientação
e produtividade das unidades de pesquisa. Será que outras diferenças não
dependeriam de como as unidades de pesquisa estão organizadas e funcionam
internamente? Esta seria, na realidade, a área em que os administradores
de ciência e tecnologia teriam mais condições de atuar.
A pesquisa da Unesco permite examinar vários aspectos do funcionamento diário
das unidades de pesquisa, que se subdividem em várias dimensões. Primeiro,
o grau e a natureza do envolvimento das pessoas com diversos aspectos de
seu trabalho. Em geral, os líderes tendem a se envolver muito com todos
os aspectos do trabalho da unidade, os pesquisadores um pouco menos, e os
técnicos bem menos. O envolvimento dos líderes pode ser de três tipos principais:
com a identificação de projetos de pesquisa, formulação e conceitualização
dos problemas; com a execução do trabalho de pesquisa; e com a execução
da pesquisa. Segundo, é possível avaliar o grau de satisfação com os diversos
aspectos do trabalho na unidade. Em geral, o nível de satisfação encontrado
foi bastante alto, ainda que houvessem queixas generalizadas quanto aos
salários baixos. Os líderes são os mais otimistas. Existem quatro aspectos
que são avaliados de forma independente: a qualidade do trabalho de pesquisa
enquanto tal (inovatividade, dedicação ao trabalho, abertura para a incorporação
de novas idéias, etc.); o nível de conflitos dentro da unidade; a existência
de um clima participativo (reuniões freqüentes, presença de técnicos, etc.);
e dificuldades externas e ambientais. Finalmente, existem variações importantes
quanto à forma pela qual o trabalho está organizado e planejado, ao longo
de quatro dimensões: a qualidade do planejamento e organização da pesquisa;
os contatos externos para utilização dos resultados obtidos; decisões centralizadas
ou participativas; e a existência de orçamentos unificados ou, pelo contrário,
a independência financeira dos diversos pesquisadores.
Quais os efeitos das características organizacionais sobre o desempenho
das unidades de pesquisa? Resumindo bastante, é possível dizer que existe
um certo síndrome de características organizacionais e ambientais que parece
típico das melhores unidades de pesquisa. Seus líderes se envolvem predominantemente
com a identificação e conceitualização dos projetos de pesquisa, e não com
sua execução ou com tarefas administrativas. Existe um clima geral que favorece
e valoriza a inovação e a cooperação técnica entre todos. Se a unidade tem
uma orientação predominantemente acadêmica, o trabalho de pesquisa enquanto
tal tem que ser excelente. Se a ênfase é no trabalho aplicado, a qualidade
dos contatos externos é crucial. Outras características organizacionais,
das listadas acima - dificuldades externas, clima participativo, nível de
conflitos internos, etc - não parecem fazer maior diferença quanto ao resultado
do trabalho de pesquisa.
A maioria destas características não depende do contexto institucional da
unidades, mas outras sim. Em geral, as unidades universitárias têm uma boa
imagem da qualidade de seu próprio trabalho científico, enquanto que nas
empresas ocorre o inverso. Por outra parte, unidades em institutos parecem
as melhores quanto a contatos externos e continuidade em seus trabalhos,
e as de universidades, piores. Unidades em empresas são as que mais se queixam
da qualidade de seu trabalho de pesquisa. Estas diferenças confirmam as
vantagens comparativas da pesquisa universitária - qualidade, moral alta
- assim como suas maiores queixas - contatos externos inadequados, pouca
continuidade e utilização dos resultados obtidos. São queixas que refletem
dificuldades reais, mas também a frustração de pesquisadores preocupados
com a utilização efetiva dos resultados de seus trabalhos.
5. O desempenho individual
Em última análise, o trabalho de pesquisa é o resultado da atividade de
indivíduos. Em boa parte, o que os indivíduos fazem depende de aonde estão
- sua área de conhecimento, sua instituição, a posição que nela ocupam,
as características organizacionais de sua equipe de trabalho. O que tratamos
de ver, agora, é em que medida o desempenho depende de características mais
estritamente pessoais dos pesquisadores.
A análise mostra que, dos diversos produtos possíveis do trabalho de pesquisa,
são as publicações na literatura internacional os que dependem mais diretamente
das características individuais dos pesquisadores. Publicam mais no exterior
os que têm doutorado completo e, em menor medida, os que estudaram no exterior.
Fatores institucionais, por si mesmos, não têm maior influência, embora
saibamos que os pesquisadores com esta qualificação estão predominantemente
em unidades de pesquisa universitária.
A publicação de artigos em português e no Brasil, no entanto, já obedece
a um padrão distinto. Ela também depende do nível educacional dos pesquisadores,
mas em menor grau. Por outra parte, é um produto que aumenta quando o pesquisador
é líder de sua unidade, trabalha em um instituto nas áreas de pesquisa médica
ou agropecuária, e não se dedica à pesquisa em tempo integral. Estes artigos
são provavelmente menos acadêmicos que os anteriores, e as revistas que
os publicam não são, em muitos casos, estritamente técnicas ou científicas.
Relatórios internos de trabalhos de rotina, no outro extremo, são produtos
que dependem claramente de variáveis institucionais. Eles são produzidos
por líderes de grupos de pesquisa, preferentemente mulheres, que trabalham
em unidades de empresas ou institutos, e não de universidades, que não têm
doutorado e não trabalham na área de ciências exatas ou da terra.
A produção de patentes parece depender também, sobretudo, de características
individuais. Elas ocorrem fora das universidades, e são produzidas por pessoas
que estudaram no exterior e não se limitam a trabalhar dentro de suas instituições
de pesquisa. A impressão é que as poucas patentes que existem resultam de
trabalhos individuais, sem embasamento institucional sólido, o que explicaria
também seu número tão reduzido. Protótipos, no entanto, têm determinantes
bastante mais claros, e de tipo institucional. Eles são produzidos por pessoas
que trabalham na área de tecnologia ou ciências exatas, e do sexo masculino.
Outros fatores não parecem fazer diferença em sua produção.
Em resumo, alguns produtos dependem da evolução dos pesquisadores ao longo
de uma carreira acadêmica, outros da localização institucional dos indivíduos,
ou da área de conhecimento em que trabalham. Outros, ainda, dependem do
sexo da pessoa, que exprime freqüentemente sua posição relativa em uma estrutura
de poder e autoridade. Outros, finalmente - como as patentes - parecem não
estar ligados nem a uma coisa nem a outra, não tendo, por isto mesmo, encontrado
sua localização ou fonte adequada de incentivos e motivação.
6. Conclusões: o lugar da pesquisa universitária.
A principal conclusão, a partir destes resultados, é que a forte ênfase
governamental posta no Brasil na pesquisa não universitária, e as críticas
que normalmente se fazem à pesquisa nas universidades, mereceriam ser rediscutidas
e reexaminadas, pelas razões resumidas a seguir.
Primeiro, o sistema universitário de pesquisas, com todas suas conhecidas
dificuldades e limitações, é aquele que ainda dá mais espaço para a iniciativa,
liderança e capacidade empreendedora dos pesquisadores. A pesquisa não universitária
não parece oferecer as mesmas possibilidades, e é, por isto mesmo, muito
mais suscetível de ficar estagnada na rotina e na burocratização.
Segundo, a pesquisa universitária é a que melhor estabelece ligações entre
o desempenho científico e técnico das pessoas e recompensas em sua vida
profissional. Seus produtos vais valorizados, a produção acadêmica, são
os que mais dependem do desempenho individual dos pesquisadores. Carreiras
e prestígio profissional são estabelecidos a partir deles, apesar de que
ainda não exista, no Brasil, um sistema suficientemente institucionalizado
de carreiras científicas. Isto significa existe uma forte motivação para
que a iniciativa individual e a capacidade empreendedora dos pesquisadores
se voltem, basicamente, para a obtenção de resultados científica ou tecnologicamente
importantes, e não para outros possíveis objetivos (ganhar dinheiro, fazer
politicagem, buscar o apoio de padrinhos importantes, etc.). É este um dos
mecanismos mais importantes de controle de qualidade da pesquisa científica
e tecnológica, que parece estar muito mais presente no ambiente universitário
do que fora dele.
Terceiro, simplesmente não é verdade que os pesquisadores universitários
só se preocupem com a pesquisa acadêmica ou básica, e não se interessem
pelo uso social ou valor econômico de seu trabalho. A maioria deles, na
realidade, tem uma forte orientação para o trabalho aplicado ou para o desenvolvimento
experimental.
Quarto, o sistema universitário é o maior depositário de competência profissional
e das tradições de trabalho científico que existem no país, e estas são
coisas que não podem ser facilmente transportadas para outros tipos de instituição.
Isto não significa, evidentemente, que a pesquisa universitária no Brasil
não tenha seus próprios problemas e dificuldades. Ela tem problemas no relacionamento
com seu próprio ambiente, o sistema universitário; sua qualidade é bastante
desigual; as carreiras científicas dependem de fatores muito aleatórios,
e não estão institucionalizadas; os vínculos entre a pesquisa universitária
e o sistema social mais amplo são problemáticos; existe forte tendência
para a dispersão de recursos escassos, e muito menos controle de qualidade
no do que seria de se esperar de acordo com padrões internacionais.
Apesar de tudo isto, é possível argumentar que investir primordialmente
no desenvolvimento, consolidação e melhoria da pesquisa universitária seria
uma estratégia superior à que tem sido dominante nos últimos anos, que é
a de dar ênfase ao planejamento, à informação científica e ao fortalecimento
de unidades de pesquisa em institutos isolados ou empresas, onde existe
menos espaço para a iniciativa e criatividade dos cientistas, baixa correlação
entre desempenho pessoal e progressão na carreira, e ausência de parâmetros
explícitos de avaliação.
É claro que, assim como nem todas as instituições de ensino superior podem
fazer pesquisa de qualidade, nem toda a pesquisa pode ou deve se realizar
dentro de universidades. É importante, no entanto, que a pesquisa não-universitária
mantenha canais abertos de circulação e intercâmbio com as universidades,
para evitar os riscos de estagnação e isolamento burocrático. A manutenção
de um sistema forte e competente de pesquisa universitária, com grande autonomia
e orientação acadêmica, mas ao mesmo tempo vinculado a atividades educacionais,
de um lado, e de aplicações, por outro, é uma condição essencial para o
sucesso de qualquer política de desenvolvimento científico, educacional
e tecnológico do pais.
Referências
Frank M. Andrews, 1979 - Scientific Productivity. UNESCO e Cambridge
University Press.
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 1984 - Estudo
International Comparativo sobre a organização e Desempenho de Unidades de
Pesquisa Científica. Documento de Trabalho n. 1. CNPq/CPO,
Textos em Política Científica e Tecnológica.
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 1984b - Estudo
Internacional Comparativo sobre a organização e Desempenho de Unidades de
Pesquisa Científica. Documento de Trabalho n. 2. CNPq/CPO, Textos em
Política Científica e Tecnológica.
Presidência da República, Secretaria de Planejamento, 1981, 1982, 1984
Orçamento da União para a Ciência e Tecnologia. brasileira. Brasília,
CNPq.
SEPLAN/CNPq, 1982 - Orçamento da União para Ciência e Tecnologia - Anotações
e Destaques. Brasília, CNPq.
SEPLAN/CNPq, 1982a - Setor Produtivo Estatal - Dispêndios em Ciência
e Tecnologia, 1979/82. Brasília, CNPq.
SEPLAN/CNPq, 1984 - 1983, Orçamento da União para a Ciência e Tecnologia,
Anotações e Destaques. Brasília, CNPq.
SEPLAN/CNPq, 1984a - Recursos do Tesouro Estadual 1983 - Orçamento de
Ciência e Tecnologia, Estados e Territórios. Brasília, CNPq.
Simon Schwartzman, 1984 - Coming Full Circle: For a Reappraisal of University
Research. IUPERJ, Série Estudos, nº 31, setembro.
<