Simon Schwartzman
Publicado em Vanilda Paiva and Mirian Jorge Warde, Dilemas do ensino Superior na América Latina, Campinas, Papirus, 1994, pp. 143-178.Versão revista de trabalho elaborado por solicitação do Banco Mundial, 1990. English version: "The Future of Higher Education in Brazil", Working Papers # 197 of the Latin American Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D. C.; Nupes, Documento de Trabalho 5/91, 24 pp. Agradeço a colaboração de Maria Helena Magalhães Castro, e os comentários e críticas de João Batista Araújo e Oliveira, Elisa Wolynec e Alcyone Saliba.Funções do Ensino SuperiorUm "shopping list" para o ensino superior
Formação para as profissões liberais clássicas
Formação de elites
Educação Geral
Formação nas "novas profissões"
Educação "vocacional"
Formação de professores
Formação científica
Perspectivas demográficasOs obstáculos históricos: debilidade do "ethos" acadêmico, elitismo e corporativismo
Cenários econômicos
EthosPerspectivas
Elitismo
Corporativismo
ExpansãoPossibilidades e probabilidades
A expansão do setor privado
Perspectivas de expansão do setor público
| Quadro 1: Matrícula em instituições de ensino superior conforme o tipo de instituição, 1991. | ||||
| tipo de instituição |
||||
| Universidade | não-universidade | Total | % do total | |
| dependência administrativa: | ||||
| Federal | 305.350 | 14.785 | 320.135 | 20% |
| Estadual | 153.678 | 48.637 | 202.315 | 13% |
| Municipal | 24.390 | 58.896 | 83.286 | 5% |
| Particular | 371.846 | 587.480 | 959.320 | 61% |
| Total | 855.258 | 709.768 | 1.565.056 | |
| Perceituais | 55% | 45% | ||
| Fonte: Ministério da Educação, Serviço de Estatística da Educação e Cultura (ME/SEEC), 1991. | ||||
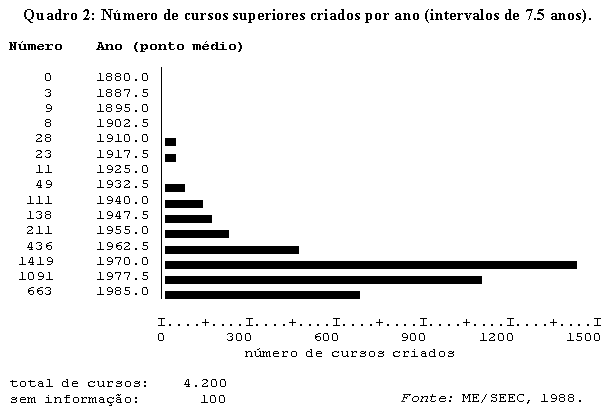
| Quadro 3: Inscrições, vagas e diplomas por tipos de carreira. | |||
| Profissões tradicionais(1) | "novas"profissões(2) | cursos vocacionais(3) | |
| candidaturas | 36% | 60% | 4% |
| vagas | 16% | 80% | 4% |
| diplomados | 22% | 76% | 2% |
| (1) Medicina, Direito, Odontologia, Engenharia. (2) Todas as carreiras exceto as tradicionais e as vocacionais. Inclui as ciências sociais, humanas, letras, licenciaturas de todo o tipo, etc. (3) inclui, entre outros, agrimensura, aquacultura, dança, decoração, tradutor, hotelaria, manutenção elétrica, secretaria, processamento de dados, curtição e todos os cursos definidos como de "tecnologia" (da indústria do açúcar e de cana, manutenção mecânica, indústria têxtil. Fonte: Dados do Serviço de Estatística da Educação e Cultura do Ministério da Educação para 1988, reprocessados pelo NUPES. | |||
| Quadro 4 - Projeções Demográficas por faixas etárias secionadas milhares). | ||||
| 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |
| 10-14 | 14.279 | 16.812 | 16.162 | 16.487 |
| 15-19 | 13.590 | 14.952 | 16.407 | 16.267 |
| 20-24 | 11.525 | 14.085 | 16.624 | 16.009 |
| 25-29 | 9.425 | 13.328 | 14.712 | 16.184 |
| Total | 120.194 | 145.762 | 170.932 | 194.082 |
| Fonte: A. A. Camarano, K. Beltrão e R. Neupert, Século XXI - A Quantas Andará a População Brasileira?, IPEA, Texto para Discussão n 5, 1989 (Hipótese II). | ||||