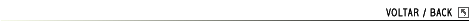
As Ciências
Sociais no Brasil Contemporâneo
Comentário de Simon Schwartzman à tese de doutoramento
de Manuel Palácios da Cunha Melo, IUPERJ, outubro de 1997.
Manuel Palácios, para esta tese, fez o levantamento mais completo e sistemático
até agora da literatura de ciências sociais no Brasil, pelo uso inteligente
e competente das técnicas de análise de citações. Este trabalho deve ficar
como fonte de referência indispensável sobre o tema daqui para a frente.
O único que sinto falta, neste particular, teria sido uma análise dos veículos
das publicações utilizadas pelos diversos autores - revistas nacionais e
estrangeiras, papers e artigos manuscritos, livros nacionais e
estrangeiros, fontes eletrônicas, Internet. Isto nos permitiria conhecer
mais a respeito dos hábitos, formas de trabalho e tipos de informação que
nossos pesquisadores e alunos utilizam, um conhecimento mais direto da prática
dos sociólogos, além do conteúdo de seus trabalhos. Fica a sugestão.
A função de quem está na banca de tese, no entanto, é levantar questões
para debate e discussão, e neste sentido eu gostaria de começar dizendo
que, de duas estratégias possíveis para a análise dos dados que levanta,
Manuel Palácios escolhe a que me parece menos apropriada. O que eu esperaria
seria que ele aprofundasse na análise dos dados que mapeia de forma tão
competente, nos ajudando a entender o que as ciências sociais brasileiras
têm de específico, e as principais características e diferenças das diversas
linhagens de trabalho que ele identifica. Ele prefere, no entanto, passar
rapidamente por isto, e fazer uma discussão mais ampla das ciências sociais
sem referência específica aos próprios dados, partindo, depois, para uma
discussão ainda mais ampla sobre a questão da universidade como um todo.
O resultado é que o trabalho se debilita dos dois lados; a análise dos dados
levantados não se aprofunda, e o exame das questões mais amplas tampouco
atinge a profundidade que poderia ser esperada.
Creio que a melhor maneira de começar a mostrar o que penso é pela análise
das citações e referências utilizadas na tese, já que este é o seu tema
principal. Manuel Palácios discute, no início de seu texto, a razão pela
qual os autores utilizam citações nos trabalhos acadêmicos, e diz, à página
49, que "as pesquisas sobre a prática da citação demonstram que a motivação
do cientista (. . .) reside em buscar convencer o leitor, o público ao qual
se destina o trabalho". É uma idéia bem elaborada por Bruno Latour:
se eu coloco um monte de autores de meu lado, eu digo que não estou sozinho
no eventual qüestionamento de meu trabalho, e aumento, desta maneira, o
custo que meus adversários teriam em contra-argumentar. Mais adiante, Manuel
Palácios nota que "as escolhas bibliográficas exprimem os compromissos
do autor, os quais, no ambiente institucionalizado da produção científica,
dizem respeito à organização do trabalho intelectual na sua área específica
de estudos". Esta frase me parece perfeita, mas ela pode ser interpretada
de duas maneiras. Em um primeiro sentido, ela significa que, se eu cito
Marcel Mauss, isto me coloca no campo científico dos antropólogos; mas,
em um segundo sentido, se eu cito Gramci, por exemplo, isto me identifica
como um sociólogo na tradição marxista, enquanto que, se eu cito Edward
Shils, isto me identificaria como pertencendo à corrente de pensamento liberal.
No primeiro caso, a citação de Mauss serviria para mostrar ao colega, ou
ao professor, que eu, como antropólogo, não desconheço a importância e o
lugar de um dos fundadores da antropologia contemporânea; no segundo caso,
ao citar Gramci, por exemplo, minha intenção pode não ser tanto a de convencer
o leitor da importância de minhas idéias (ou das de Gramci), mas uma maneira
de mostrar que meu trabalho é "politicamente correto", que eu
faço parte dos cientistas sociais aceitáveis, e que por isto minhas idéias
são boas; é como vestir a camisa do Flamengo ou do Fluminense. Uma outra
razão pela qual eu cito um determinado autor, e não outro, pode ser mais
prosáica: ela pode depender da disponibilidade dos autores, em função da
língua, do tipo de publicação, da existência ou não de bibliotecas e obras
de referência a serem consultadas. Esta razão hoje em dia, com o fax, a
xerox e a Internet, é menos justificável do que antes, mas ainda existe,
e continuará a existir, dado o custo crescente que tem o exame de uma literatura
cada vez maior e mais complexa.
Todas estas razões podem explicar, em maior ou menor grau, a seleção peculiar
de fontes e referências utilizadas por Manuel Palácios em seu trabalho.
É natural e esperado que ele citasse os trabalhos de seu orientador. Como
convidado para fazer parte da banca, eu esperaria que alguns de meus trabalhos
fossem não apenas citados, mas considerados e discutidos, o que, para surpresa
minha, não ocorre. Como os temas da ciência, das universidades e das ciências
sociais têm sido objeto de meu trabalho por muitos anos, eu tenho tratado
de tomar conhecimento com pelo menos parte da literatura nacional e internacional
a este respeito, que normalmente cito em meus textos, creio que não só para
convencer meus leitores, ou para dizer qual é o meu "time", mas
sobretudo para dar aos interessados pistas e caminhos para os que queiram
seguir se aprofundando nestas questões - uma outra função, desta vez didática
e pedagógica, das citações. Em parte por este trabalho de divulgação, e
em parte por que muitas outras pessoas fazem o mesmo, estas pistas estão
disponíveis e, se seguidas, poderiam talvez aprofundar as análises e discussões
constantes desta tese.
Na página 238 há dois pequenos erro de citação em uma só referência, um
texto de Sheldon Rothblatt (que aparece como Sheldon Dothblat) e Björn Wittrock
(que aparece como Wittrock Bjorn). São erros sem maior importância, mas
sugerem que a referência não é de primeira mão, e assinala a ausência de
maiores referências a estes autores. Rothblatt é um historiador das universidades
européias, autor de um livro clássico sobre a modernização da universidade
de Cambridge, The Revolution of the Dons; e Wittrock, cientista
político sueco, é editor, entre outras tantas coisas, do livro Social
Sciences and Modern States - National Experiences and Theoretical Crossroads
(Cambridge, 1991), um conjunto de ensaios sobre o desenvolvimento das
ciências sociais em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, a partir
de um trabalho meu denominado "Changing Roles of New Knowledge: research
institutions and societal transformations in Brazil", publicado em
português como "A Força do Novo: Por uma sociologia dos conhecimentos
modernos no Brasil" (Revista Brasileira de Ciências Sociais,
1987.) Se Manuel Palácios tivesse seguido esta pista, ou tantas outras espalhadas,
por exemplo, pelas inúmeras publicações do Núcleo de Pesquisas sobre Educação
Superior da Universidade de São Paulo, do qual fui diretor científico até
1994, ele não teria deixado de tomar em consideração pelo menos dois importantes
conjuntos de trabalhos sobre os temas de sua tese, e que não obstante não
são mencionados: os trabalhos de inúmeros autores latinoamericanos, incluindo
a José Joaquin Brunner, no Chile, Orlando Albornoz e Hebe Vessuri, na Venezuela,
Jorge Balán, na Argentina, Manuel Gil, Rollin Kent e vários outros no México
sobre a questão universitária na América Latina; e os de todo o grupo de
sociólogos e historiadores das universidades que se desenvolveu em associação
com Burton C. Clark, incluindo, além do próprio, Daniel Levy, especialista
em América Latina, Roger Geiger, com livros fundamentais sobre a ciência
universitária norte-americana, sem mencionar autores como Martin Trow e
o próprio Clark Kerr, famoso ex-reitor da Universidade da California.
Além destas notórias ausências internacionais, existem algumas lacunas nacionais
também significativas, sobretudo pela proximidade com o tema da tese. Em
1986, a propósito de uma conferência de Jeffrey Alexander realizada em reunião
da ANPOCS, fiz uma pequena revisão da discussão brasileira a respeito da
natureza das ciências sociais em nosso meio, tomando como referências outros
trabalhos no mesmo sentido de Wanderley Guilherme dos Santos, Bolivar Lamounier,
Marisa Peirano, Eunice Durham e Valéria Pena. Mais recentemente, para o
estudo sobre política de ciência e tecnologia que coordenei junto à Fundação
Getúlio Vargas, Fábio Wanderley Reis preparou um texto altamente polêmico
denominado "Avaliação das Ciências Sociais", publicado no volume
3 de Ciência e Tecnologia no Brasil, Fundação Getúlio Vargas, 1996.
Entre outras ausências que me chamam a atenção se incluem o volume Ciências
Sociais: Ensino e Pesquisa na Graduação, editado por Elina Pessanha
e Glaucia Villas Boas, que inclui trabalhos do próprio Manuel Palácios,
Werneck Viana, e um texto meu, e o volume editado por Helena Bomeny e Patrícia
Birman denominado As Assim Chamadas Ciências Sociais (UERJ / Relume
Dumará, 1991), com contribuições, entre outros, de Mariza Peirano, Roque
Laraia, Lúcia Lippi de Oliveira, Elisa Reis e tantos outros.
O problema com todas estas ausências é que as idéias e os debates constantes
em toda esta literatura ficam também perdidos. Em relação às ciências sociais,
por exemplo, existe uma forte discussão a respeito de quanto as ciências
sociais brasileiras se aproximam, ou deveriam se aproximar, dos cânones
mais estritos de qualidade de produção intelectual típicos dos países mais
desenvolvidos (questão levantada por Fábio Wanderley Reis), ou quanto que
esta questão deveria ser substituída por uma discussão a respeito do papel
da ciência social como "discurso" ideológico, ou interpretativo
da sociedade; existe uma outra dimensão de análise, que é quanto que as
ciências sociais se aproximam ou não de sistemas de conhecimento voltados
para a solução de problemas concretos, ou seja, em que medida que eles são
ou não "policy oriented"; ou em que medida os temas das pesquisas,
e o destaque que alguns autores adquirem em determinados momentos e períodos,
deriva de uma lógica interna dos campos de conhecimento próprios das disciplinas,
ou de um contexto político e societal mais amplo. Uma discussão a respeito
dos autores que polarizam as citações em determinados sub-conjuntos de trabalhos
poderia ajudar a entender um pouco mais estas questões - como entender,
e que sentido tem, o fato de Pierre Bourdieu ser o autor estrangeiro mais
citado, ao lado de Marx e Geertz, comparado com a ausência, por exemplo,
de um Antony Giddens?
Se as ciências sociais brasileiras são o que são, por que elas são assim?
Como se dá a institucionalização destas disciplinas? Qual o relacionamento
entre este processo específico e a questão mais geral da ciência e da universidade
brasileira, no contexto mais geral das transformações das universidades
contemporâneas? Manuel Palácios discute estas questões em sua tese, muitas
vezes com observações argutas e inteligentes, mas não consigo deixar de
sentir que seu trabalho acaba prejudicado por uma visão fortemente normativa
e retórica que acaba excluindo outros pontos de vista, e não abre espaço
para uma literatura mais empírica e comparativa a respeito dos temas que
aborda. Esta visão aparece sobretudo quando ele se afasta de seus dados,
e trata do contexto mais amplo da história das ciências sociais brasileiras
e das universidades de uma forma geral. Para mostrar isto, selecionei alguns
trechos tomados mais ou menos ao acaso.
Na página 12, diz Palácios que "o homem comum é, de fato, para além
do controle exercido pela comunidade sobre o pesquisador individual, o único
avalista legítimo do conhecimento produzido pelos especialistas.".
Esta é claramente uma postura normativa, uma crença sem dúvida generosa
no primado do homem comum, mas ela não encontra nenhum apoio na realidade
dos fatos, e nem o autor se preocupa em dar alguma evidência a respeito.
Na página 16 há uma outra afirmação de mesmo tipo: "a onda de economicismo
vulgar que assola o planeta, condenando os homens a expectadores impotentes
da história" De novo, uma frase de efeito, mas vazia de conteúdo empírico.
Será que "antes" do "economicismo vulgar" os "homens"
eram menos "impotentes"? Nenhuma destas expressões entre aspas
tem conteúdos específicos, que possam transformar este tipo de frase em
algo mais do que retórica.
Se o "homem", que deveria fundamentar e legitimar o conhecimento
científico no mundo, se tornou impotente pelo economicismo, no Brasil a
coisa seria ainda pior: "o país conheceu duas décadas de uma ditadura
que implementou políticas de modernização econômica desorganizadoras de
formas pretéritas de sociabilidade, levando massas de milhões a uma situação
de marginalização inédita" (P. 236). Talvez seja necessário ter alguma
idade para não acreditar tanto assim nestas "formas pretéritas de sociabilidade",
e conhecer um pouco mais da história brasileira para se dar conta que a
marginalidade nos acompanha deste os tempos de Pedro Álvares Cabral.
A conclusão que o autor tira deste quadro de impotência e marginalidade
é que centros de pesquisa de qualidade, que desenvolvam conhecimentos especializados
e de alto nível, são coisas autoritárias, "de cima para baixo",
e por isto sem futuro. A solução para os problemas brasileiros, nas ciências
sociais como em outras esferas, deveria vir "por baixo". Segundo
ele, às páginas 236/7, "a idéia de que a 'crise de relevância' da ciência
social pode se resolver pela criação de alguns centros de excelência isolados,
desprovidos de comunicação com os seres subalternos da sociedade, contém
um inegável viés autoritário. E, provavelmente, significaria uma efetiva
condenação à irrelevância". A alternativa seria fazer com que a ciência
se encontrasse com o homem comum, pela "criação de formas capilares
de comunicação com a sociedade, a ser promovida por uma série de múltiplas
agências. Desta perspectiva, a Universidade surge como uma instituição de
importância estratégica".
O fato de que todos os países, e sobretudo os mais democráticos, tenham
centros de excelência, e de que as universidades nunca tiveram este papel
utópico de juntar a ciência com o homem comum, não parecem fazer Manuel
Palácios desistir. Ele apresenta uma breve história do desenvolvimento das
universidades modernas, e termina com uma visão curiosa a respeito da expansão
do ensino superior nos Estados Unidos, que ele diz ser o "resultado
de uma política para a juventude, baseada na crítica das muitas desigualdades
e discriminações que dividem a América, impulsionada pelos movimentos de
defesa dos direitos civis das minorias raciais, de mulheres e de gays e
lésbicas" (p. 233). Esta "universidade de massas" estaria
produzindo um "novo tipo de intelectual, que combina a vocação pública
com a pesquisa científica", e que quem sabe poderia servir de inspiração
para nós.
Feliz ou infelizmente, este quadro da "universidade" americana
não tem nada a ver com a realidade. A expansão da educação superior americana
nada tem a ver com os movimentos sociais de negros, gays ou mulheres. Destes
distintos movimentos, só o movimento negro tratou diretamente da questão
do acesso às universidades, através dos programas de affirmative action,
que, se abriram mais lugares a estudantes negros, não chegaram a alterar
o tamanho do sistema como um todo. O sistema educacional norte-americano
é um dos mais amplos, mas também dos mais estratificados e diferenciados
do mundo, com a grande massa de estudantes vinculados aos "community
colleges" onde a pesquisa científica não existe, e um número restrito
de "research universities", onde se concentra a atividade de pesquisa.
Este intelectual que "combina a vocação pública com a pesquisa científica"
é, ou foi, um fenômeno tipicamente francês, que nunca encontrou maior repercussão
nos Estados Unidos, em que pese a politização e o afrancesamento recentes
de alguns departamentos universitários, sobretudo na área da crítica literária.
A leitura equivocada da realidade norte-americana serve de base para uma
proposta que é, em última análise, totalitária, a respeito das ciências
sociais e das universidades brasileiras. Na p. 246 está dito que os sociólogos
"não têm, hoje, livre acesso ao debate político, se estão por fora
da representação partidária, dos movimentos sociais ou da assunção de funções
na administração pública", e a conclusão pareceria ser que este acesso
deveria se dar a partir da criação de um novo ator coletivo, em competição
ou quem sabe atuando hegemonicamente sobre os demais. Na página 247 há uma
referência ao "sindicalismo de intelectuais" como "um fato
relevante da vida brasileira," e o parágrafo termina dizendo ser "indispensável
para isto (ou seja, para o ingresso na vida pública) um projeto coletivo".
Nem a experiência européia, e muito menos a norte-americana, justificam
ou dão qualquer vislumbre de possibilidade a este tipo de projeto, que nega
valor ao trabalho intelectual individual, elimina a diferenciação clássica
e tão essencial entre a ciência e a política como vocação, nivela as universidades
por baixo e busca colocá-las sob a tutela das corporações sindicais universitárias,
que assumem o papel de novos partidos, demiurgos de uma nova ordem política,
institucional e intelectual que se assemelha demais, me parece, à velha
"ordem" buscada pelo socialismo real. Talvez seja pela insistência
nesta visão totalitária do papel do conhecimento nas sociedades modernas,
feito a partir das melhores intenções, que se explique parte da indigência
intelectual de nossas ciências sociais, que transparece nas entrelinhas
das análises bibliométricas de Manuel Palácios.
<