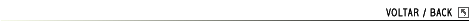
A Redescoberta da Cultura
A Transição Mineira
Simon Schwartzman
Este texto foi escrito como comentário ao trabalho de Francisco
Iglésias, História, Política e Mineiridade em Drummond,
preparado para apresentação no ciclo de conferências "Drummond
- Alguma Poesia", Rio de Janeiro, Fundação Cultural Banco do
Brasil, 24 de abril de 1990. Publicado em "A Redescoberta da
Cultura", EDUSP, 1996.
Carlos Drummond viveu o suficiente, física e intelectualmente, para fechar
o ciclo de três eras da vida intelectual mineira, o tempo dos literatos,
o tempo das ciências sociais e o de uma nova fascinação com os tempos
da literatura. De uma forma imperfeita e confusa, este foi também o ciclo
da contemplação, do engajamento na política e da volta ao distanciamento
literário; ou ainda, se quizermos, do individualismo, da imersão na militância
coletiva, e da recuperação do eu, com toda sua possível riqueza, mas também
com sua fragilidade.
No começo era o jovem Drummond, cultivado nos círculos afrancesados dos
literatos mineiros, que dialogava com Mário de Andrade, tratava de conhecer
o mundo pela via da poesia, e buscava pela revolução da palavra a transformação
da mentalidade e da realidade de seu país. Depois são os tempos contraditórios
da proximidade com o poder, Drummond assistindo e participando, à sua
maneira, da grande revolução educacional e cultural tentada por Gustavo
Capanema à frente do Ministério da Educação de Getúlio Vargas. Mais tarde
é o Drummond engajado, redator da Tribuna Popular, quase candidato a deputado
pelo Partido Comunista; finalmente é frustração com a política e a volta
à crônica, à literatura, primeiro talvez como um refúgio, mais tarde,
finalmente, como consagração. A poesia, nos diz agora Francisco Iglésias,
é a forma suprema de conhecimento do humano, certamente superior à história,
e a vida literária que Drummond conduz com criatividade e graça até o
fim de seus dias deve também servir, por implicação, de paradigma que
homens e mulheres de idéias deveriam emular.
No mundo de Minas, ninguém mais que o próprio Iglésias, talvez, tenha
vivido as ambigüidades destes dilemas eternos entre a intuição e a razão,
a empatia e o conhecimento sistemático, a contemplação literária e o engajamento
político, o desnudamento de sí próprio no presente e a análise fria da
sociedade e do passado. Nutrido pela melhor tradição literária da geração
que lhe antecede, Iglésias acompanha a Drummond em seu mergulho na política
nos anos quarenta, e emerge não como mais um literato mineiro -- como
seus contemporâenos Fernando Sabino, Rubem Braga, ou Paulo Mendes Campos
-- mas como historiador, e como tal o primeiro, e mestre, de toda a geração
de cientistas sociais que se formou em Minas a partir dos anos 50. Agora,
ao declarar a superioridade da poesia, Iglésias parece fechar, ele próprio,
o ciclo percorrido por Drummond, (e que talvez prenuncie o momento, esperado
por todos, que sua obra poética guardada todos estes anos, e que temos
certeza que existe, finalmente venha à luz).
É significativa, nesta transição, a fusão constante entre três coisas
distintas, a maneira de conhecer o mundo, o engajamento na vida pública,
e a questão do individual e do coletivo. Drummond participa intensamente
da vida pública desde os tempos do Ministério da Educação, prossegue em
seus anos de namoro com o Partido Comunista no pós guerra, e continua
pelos anos afora pelo trabalho jornalístico. Os tempos com Capanema devem
ter sido difíceis, não só pela proximidade do governo Vargas com as ideologias
fascistas, como também pelo extremo conservadorismo e clericalismo com
que Capanema tratava conduzir seu Ministério. Explicar a presença incômoda
de Drummond neste ministério por simples razões de amizade, ou dizer que
sua atuação foi simplesmente burocrática e administrativa, é fazer pouco
de sua inteligência e seus valores. Pelo que sabemos, Drummond tratou,
naqueles anos, de manter aberto o espaço para o lado mais criativo e moderno
do Ministério Capanema e do país, o da cultura, do patrimônio histórico
e das artes, e desta maneira talvez tenha se resignado a assistir impotente
o que ocorria na área da educação. Seu engajamento político nos anos seguintes,
junto aos grupos de esquerda, sugerem uma busca de expiação daqueles anos
difíceis e ambíguos, em troca de um engajamento mais definido e claro.
Talvez não saibamos nunca se Drummond chegou a namorar o Marxismo naqueles
anos de engajamento, e pensou em substituir sua forma de conhecimento
do mundo, pela via da literatura e da poesia de corte pessoal e intimista,
pelo "conhecimento científico" que o Marxismo prometia. Alguns
dos trabalhos daqueles anos, que Iglésias cita, podem sugerir uma tentativa
de aproximação com o "realismo socialista" que dominava os círculos
literários da esquerda, e que ainda não havia revelado suas feições mais
caricatas. Se houve algo disto, certamente durou pouco, tanto pela bagagem
literária que o poeta já tinha, e que lhe dava ancoradouro firme, quanto
pela dificuldade que seria aprender, com a mesma competência, esta nova
linguagem. O certo é que o envolvimento com a esquerda organizada significava,
naqueles anos, não só uma postura política, como também uma nova definição
da hierarquia de conhecimentos e atitudes - o Marxismo no topo, a literatura
como instrumento de ação social, o individual a serviço do coletivo -
e Drummond não atravessaria incólume as exigências deste credo.
Imagino que a geração seguinte, sentindo-se talvez apequenada pela obra
dos poetas modernistas, mas fortalecida pela própria juventude, pudesse
tentar ir mais longe, adotando como ponto de partida a primeira e mais
tradicional das ciências sociais, a história. A ignorância literária da
terceira geração tornou esta passagem, mais do que natural, quase inevitável.
Ainda aqui, a mudança não era somente na forma de conhecimento e de produção
intelectual, mas atingia também as demais esferas. Para a nova geração
de cientistas sociais, conhecer e transformar a realidade eram quase o
mesmo ato, o trabalho poético e literário fazia sentido quase que só como
panfleto, e não deveria haver lugar para a atividade intelectual de tipo
intimista ou cultural, que não fosse socialmente transformadora.
Não caberia descrever em detalhe, aqui, como este círculo se encerra
em crise, e de que forma a literatura volta a ser entronizada como forma
suprema de conhecimento social. Basta assinalar que houveram, pelo menos,
dois caminhos paralelos. Para uns, o encerramento desta fase veio de um
simples alargamento de horizontes, do reconhecimento de que existem outras
tradições intelectuais que não a marxista, que tratam de forma menos pretenciosa
e mais adequada a questão da objetividade, que não se consideram guardiãs
do futuro da história, que admitem uma relação mais frouxa e complexa
entre o mundo do conhecimento e o mundo da ação, que não pretendem comandar
e subordinar a produção literária e artística a seus conceitos, e que
não requerem que as pessoas entreguem seu espaço individual e privado
à ação coletiva. Para outros, foram necessárias as crises sucessivas da
esquerda e do marxismo em todo o mundo, do início da desestalinização
na União Soviética em 1956 à Perestroika 25 anos depois, passando pelas
frustrações e reexames de consciência forçados pela oposição inglória
a 20 anos de governo militar no Brasil, que culminam na república de Sarney.
Destes dois processos, o primeiro é o mais difícil e incerto, o segundo
mais certeiro e doloroso. É difícil desenvolver tradições intelectuais
ricas e complexas sem um sistema universitário bem estabelecido, sem vínculos
culturais intensos com outras partes do mundo, sem tempo de maturação,
e sem um certo espaço e distanciamento em relação às crises e pressões
do quotidiano. A expansão desordenada do espaço universitário brasileiro
nas últimas décadas propiciou pouco destas condições, e abriu, ao mesmo
tempo, um grande espaço para a incorporação da vulgata marxista, ao mesmo
tempo revolucionária e simples, senão simplista, em sua interpretação
do mundo do conhecimento, da ação política e da vida social. Quando o
mundo real, em sua brutalidade, coloca a nú seus equívocos, o que entra
em seu lugar não são formas superiores de conhecimento e alternativas
de participação social. Tudo parece destruído, os valores, o sentido de
responsabilidade para com o outro, as maneiras de conhecer e entender
o mundo. Resta, quem sabe, a poesia.
Para os que ainda têm este recurso - e são poucos, infelizmente - o retorno à
poesia e à literatura é como a volta à terra firme. Francisco Iglésias, historiador
e cientista social, nos diz como não gosta de conceitos como o de "mineiridade",
carregados de conotações essencialistas, antropomóficas e, no fundo, preconceituosas
sobre povos e nações. Mas logo depois Iglésias, o homem de letras, leitor de Drummond
desde a adolescência, nos mostra como, pela poesia, "Drummond é que melhor
traduz Minas Gerais, quem mais profundamente penetrou em sua essência. Ele e Guimarães
Rosa".
Mas esta terra firme não tem porquê, em um imperialismo às avessas, substituir
outras modalidades de conhecimento, da mesma forma que não é possível
pretender que a crônica jornalística drummoniana das últimas décadas substitua
todas as formas de análise social e política existentes. Não é mais possível,
simplesmente, voltar aos tempos da Rua da Bahia, e retomar o projeto literário
daqueles anos, ou mesmo o mais bem articulado deles, o do modernismo liderado
por Mário de Andrade, em toda a sua ambição e inocência. Opor a poesia
à história, a literatura às ciências sociais, a arte à ciência, a intuição
ao conhecimento racional, é, simplesmente, repetir os reducionismos do
passado, só que com o sinal trocado. Reencontrar a Drummond, seguir sua
trajetória, absorver sua lição de fidelidade a si próprio, recuperar a
importância da poesia e da literatura como meios insubstituíveis de capturarmos
os sentidos múltiplos da experiência humana, são tarefas que devem nos
conduzir a horizontes cada vez mais largos, e nunca a novas prisões.
Petrópolis, abril de 1990