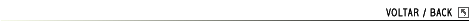
A Redescoberta da Cultura
Os Paradigmas e o espaço das ciências sociais
Simon Schwartzman
Publicado originalmente em Revista Brasileira de Ciências
Sociais 4, 2 Julho, 29-35, 1966. Publicado em A Redescoberta
da Cultura, EDUSP, 1996.
A superação do positivismo
As ciências sociais contemporâneas devem a Jeffrey Alexander uma contribuição
importante, na forma de uma tentativa ambiciosa e inteligente de dar alguma
ordem ao caos epistemológico e conceitual em que ela se debate. Sem pretender
reproduzir, aqui, uma análise que podemos ouvir do próprio autor, gostaria
no entanto de sumariar alguns aspectos principais, para situar a discussão.
Alexander inicia seus argumentos, muito adequadamente, tratando de limpar
o terreno da discussão epistemológica. Em Theoretical Logic (1982),
ele procura mostrar como a visão positivista da ciência, que reduz todo
o conhecimento à busca de "fatos" empíricos, não se sustenta
nem nas ciências sociais, nem nas ciências naturais. Não faz sentido argumentar,
como quizeram muitos, que as ciências sociais, por estarem envolvidas
todo o tempo com valores e significados, se constituiriam em um campo
epistemológico à parte - a resposta "humanista" ao positivismo
sociológico. Ao retraçar o caminho percorrido desde os trabalhos de Alexander
Koyré (1939) e Michael Polanyi (1958) sobre os supostos culturais (Koyré)
e a fundamentação tácita das ciências naturais (Polanyi) até a moderna
sociologia da ciência com seus estudos empíricos sobre a construção dos
fatos científicos (e passando, inevitavelmente, pela contribuição seminal
de Thomas Kuhn sobre os paradigmas do conhecimento) Alexander mostra como
os postulados positivistas não passam de uma ilusão dos tempos da ciência
normal. A única diferença real entre as ciências naturais e as ciências
sociais seria que, nestas, as discussões de valores e princípios são mais
constantes e presentes, os supostos tácitos menos fáceis de serem admitidos.
A crítica aos supostos positivistas, e a recusa em cair no irracionalismo
implícito no "humanismo" antiempírico, justificam o esforço
de Alexander em recuperar o nível especificamente teórico e conceitual
das ciências sociais.
Seu texto atual (Alexander, 1986) difere do anterior pelo menos em dois
pontos importantes. Primeiro, as diferenças entre as ciências sociais
e as ciências naturais voltam a ganhar preeminência. Segundo, o que era
antes visto como o "nível conceitual" das ciências sociais (na
realidade, um contínuo que ia das pressuposições mais gerais, próximas
ao ambiente metafísico e não empírico das ciências até os supostos metodológicos
da pesquisa) é agora apresentado como constituindo um nível "discursivo".
São duas diferenças importantes, que vale a pena explorar um pouco.
Por que as ciências naturais discutem menos seus pressupostos?
Se as ciências naturais são tão dependentes quanto as ciências sociais
de pressuposições tácitas (Polanyi), visões de mundo (Koyré) e modelos
operacionais implícitos ("examplars", conforme Kuhn), como explicar
serem elas muito menos suscetíveis às constantes controvérsias e debates
que avassalam as ciências sociais o tempo todo? "It is because natural
scientists so often agree about the generalized commitments which inform
their craft that more delimited empirical questions usually receive their
explicit attention", nos responde Alexander (1986, p.7-8).
Ele não examina em que condições este consenso ocorre ou não, mas é fácil
dar pelo menos alguns exemplos. O consenso, que permite uma discussão
técnica sobre as funções de uma enzima ou as propriedades de um novo material
começa a ser menos claro quando o que se discute é, por exemplo, a segurança
de uma usina nuclear ou o grau aceitável de poluição do ar por certos
produtos químicos. Nos primeiros exemplos, o que constitui uma "função",
ou como se definem as "propriedades" de determinado produto
são conceitos que fazem parte da prática quotidiana dos pesquisadores,
e não estão em discussão. Nos outros exemplos, a discussão não é necessariamente
menos técnica ou científica, mas já não existe consenso tácito sobre o
que venham a ser níveis aceitáveis de segurança ou tolerabilidade. O avanço
tecnológico que permite a detecção de partículas cada vez mais infinitesimais
de produtos químicos em amostras de alimentos, e o avanço dos estudos
epidemiológicos que permitem detectar pequenas alterações na probabilidade
de ocorrência de determinadas enfermidades em grandes populações, vão
tornando estas questões cada vez mais controversas e, na realidade, impossíveis
de serem resolvidas dentro de marcos estritamente "tácitos"
ou "científicos".
A diferença entre as ciências naturais e as sociais seria pois, simplesmente,
de grau, e se explicaria pelo fato de estas últimas se referirem mais
constantemente a questões de valor. Nas palavras de Alexander, "in
its application social science produces so much more disagreement".
"Application", aqui, não se refere simplesmente à tecnologia
(onde as ciências sociais se encontram evidentemente inferiorizadas),
mas, principalmente, ao que elas trazem como avaliação ou interpretação
do homem e do mundo em que habita. "Classe social" ou "socialização",
por exemplo, não são conceitos que se esgotam em suas determinações lógicas
e empíricas; eles conduzem não só a determinados tipos de análise, como
trazem também embutidas certas visões mais amplas de como as sociedades
se desenvolvem e incorporam o não os indivíduos que as compõem. As controvérsias,
como vimos mais acima, não são alheias às ciências naturais, e tornam-se
tanto mais intensas quanto as implicações de seus resultados possam ir
além de seus marcos "científicos" usuais. Isto não significa,
naturalmente, que não existam controvérsias científicas enquanto tal,
mas existe aqui uma questão de fronteiras pouco esclarecida. Em que medida
esta separação entre os aspectos valorativos e os aspectos mais especificamente
cognitivos do conhecimento é válida, nas ciências naturais e nas ciências
sociais? Existem tentativas, possivelmente extremadas, de abolir esta
separação completamente, como por exemplo na teoria da "finalização"
(Böhme e outros, 1976, e böhme, 1977), ou no chamado "programa forte"
da sociologia do conhecimento proposta pela escola de Edimburgo (Bloor,
1976). É uma discussão acesa que ainda continuará por muito tempo, inclusive
pelas conotações valorativas que implica (veja a respeito Silva, 1985).
Um resultado importante, de qualquer forma, já foi obtido: não são só
as concepções positivistas e empiricistas da ciência que se vêm ameaçadas,
mas também as que pretendem partir de fundamentações lógico-racionais
prévias a qualquer antecedente pressuposicional, ou se basear em um princípio
de demarcação absoluto entre o científico e o não científico.
Ciência vs. aplicação e teoria vs. discurso nas ciências sociais.
Uma diferença importante entre as ciências sociais e as naturais é pois
que, nas primeiras, a própria elaboração de conceitos supostamente "científicos"
já traz conotações valorativas e práticas imediatas. Ainda que isto ocorra
também nas ciências naturais (e exemplos não faltam, de Galileu a Darwin),
nas ciências sociais esta vinculação é muito mais constante, imediata
e abrangente, e é por isto que o projeto de construção de uma sociologia
"madura", pela acumulação progressiva de conhecimentos parciais,
jamais se concretizou (Merton,1967, p. 39-72; Schwartzman, 1971).
Em Theoretical Logic, Alexander parte do pós-positivismo para
recuperar a importância da elaboração teórica em sociologia. A teoria,
diz ele com razão, não pode ser avaliada simplesmente por suas implicações
empíricas, como queriam os positivistas. Existiriam, no entanto, dois
critérios fundamentais para decidir quanto à validade da argumentação
científica no nível mais teórico. O primeiro seria sua "generalização",
ou seja, "principles so broad in scope that they cannot be subsumed
by any more empirically-oriented level of the scientific continuum"
[entre conceitos gerais e empiria]. Em outras palavras, a teoria deve
ser capaz de criar "a framework within which all other scientific
commitments can be understood as specifications. even while the latter
maintain their analytic independence". O segundo critério seria o
da "decisão", ou "decisividade": os conceitos gerais
devem ter repercussões em todos os níveis mais específicos da análise
social, e não podem ser triviais (Alexander, 1982, p.37).
Mas é claro que, se existe um nível discursivo (e não simplesmente teórico
ou racional) nas ciências sociais, as divergências que nele se manifestam
não podem ser resolvidas pela simples aplicação de critérios analíticos
como os que propõe Alexander, ou seja, o poder de generalização e a "decisividade"
dos conceitos e teorias. Esta dificuldade é explicitada no novo texto
de Alexander, que explica a divisão das ciências sociais em "escolas",
assim como a perenidade dos clássicos em suas sucessivas releituras e
reinterpretações, pela existência de discursos irredutíveis.
Não podendo utilizar-se de critérios racionais, ou formais, para introduzir
sua proposta teórica, Alexander se confessa, ele mesmo, discursando, e
procura se inserir em um movimento pendular que acredita detectar, e que
oscilaria entre o coletivo e o individual, o macro e o micro, o racional
e o afetivo. Existiria atualmente um ponto de convergência neste movimento,
pelo revigoramento do conceito de cultura, que permitiria a integração
dos diferentes pontos de vista hoje em confronto nas ciências sociais.
Sem negar o eventual interesse desta proposta teórica, é bastante claro,
no entanto, que nem ela nem outras conseguirão se firmar pela simples
força de sua argumentação lógica, ou pela persuasividade do discurso que
a acompanha. Existe um nível de sustentação mais profundo que deve ser
alcançado, que é o da vinculação entre o discurso e a realidade social
a partir da qual este discurso é produzido e defendido. É na análise das
relações entre esta prática, os discursos a ela relacionados e os níveis
mais racionais e empíricos do conhecimento que se situa, a meu ver, a
possibilidade de um entendimento mais adequado dos problemas e das potencialidades
das ciências sociais no mundo de hoje.
Prática, discurso e conceitos nas ciências sociais brasileiras: uma
incursão.
Em 1980 a revista Dados publica uma série de artigos sobre "ciências
sociais, democracia e dependência", que buscavam, basicamente, examinar
em que medida as condições especiais em que as ciências sociais eram produzidas
em nosso meio influenciavam seu conteúdo. Wanderley Guilherme dos Santos
discute, em termos muito amplos, a ciência política na América Latina,
e a vê como afligida pelos males de um economicismo e historicismo empobrecidos,
assim como por um marxismo de segunda classe. Para ele, este era o lado
negativo do processo de compartimentalização e especialização das ciências
sociais latinoamericanas, que deveria ser compensado, presumivelmente,
pelo trabalho interdisciplinar. Se a crítica era correta, a interpretação
era duvidosa, já que os males que apontava pareciam, na realidade, afligir
muito mais os países em que as ciências sociais não haviam se institucionalizado
do que propriamente ao Brasil, onde esta institucionalização havia ido
mais longe. Não pareceria que o conceito de especialização e divisão social
do trabalho intelectual fosse suficiente para explicar a predominância
do discurso historicista, economista e empobrecidamente marxista de nossos
cientistas sociais (Santos, 1980, p. 15-28). Fábio Wanderley Reis, em
um artigo totalmente distinto, comparte com Wanderley dos Santos a noção
de que as condições "externas" do trabalho científico podem
certamente prejudicar sua qualidade, mas não chega a avançar nenhuma hipótese
sobre estas condições e os conteúdos substantivos dos discursos (Reis,
1980, p.59-78).
O trabalho de Bolivar Lamounier (1980, p. 29-58) é complexo e difícil
de resumir, a não ser em uma interpretação livre como a que fazemos aqui.
Tal como Alexander para a sociologia, ele busca examinar a evolução de
alguns conceitos centrais das ciências políticas contemporâneas - o Estado,
a ação coletiva - e observa que é este "o aspecto da análise política
mais sensível à influência dos contextos sociais específicos: a porta
pela qual as diversas 'ontologias' do social penetram no discurso científico,
e, ao fazê-lo, mostram seus limites" (p. 44). Tal como em Alexander,
está presente a idéia do "discurso"; indo mais além, no entanto,
Lamounier trata de identificar, por um lado, sobre quais conteúdos os
discursos incidem mais diretamente; e, por outro, os contextos sociais
específicos que os condicionam. Na segunda parte de seu trabalho, ele
propõe uma periodização da ciência política brasileira e de seus temas
respectivos: o período até 1945, caracterizado por ensaístas preocupados
com os problemas da formação do Estado Nacional; o período 1945-1964,
orientado para as questões da expansão da cidadania e da capacidade de
ação racional do Estado; e o período pós 1964, em que as ciências políticas
se institucionalizam ou se esfacelam, e refletem criticamente sobre as
experiências anteriores (interpretação semelhante para o desenvolvimento
da antropologia no Brasil é desenvolvido por Peirano, 1981). Se até 1945
os intelectuais brasileiros participavam, individualmente, de um projeto
de construção do Estado tornado ilegítimo com a democratização do pós-guerra
(Oliveira Viana é o grande exemplo), e se nos anos seguintes pretendeu-se,
pelo engajamento partidário ou ação grupal, uma liderança em um processo
político de ampliação da participação e do aumento da racionalidade do
Estado (o exemplo aqui é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros),
no período pós 64 se instala uma grande divisão que Lamounier percebe,
mas não explica em maior profundidade. Por um lado, há uma visão fortemente
militante, trabalhado com um estilo de análise "demasiado globalizante
e demasiado insensível ao caráter constitutivamente precário de toda a
integração política" (p. 56), e sujeita, podemos acrescentar, às
críticas de Wanderley dos Santos no artigo citado mais acima. Por outro,
surge uma ciência política particularizada, perdida em uma miríade de
estudos isolados de processos decisórios, participação eleitoral e tantos
outros, mas incapaz, na visão de Lamounier, de enfrentar com a devida
atenção as grandes questões da ciência política contemporânea, que giram
ao redor do tema do controle democrático sobre os sistemas políticos de
larga escala. Ambos seriam produtos de uma ciência política afastada e
de costas para o poder político constituído; o primeiro grupo possivelmente
mais vitimado pela repressão ideológica, e sofrendo o impacto de um sistema
universitário em decomposição; o segundo mais isolado e trabalhando em
instituições que, de alguma maneira, conseguiram se desenvolver de forma
até mais estável do que nas décadas anteriores, mas que pouco podiam pretender
além do trabalho acadêmico enquanto tal. Se o primeiro discurso é globalizante
e simplificador, o outro tenderia à complexidade, ao detalhe e à inconclusividade;
se um é mais próximo do ethos da militância política ou do intelectualismo
alienado, o outro se aproximaria do estilo dito "científico".
Um artigo de Valéria Pena (1980, 93-110), já agora sobre a sociologia,
procura recuperar o sentido positivo da segmentação, do não enfrentamento
das "questões centrais" tão cruciais nas preocupações de Bolivar
Lamounier. A virtude da "nova sociologia" brasileira (que ela
faz acompanhar,precavidamente, de um ponto de interrogação) seria exatamente
a convivência com a diversidade, o tratamento do concreto, a descoberta
de que "as hierarquias são muitas e as opressões várias", e
que por isto vários deverão ser não só os conhecimentos, mas também as
próprias práticas políticas (p. 93). A mulher, o quotidiano dos trabalhadores,
os problemas dos negros, a sociedade camponesa, os padrões quotidianos
de convivência, cada uma destas coisas vem encontrando seus estudiosos,
seus apaixonados e seus novos militantes. Não existe discurso, mas discursos.
No fundo, uma sensação de que os "grandes temas" são inacessíveis,
tanto quanto o poder político também o era. Mas a vida continua, tem muitas
facetas, e as ciências sociais poderiam, quem sabe, encontrar novo alento
no contato com a realidade concreta dos homens.
Em certo sentido, o trabalho de Valéria Pena assinala o fim de um grande
círculo iniciado muitos anos antes, quando, no Brasil, a sociologia surgiu
como contestação ao pensamento jurídico, consolidado no poder e apropriado
pelas elites mais tradicionais. A sociologia se pretendia então militante,
globalizante, histórica, incluía o econômico e, sobretudo, o político.
Em parte pelo próprio processo de institucionalização das disciplinas
acadêmicas, em parte pelo ambiente político e institucional que passa
a existir no Brasil a partir dos anos 60, este quadro vai se alterando.
A economia se transforma cada vez mais em disciplina independente, fechada
em seus diferentes paradigmas, apresentando-se muitas vezes como "técnica"
e despolitizada, e de qualquer forma sem reconhecer a legitimidade acadêmica
e intelectual das demais ciências sociais. A ciência política, que não
existia na tradição brasileira a não ser como um ramo do Direito (a chamada
"teoria geral do Estado), encontra sua identidade a partir, principalmente,
do mundo acadêmico norteamericano, e começa a absorver muitos dos sociólogos
formados na tradição mais globalista (e francesa) anterior. Reduzido ao
econômico, por um lado, e ao político, por outro, o social perde legitimidade
como objeto, e a crise da sociologia como disciplina se instala. Esta
crise explica, de alguma forma, a transformação que se opera na antropologia
brasileira, que gradualmente começa a voltar seus olhos das populações
indígenas para a realidade do mundo dito "civilizado", e mais
especificamente para seus setores menos privilegiados, os camponeses,
os pobres das cidades e os negros. É junto a esta antropologia do mundo
moderno que a nova sociologia identificada por Valéria Pena vai buscar
sua inspiração mais fecunda.
A convivência com a fragmentação e o plural, no entanto, requer a estabilidade
relativa da vida acadêmica. Todos os trabalhos examinados por Valéria
Pena foram elaborados nas principais instituições de pesquisa em ciências
sociais do país -- IUPERJ, Universidade de São Paulo, Museu Nacional do
Rio de Janeiro, CEDEC. Enquanto isto, os cursos de pós-graduação continuavam
a formar cientistas sociais que as instituições acadêmicas não mais absorveriam,
ou só absorveriam precariamente. Ao mesmo tempo, o regime militar começava
a mostrar suas fissuras, e os movimentos reivindicativos da sociedade
se tornavam cada vez mais fortes e audaciosos. Era uma nova realidade
que surgia, e nela uma boa parte das ciências sociais brasileiras mergulharia
de cabeça.
Era chegada a hora, como assinalou um observador atento, Mark Oziel,
de "ir para o povo" (Oziel, 1984, p. 245-275). Os intelectuais,
que no tempo do ISEB e do Movimento de Cultura Popular pretendiam ser
a cabeça pensante da nação, e com isto conquistar seu apoio, agora confessam
humildemente sua ignorância, e a necessidade de aprender com a gente simples.
O povo, no novo discurso, sabe votar, é intrinsecamente democrático, tem
uma sabedoria recôndita muito superior, por definição, aos artificialismos
da cultura importada. O intelectual agora assumía a tarefa de dar dignidade
e respeitabilidade às coisas do povo -- sua linguagem, sua religião, seus
valores -- e, a partir deste trabalho redentor, conquistar seu novo espaço.
Esta nova produção intelectual não se canalizava para as sizudas revistas
científicas, mas para os jornais e revistas de grande circulação, para
os partidos políticos e para as salas de aula repletas de jovens que ingressavam
em um sistema universitário em expansão e que viam pouco sentido na antiga
racionalidade acadêmica que, muito suspeitamente, havia florescido nos
anos da ditadura, e parecia ter suas origens no exterior. O novo discurso
valoriza o estilo, a paixão, a simpatia e o compromisso inalienável com
os dogmas populares (a sabedoria do povo, a valorização do emocional e
do intuitivo, a crítica ao raciocínio frio e desumanizado, a oposição
à tecnocracia e ao poder constituído em todas as suas formas. Nem por
isto, no entanto, é um discurso inculto. Para isto estão, e são citados
conforme os gostos e as necessidades, Lacan, Bourdieu, Foucault, Feyerabend,
e até mesmo Derrida para os mais sofisticados. Manejar autores tão complexos
em estilo comunicativo não é tarefa fácil, e por isto uma nova hierarquia
vai se estabelecendo no mundo intelectual, baseada em um discurso radicalmente
oposto e sem diálogo ou síntese possíveis com as ciências sociais tradicionalmente
constituídas, e alimentado cada vez mais por novos que atores até então
não haviam mostrado sua presença, os filósofos e os críticos literários.
Discursos e a natureza do conhecimento social.
A sociologia da ciência, ao colocar o conhecimento científico (ou pelo
menos seu "discurso") no contexto de seus condicionantes sociais,
corre o risco de alimentar uma tese profundamente irracionalista, que
é a de que, no fundo, todas as formas de conhecimento não passam de discursos
alternativos, todos os conhecimentos são iguais, e a noção de "verdade"
nada mais é do que a expressão do poder político (ou da "hegemonia")
de um grupo sobre os outros.
Esta conclusão, no entanto, não é necessária. Diversos tipos de conhecimento
produzem diferentes resultados, e podem ser avaliados pelo que alcançam.
Alguns trazem dividendos políticos; outros atraem grandes públicos, e
formam opinião; outros permitem previsões acuradas de determinados fenômenos
em determinadas condições; outros dão sentido e coerência a coisas que,
de outra forma, permaneceriam estranhas e ininteligíveis; outros, finalmente,
privilegiam o controle sobre a natureza, a eficiência administrativa e
empresarial. Conforme o ambiente histórico, o clima político, as solicitações
e as condições de trabalho dos cientistas sociais (e não só deles), buscam-se
coisas diferentes, e os resultados, por isto, nem sempre são comparáveis
e analisados sob a mesma lógica. O que ocorre cada vez mais com as ciências
sociais, no Brasil como em outras partes, é que os muros que porventura
tenham existido entre o ambiente acadêmico (onde prevalecem os valores
da explicação mais abrangente e mais econômica, da complexidade e do ceticismo
organizado) e os demais são constantemente penetrados de lado a lado,
e o próprio cientista social não sabe que papel desempenha a cada momento.
As dificuldades trazidas por esta situação se tornam evidentes quando
contrastamos o trabalho de Alexander com, por exemplo, recente ensaio
de Eunice Durham sobre a antropologia no Brasil (Durham, 1986). Alexander,
em Theoretical Logic, chama a atenção para três pecados que teriam prejudicado
a produção teórica na sociologia: a redução da problemática teórica ao
engajamento político, presente no debate sobre ideologia; sua redução
às questões de preferências metodológicas, no debate sobre positivismo;
e sua redução a proposições empíricas, no debate sobre o conflito. Superados
estes reducionismos, acredita Alexander estar aplainado o caminho para
a restauração plena do discurso lógico nas ciências sociais, quando então
se torna possível discutir o status teórico de termos como cultura, indivíduo,
ordem social, poder, etc.
Eunice Durham, em seu ensaio, também se preocupa com os deslocamentos
no uso de conceitos teóricos, e assinala algumas interpretações sobre
o contexto da atividade do antropólogo brasileiro e suas implicações epistemológicas.
Nós antropólogos, diz ela, "estamos passando da observação participante
para a participação observante e resvalando para a militância" (p.
27). Paradoxalmente, diz ela, "ao mesmo tempo em que os antropólogos
se politizam na prática do campo, a partir de seu engajamento crescente
nas lutas travadas pelas populações que estudam, despolitizam os conceitos
com os quais operam". Este paradoxo teria duas explicações, uma no
nível social, outra no nível epistemológico. No nível social, a despolitização
dos conceitos seria uma forma de solucionar o conflito entre dois papéis
contraditórios, o acadêmico e o militante. Ela não se utiliza desta terminologia
sociológica, mas diz que "o que estamos fazendo é operar os conceitos
[de classes sociais, ideologia, pessoa, individualismo e identidade) de
tal modo que, evitando o tratamento direto da problemática social e política
que neles está contido, preservamos uma alusão a esta problemática"
(p. 32). A explicação epistemológica é mais complexa, e teria que ver
com a impossibilidade de os antropólogos pensarem a totalidade das sociedades
complexas, da mesma forma que o fazem para as sociedades primitivas, de
escala mais reduzida. Ao buscar fazer uma antropologia "colada"
às populações que estuda, e que não representam, nas sociedades complexas,
senão fragmentos de um todo mais amplo, o antropólogo terminaria também
por se fragmentar, caindo nos "deslizes semânticos" que consistiriam,
basicamente, na utilização de conceitos de forma desligada do contexto
histórico e ideológico em que surgiram.
A proposição de que a ambigüidade de papéis dos antropólogos (e, por
extensão, de outros cientistas sociais) leva a um uso ideológico de conceitos,
por uma parte, e a um tratamento exclusivamente conceitual e teórico da
prática política, por outro, que decorre sem muito esforço do texto de
Eunice Durham, parece bastante rica. Por outro lado, suas conclusões mais
propriamente teóricas, opostas às de Alexander, conduzem, me parece, a
um beco sem saída. Enquanto Alexander procura construir, no terreno movediço
dos discursos e dos condicionantes sociais do conhecimento, uma fundação
para uma lógica teórica de validade geral, Eunice Durham parece requerer,
não somente que os antropólogos se "descolem" de seus objetos
de estudo, mas inclusive que se construa, "em algum lugar da reflexão
antropológica" brasileira, um quadro conceitual adaptado à nossa
realidade, e que possa substituir, presumivelmente, o uso de conceitos
como os de classe social, grupo de status, identidade, ideologia ou pessoa.
Se levada ao extremo, seria uma tese que iria contra toda a tentativa
de dotar as ciências sociais de generalidade e abrangência explicativa.
Dentro de seus limites, ela é útil para lembrar que nem o engajamento
puro e simples, nem o uso abstrato e vazio de conceitos, e muito menos
a esquizofrenia de tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, produz
uma ciência social realmente significativa. A boa ciência social, poderíamos
acrescentar, supõe um interesse genuíno do pesquisador pela realidade
que estuda, uma compreensão adequada dos contextos sociais em que surgem
e se desenvolvem as idéias, e um esforço de trabalhar com conceitos cada
vez mais universais e abrangentes.
A "nova república" traz para as ciências sociais brasileiras
novas condições, e novas necessidades de exame e interpretação. Se antes
os muros acadêmicos já eram penetrados pelo "hype" dos meios
de comunicação de massas e da mobilização política, agora chegam também
as demandas de participação na administração da coisa pública. Já não
basta interpretar, criticar e analisar, é necessário agora poder agir,
mas sem deixar de criticar nem de manter a linguagem da comunicação bem
sucedida. Se alguns cientistas sociais se especializam em alguns destes
papéis -- renunciando, quem sabe, aos favores dos mídia em benefício do
trabalho acadêmico, ou renunciando à possibilidade de participar no governo
em nome da militância política, ou vice-versa -- a maioria prefere conviver
com a multiplicidade de papéis e tratar, de alguma forma, de conciliá-los,
gerando dificuldades como as que Eunice Durham evidencia. A tarefa é cada
dia mais complexa.
A conclusão é que, se os discursos nas ciências sociais se explicam por
condicionantes sociais e institucionais passíveis de serem reconhecidos,
a discussão intelectual e conceitual sobre sua validade não pode ser desligada
não só de uma análise, como tampouco de um envolvimento pessoal constante
e permanente dos cientistas sociais a respeito do espaço social que deve
caber em determinado meio para eles próprios, e dentro do qual eles possam
florescer em um sentido ou outro.
O Brasil, em comparação com muitos outros países, já logrou muito nesta
direção, e por isto as ciências sociais brasileiras têm florescido. Mas
é importante ter sempre presente e problematizado o contexto em que trabalhos.
As ciências sociais, em suas diversas modalidades, necessitam de espaços
relativamente permanentes e estáveis, para que a discussão sobre as condições
dos discursos não dominem toda a sua atenção, deixando pouco espaço para
a produção de conhecimentos enquanto tal.
Referências:
Alexander, Jeffrey, C.: 1986, "O Novo Movimento Teórico", Revista
Brasileira de Ciências Sociais 4, 2, junho de 1987, p. 6-28, preparado
originalmente para publicação como "The New Theoretical Movement",
a sair em Neil J. Smelser e Ron Burt, editores, Handbook of Sociology,
Beverly Hills, Sage Publications.
Alexander, Jeffrey C.: 1982, Theoretical Logic in Sociology,
Berkeley, University of California Press, 4 volumes.
Bloor, David.: 1976, Knowledge and Social Imagery, London, Routledge
& Kegan Paul.
böhme, G. e outros: 1976, "Finalization of Science", Social
Science Information XV, 306-330.
böhme, G.: 1977, "Models for the Development of Science", in
I. Spiegel-Rõsing e D. S. Price, Science, Technology and Society,
Beverly Hills, Sage Publications, 1977, 319-354.
Durham, Eunice R. "A Pesquisa Antropológica com populações urbanas:
problemas e perspectivas", in Ruth Cardoso (ed), A Aventura Antropológica,
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986.
Koyré, A.: 1939, Études Galiléeenes, Paris, Hermann.
Lamounier, B.: 1980, "Pensamento Político, Institucionalização Acadêmica
e Relações de Dependência no Brasil", Dados - Revista de Ciências
Sociais, 23, 1.
Merton, R. K., 1967 - "On Sociological Theories of Middle Range",
in On Theoretical Sociology, New York, Free Press, 39-72.
Oziel, Mark J.: 1984, "Going to the people: popular culture and
intellectuals in Brazil", Archives Européenes de Sociologie,
XXV, 245-275.
Peirano, M.: 1981, The Anthropology of Anthropology: The Brazilian
Case, Universidade de Harvard, Departamento de Antropologia, tese
de doutoramento.
Pena, M. V. J.: 1980, "Uma Nova Sociologia?, Dados - Revista
de Ciências Sociais, 23, 1.
Polanyi, M.: 1958, Personal Knowledge, London, Routledge &
Kegan Paul.
Reis, F. W.: 1980, "O Grifo é Nosso: Academia, Democracia e Dependência",
Dados - Revista de Ciências Sociais, 23, 1.
Santos, W. G. : 1980, "A Ciência Política na América Latina: Nota
Preliminar de Auto-Crítica", Dados - Revista de Ciências Sociais,
23, 1.
Schwartzman, S.: 1971, "O Dom da Eterna Juventude", Dados,
vol. 8.
Silva, Walzi C. S.: 1985, A Quase Ciência da Ciência: um ensaio crítico
sobre o programa forte de David Bloor, Rio de Janeiro, IUPERJ, tese
de mestrado em sociologia.