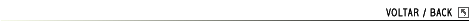
A Redescoberta da Cultura
Os Paradoxos da Ciência e da Tecnologia
Simon Schwartzman
Publicado inicialmente em Ciência Hoje,e incorporado
em Michael Gibbons,Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman,
Peter Scott e Martin Trow, The New Production of Knowledge
- The dynamics of science and research in contemporary societies,
London, Thousand Oaks e New Delhi, Sage Publications, 1994.
Incluído em A Redescoberta da Cultura, São Paulo, EDUSP,
1997.
A ciência e a tecnologia contemporâneas passam por mudanças rápidas e
paradoxais, difíceis de explicar em termos simples. Estão se tornando
mais globais, mas também mais concentradas; exigem mão-de-obra mais educada,
mas substituem os homens pelas máquinas; tornam-se mais aplicadas, mas
também mais básicas; estão mais ligadas do que nunca à iniciativa privada,
mas continuam dependentes de políticas públicas e apoio governamental.
No texto que se segue, tentarei detalhar algumas dessas tendências aparentemente
contraditórias e as implicações que acarretam, do ponto de vista de políticas
para o setor.
Basta olharmos em torno para ver como a ciência e a tecnologia modernas
estão presentes em tudo, invadindo todos os tipos de atividades humanas.
Menos óbvio é que se tornam também mais esotéricas, sendo compreendidas
por um número pequeno, e até mesmo decrescente de pessoas. Isto é o oposto
do que se pensava normalmente, quando a ciência e a educação eram vistas
como parte de uma tendência global e irreversível ao progresso e à racionalidade,
que inevitavelmente chegaria a todas as sociedades, embora em momentos
distintos (Basalla, 1989). Vários fatos, nos países industrializados,
pareciam confirmar essa tendência: a expansao do ensino em todos os níveis;
a importância crescente das profissões de base científica e tecnológica,
substituindo as velhas tradições humanísticas; o fascínio popular pelas
conquistas da ciência moderna, gerando grupos de cientistas amadores e
atraindo mentes brilhantes para as profissões científicas; os investimentos
cada vez maiores em pesquisa, oriundos de governos e de agências e instituições
privadas; e, mais recentemente, o desenvolvimento da indústria e dos serviços
de alto conteúdo tecnológico.
Ciência moderna e cultura científica
Agora, muitas dessas tendências parecem estar se revertendo, ou pelo
menos apontando para direções inesperadas. À medida que a ciência e a
tecnologia modernas tornam-se mais complexas e dispendiosas, exigindo
muitos anos de estudo aplicado e de especialização, equipamentos sofisticados
e caros, e linguagens cada vez mais esotéricas, aumenta a distância entre
o cientista e o leigo, que passa a conceber a ciência e seus produtos
como que revestidos de qualidades mágicas. No passado, nem todos podiam
ser um inventor como Thomas Edison ou um Rudolf Diesel, mas não era difícil
para uma pessoa de educação mediana compreender como um telefone ou um
automóvel funcionavam, e lidar com eles quando necessário. Mesmo os rádios
podiam ser desmontados e montados com pouco mais do que uma chave-de-fenda,
e revistas de ciência popular e cursos por correspondência davam as informações
necessárias a preços módicos. Hoje, quem abrir os produtos das modernas
tecnologias encontrará apenas chips e circuitos impressos incompreensíveis,
e não terá como fugir da assistência técnica especializada.
Com isto desaparece velho herói da ciência e tecnologia do passado, o
'inventor'. Figuras como Graham Bell, os irmãos Wright e Santos Dumont
conquistavam a imaginação das pessoas não só pelo engenho de suas invenções,
mas porque pareciam não ser muito diferentes de qualquer pessoa empreendedora,
razoavelmente habilidosa e talvez ligeiramente louca. A maioria dos países
ocidentais tem seus próprios inventores e pioneiros do avião, do carro
motorizado e da câmera fotográfica, fontes de orgulho nacional e inspiração.
Os heróis científicos de nosso tempo, contudo, são melhor exemplificados
por Albert Einstein e Stephen Hawking, admirados como homens quase supra-naturais,
conhecedores de matemáticas incompreensíveis e estranhas teorias sobre
as origens e a natureza do universo, que nenhuma pessoa comum tem a esperança
de entender. A esse distanciamento entre a ciência e o homem comum, poderíamos
acrescentar a demonização da ciência, da tecnologia e da racionalidade,
que é parte da cultura popular em muitas partes do mundo. Não é somente
que a ciência pode ser destrutiva, como as bombas atômicas e as armas
químicas. A ciência e a tecnologia moderna são acusadas de destruir o
meio ambiente, gerar desemprego, danificar a saúde e controlar a sociedade
através de seus computadores, burocracias e instituições educacionais.
A conseqüência é que, ao mesmo tempo em que a ciência moderna se expande,
talvez exista hoje menos 'cultura científica' e 'ideologia científica'
entre pessoas instruídas do que no passado. As pessoas sabem menos, e
acreditam menos em seu valor.
A educação formal expandiu-se em todos os níveis nos países industrializados,
e uma de suas suposições é que ela poderia transmitir, desde a escola
básica, algo específico que poderia ser chamado de 'método científico',
ou de modo científico de pensar, diferente (e melhor) do que as operações
de mentes não cultivadas. Hoje sabemos que não há um 'método científico'
em si, separado dos campos e tradições específicas de pesquisa, uma espécie
de "ginástica da inteligência" que possa ser usada na preparação
de mentes. O trabalho efetivo nas ciências contemporâneas está mais distante
do que nunca daquilo que pode se passar numa sala de aula. O que a educação
básica pode fazer, como fez com mais ou menos sucesso em muitos casos,
é modelar atitudes - convencer pessoas do valor da ciência e acostumá-las
às exigências de um trabalho disciplinado e concentrado. É por isso que
a educação no Japão e em alguns outros países pode ser ao mesmo tempo
conservadora do ponto de vista pedagógico e tão eficiente na obtenção
de gente capaz para a pesquisa tecnológica. Os EUA, em contraste, com
uma experiência muito mais rica de incentivos à criatividade, curiosidade
e iniciativa entre os estudantes, parecem ter muito menos sucesso na transformação
de seus jovens em pesquisadores empenhados em seu trabalho.
A situação tornou-se ainda mais problemática com a tendência à universalização
do ensino secundário e à massificação do ensino superior. Países pequenos
e homogêneos podem não sentir o problema tão fortemente quanto os EUA,
Brasil, índia ou Indonésia. Os sistemas educacionais nestas sociedades
são como colchas de retalho de tradições culturais e sistemas de valores
entrecruzados, que não poderiam tornar-se homogêneos pela simples transmissão
de conteúdos educacionais padronizados na sala de aula, mesmo que suas
escolas tivessem um bom desempenho e dispusessem de bons professores e
equipamentos, o que na maioria das vezes não acontece. O que chega à maioria
dos estudantes, em nome da ciência e das humanidades, é fragmentário,
difícil de aprender e com freqüência destituído de sentido, tanto para
os alunos como para os professores. Reações comuns são, primeiro, as tentativas
de substituir a formação científica ou humanística geral pela formação
profissional especializada, supostamente mais prática, mas claramente
inadequada em relação às exigências de conhecimento das sociedades contemporâneas;
e, segundo, a busca de cursos voltados à construção de identidades coletivas
e de cosmogonias mais simples do que aquelas proporcionadas pela difícil
e incerta estrada da ciência. Se estes conhecimentos não estiverem disponíveis
dentro das instituições de educação formal, eles podem ser encontrados
nos meios de comunicação de massas e em outros lugares. O resultado é
a combinação de perfis profissionais empobrecidos e estreitos com visões
de mundo "alternativas" que vão desde a busca da sabedoria oriental
à elaboração mapas astrológicos por computador, passando pela medicina
homeopática e pelos alimentos 'orgânicos' e semi-mágicos. Em geral, essas
cosmogonias e estilos de vida alternativos não exigem a rejeição dos produtos
da tecnologia avançada, dos automóveis e motocicletas aos conjuntos de
TV-vídeo, ou ao uso de informação computadorizada e bancos de dados. Recentemente,
em algumas ilhas do Pacífico, antropólogos encontraram tribos que construíam
altares na forma de aviões, e rezavam para que eles mandassem alimentos
e outros produtos por para-quedas. Este "culto da carga" está
mais próximo da realidade das sociedades modernas do que se supõe.
Globalização e concentração
A capacidade de difundir informações de modo barato e quase instantâneo
pelo mundo não parece estar levando somente a uma melhor distribuição
da competência científica, mas também à sua crescente concentração. O
fenômeno é semelhante ao que ocorre quando novas estradas ligam cidades
modernas e centrais a áreas e regiões periféricas. Os mais capazes deixam
as suas regiões, as velhas lideranças perdem o prestígio, a indústria
local é sufocada pelos produtos de massa que chegam por caminhão. O processo
não é irreversível, já que, com as facilidades de comunicação, o próprio
conceito de "periferia" pode perder sentido. A globalização
é extremamente eficaz na destruição da cultura e da organização locais,
mas é bastante incerta em sua capacidade de substitui-las com alternativas
verdadeiramente universais.
Um aspecto deste processo é a coexistência entre processos de estandardização,
requeridos pelos fluxos globais de informação, e as tendências à diversificação,
facilitadas pela crescente disponibilidade de meios alternativos. Isto
fica especialmente claro na indústria editorial e nos meios de comunicação.
A indústria editorial depende hoje de uns poucos best sellers
que são vendidos aos milhões através de canais padronizados e sustentados
por uma publicidade elaborada e dispendiosa. Jornais locais são coisa
do passado, sendo substituídos pelas revistas nacionais e internacionais;
o mesmo ocorre com o rádio e a televisão, substituídas pelas redes nacionais
e até mesmo globais. Não só o número de best sellers, jornais
e revistas é pequeno, como eles tendem a se limitar a uma estreita faixa
de temas, questões e personalidades, criando assim um mundo muito restrito
e provinciano em escala global.
A tecnologia da moderna comunicação, contudo, também está estimulando
uma tendência oposta. Os computadores pessoais tornaram a edição em pequena
escala uma atividade simples e acessível, a televisão por satélite e cabo
ameaça ambas as extremidades do monopólio das redes nacionais de TV, e
os baixos custos da comunicação permitem fluxos simultâneos em todas as
direções. Seria possível imaginar que atual tendência à concentração e
crescimento assimétrico esteja sendo substituída por uma nova tendência
à diversificação e à complexidade crescentes. O mais provável, no entanto,
é que as duas tendências vejam a coexistir como faces da mesma moeda:
de um lado, comunidades pequenas mas cada vez mais complexas e diversificadas
de produtores de moderna tecnologia e consumidores de seus produtos mais
sofisticados; do outro lado, consumidores de produtos 'empacotados'.
O modo pelo qual essa transformação está afetando a ciência e a tecnologia
ainda não foi suficientemente explorado, mas também aqui devem ocorrer
paradoxos. Com a recente explosão das redes de computadores, é quase tão
fácil trabalhar com informação de primeira linha e equipamento computadorizado
na América Latina quanto na Ásia ou em Boston, e projetos de cooperação
estão hoje muito mais livres das limitações geográficas do que antes.
A ausência de boas livrarias e jornais, um problema crônico nas regiões
menos desenvolvidas, tende a deixar de ser importante, à medida que o
acesso à distância de bancos integrados de dados e as transmissões por
fax se tornam mais baratas. Para os cientistas que deixarem suas instituições
e laboratórios para trabalhar em regiões distantes, o trabalho pode continuar
como se eles não tivessem partido, porque seu laboratório, na prática,
passa a ser o mundo. Para cientistas e tecnólogos de instituições e áreas
periféricas, entretanto, os efeitos dessa mudança podem ser catastróficos.
Eles não terão desculpas para trabalhar em sua língua nativa, ou em assuntos
diferentes daqueles que atraem a atenção dos colegas dos principais centros.
Eles serão comparados com seus pares nesses centros, e não com os seus
pares em sua instituição ou região de origem. Haverá menos razões para
difundir os recursos humanos e técnicos geograficamente. A concentração
do conhecimento e da competência científica poderá crescer em proporções
extraordinárias, levando instituições de pesquisa inteiras e gerações
de cientistas à obsolescência.
Capacitação e desqualificação do trabalho
Os complexos produtos da moderna tecnologia se apresentam de forma cada
vez mais simples não só para o comprador final de bens de consumo (tudo
funciona com o aperto de um botão), mas, em muitos casos, também para
o trabalhador da linha de montagem. Há duas interpretações opostas dessa
tendência. Uma é a teoria do deskill, ou da desqualificação do
trabalho: ela afirma que, na medida em que a intensidade de conhecimento
aumenta, o trabalhador se desqualifica, já que o conhecimento fica "corporificado"
nos equipamentos e apropriado por um grupo restrito de engenheiros especializados.
A evidência disso seria o crescimento da utilização de trabalhadores disciplinados
e baratos (em geral mulheres) nas linhas de montagem de países menos desenvolvidos
para a produção de produtos eletrônicos e bens de consumo de alta tecnologia.
A interpretação oposta sustenta que a desqualificação foi uma característica
da revolução industrial das primeiras décadas deste século, caracterizada
pelo trabalho repetitivo nas linhas de montagem. Hoje, no entanto, a produção
industrial requereria pessoas melhor instruídas e treinadas, aptas a compreender
e a desempenhar seu trabalho de maneira integral, e não segmentada. Nesta
interpretação, estaríamos vivendo uma nova revolução industrial que tenderia
a recuperar, em um outro nível, a tradição de competência artesanal que
foi perdida com as linhas de montagem. O trabalhador moderno deveria ter,
sobretudo, habilidades de genéricas (entender o que lê, escrever, fazer
as operações matemáticas básicas, entender a sociedade em que vive). A
automação tenderia, não a aumentar o uso do trabalhador desqualificado,
mas a eliminá-lo totalmente, concentrando a produção, e a riqueza, naquelas
sociedades capazes de incorporar trabalho qualificado em todos os níveis
do processo produtivo.
Na realidade, pareceria que não existe um determinismo tecnológico absoluto
a este respeito (Joravsky, 1989). As tecnologias modernas podem tanto
desqualificar o trabalhador (a automação bancária, por exemplo, que banaliza
os trabalhos dos caixas de banco), como se apoiar na dedicação, diligência
e competência dos trabalhadores em utilizar instrumentos e procedimentos
complexos (as modernas indústrias automobilísticas). Tudo depende, em
grande parte, da existência de uma população educada e capaz de se incorporar
ao processo produtivo em determinada região ou país, que tenderá a concentrar
os processos produtivos mais complexos e intensivos de trabalho qualificado.
A conseqüência é uma divisão de trabalho que já está acontecendo entre
as nações e regiões com alta tecnologia e o resto do mundo, com as tarefas
mais complexas (e mais rendosas) reservadas para os primeiros e as tarefas
rotineiras (e mais baratas) cabendo aos segundos. A automação, contudo,
reduz a necessidade do trabalho disciplinado e não qualificado, deixando
as regiões de baixa tecnologia como meros consumidores - mas sem a renda
para pagar pelos produtos. A moderna ciência e a tecnologia são compatíveis
tanto com uma população qualificada por um sistema educacional que proporciona
as habilidades gerais necessárias para a manipulação dos serviços e equipamentos
modernos, e o uso complexo e sofisticado de seus produtos, como com consumidores
de produtos empacotados, que só aprendem a apertar botões, e não adquirem
as qualificações necessárias para os trabalhos complexos. Mas os resultados
não são idênticos, já que os primeiros tenderão a concentrar a riqueza
e os benefícios das modernas tecnologias, alijando aqueles que não conseguirem
fazer a transição para os novos tempos (Porter, 1990).
Investimentos crescentes e recursos minguantes
As transformações descritas acima coincidem com uma crise generalizada
do "welfare state", o estado protetor e beneficiente, que não
parece depender somente da riqueza relativa de cada país. Em níveis diferentes,
mas por volta da mesma época na década de 1980, a maioria dos países parece
ter exaurido sua capacidade de aumentar a transferência de recursos do
setor produtivo para áreas como educação, saúde, aposentadorias e pesquisa
de longo prazo. Isto parece contradizer a noção de que a ciência e a tecnologia
são mais importantes hoje do que nunca, e estão recebendo cada vez maiores
porções de recursos, pelo menos nos principais países industrializados.
Duas tendências principais explicam essa possível discrepância. A primeira
é que investimentos em C&T tendem a ser dirigidos cada vez mais para
o setor industrial, e aplicados por indústrias e governos fora das instituições
científicas tradicionais como universidades e centros de pesquisa básica.
A segunda é que, nas ciências básicas, há uma concentração crescente de
recursos em poucos projetos, porém extremamente amplos. Uma recente pesquisa
pela Science sobre as perspectivas das carreiras científicas
nos EUA para a próxima década apontou uma pressão constante para concentrar
recursos em áreas definidas de acordo com sua relevância social e econômica
- pesquisa industrial, militar e educacional-, que são percebidas por
muitos como uma ameaça às possibilidades científicas do país a longo termo
(Hodlden, 1991). Esta busca de resultados práticos coincide com concentração
dos investimentos em ciências básicas em um número reduzido de grandes
projetos, nos campos da física de altas energias, da exploração espacial
e da biotecnologia. A projeção é que, nos EUA, se os gastos em C&T
crescerem em cerca de 3% ao ano na próxima década, apenas quatro grandes
projetos absorverão todo o aumento - o Superconducting Collider, o projeto
de mapeamento do genoma humano e dois projetos da NASA (a estação espacial
e um sistema de monitoramento terrestre). Um efeito lateral é a 'coletivização'
da atividade científica, que é percebida por muitos como uma ameaça à
capacidade de inovação das lideranças individuais e dos pequenos grupos,
e um desestímulo ao ingresso de estudantes bem dotados e promissores nas
carreiras científicas.
Saindo das universidades e retornando a elas.
O predomínio da pesquisa aplicada e dos laboratórios de grande porte
torna cada vez mais difícil à ciência moderna permanecer confinada a departamentos
universitários, centros acadêmicos, institutos governamentais e mesmo
laboratórios industriais isolados. A época atual se caracteriza por novos
arranjos institucionais, ligando governo, indústria, universidades e grupos
de consultoria privados de várias formas. Países com uma tradição de pesquisa
universitária sentem que temem que ela esteja sendo ameaçada pela intromissão
da indústria e pela mentalidade do lucro; países com forte tradição de
pesquisa não universitária sentem a necessidade de aproximar suas instituições
de pesquisa ao meio acadêmico, como forma de permanecer em dia com inovação
e competitividade intelectual (Hague, 1991).
A educação também passa por inovações importantes, que começam a colocar
em questão os sistemas de ensino tradicional. Ao lado do ensino formal,
desenvolveu-se uma grande indústria da educação e do conhecimento, que
responde de modo muito mais direto, e em geral mais eficaz, às necessidades
da indústria e do mercado de trabalho, e conduz à corrosão do monopólio
de que as universidades desfrutaram na difusão do conhecimento e no fornecimento
de credenciais de ensino no setor privado. Uma recente matéria publicada
pelo Wall Street Journal indica que as companhias americanas
estão gastando cerca de 30 bilhões de dólares por ano em educação, um
valor que provavelmente subirá, uma vez que ainda atinge apenas 1,5% do
total das folhas de pagamento e envolve somente 10% da força de trabalho,
e que a IBM sozinha gastou cerca de 270 milhões de dólares, ou 9% de seu
lucro, em treinamento, em 1989 (Wall Street Journal, 1990).
Políticas governamentais e iniciativa privada
O papel cada vez maior da pesquisa aplicada e industrial, e o desenvolvimento
de uma gigantesca indústria do conhecimento, levaram muitos a concluir
que o apoio público à ciência, tecnologia e mesmo educação é coisa do
passado, a ser substituído pela iniciativa privada. A realidade é muito
mais complexa.
A primeira evidência vem do Japão e dos "Tigres Asiáticos",
incluindo Coréia, Cingapura e Taiwan. (Bradford, 1984). Esses países costumam
ser apresentados como casos de êxito do livre mercado e da competição,
em contraste com as dificuldades encontradas das economias centralizadas
conduzidas pelo Estado. Em contraste com os Tigres Asiáticos, o Brasil
é citado com freqüência como exemplo de país que falhou em seu esforço
de desenvolvimento por excesso de interferência estatal na economia. Até
o final da década de 1970, o Brasil tinha uma das taxas de crescimento
econômico mais elevadas do mundo, e sua capacidade, desde o início da
década de 1980, de gerar enormes superavits comerciais para pagar sua
dívida externa pode ser creditada aos ambiciosos programas de governo
dos anos 70, voltados para o desenvolvimento industrial e tecnológico
e para a modernização. Há um debate em curso sobre as razões da crise
e da estagnação dos anos 80, e as explicações vão desde a exaustão do
esforço de substituição de importações da década anterior às limitações
econômicas impostas pela dívida externa, ou às conseqüências dos investimentos
faraônicos e da inchação da burocracia perdulária que se processaram durante
duas décadas de regime militar. Não há sinais, contudo, de que o setor
privado sozinho seja capaz de tomar o lugar do Estado no esforço para
o reajustamento econômico, na modernização industrial, na qualificação
científica e tecnológica e na educação.
A análise mais aprofundada do caso dos países asiáticos mostra, no entanto,
não o afastamento do Estado das atividades de desenvolvimento industrial
e tecnológico, mas, ao contrário, um envolvimento governamental muito
mais forte e decisivo do que o que jamais pode ser feito no Brasil (Rusing
e Brown, 1986). Existem pelos menos quatro diferenças importantes, no
entanto, que costumam ser assinaladas. A primeira é que a ação governamental
nos países asiáticos não se deu pela constituição de um grande conjunto
de empresas estatais, como no Brasil, e sim pela associação entre o Estado
e o setor privado. Segundo, naqueles países, as políticas de desenvolvimento
industrial e tecnológico se pautaram sempre por claras considerações macroeconômicas,
voltadas sobretudo para a obtenção de competitividade nos mercados internacionais.
Terceiro, o desenvolvimento da capacidade inovativa nas indústrias se
deu a partir da produção de componentes simples, que foram gradualmente
se sofisticando. E quarto, o fortalecimento de indústrias nacionais não
se fez pela exclusão de firmas e tecnologias estrangeiras, mas a partir
de associações com elas. É exatamente o contrário do que o Brasil tentou
fazer na área de informática, criando empresas estatais, como a Cobra,
garantindo preços internos irrealistas pelo fechamento do mercado, tentando
começar pelo produto final, o computador (com a idéia de ir nacionalizando
aos poucos os componentes) e impedindo a presença das firmas e tecnologias
de outros países.
O Brasil é muitas vezes comparado com a França, um país que ficou em
defasagem em algumas das tentativas dirigidas pelo Estado para vencer
sua defasagem na competição internacional, na área de computadores, fabricação
de automóveis e produtos eletrônicos, entre outros. No entanto, alguns
dos projetos dirigidos pelo governo francês constituem casos de sucesso
inquestionável, tanto do ponto de vista econômico como tecnológico, como
o trem de alta velocidade (TGV), o programa de energia nuclear, o setor
telecomunicações e a indústria aeronáutica. Estes sucessos são explicados
pela excepcional competência técnica da administração pública francesa,
pela existência de uma força de trabalho altamente experiente, e pela
coexistência com um setor privado competente e eficiente. No entanto,
existe bastante consenso, hoje, que o modelo francês de desenvolvimento
industrial nacionalizado está em crise. O exemplo francês, como o dos
Tigres Asiáticos, confirma que o Estado tem um papel importante a desempenhar
na modernização industrial e tecnológica, mas que este papel não pode
se resumir aos supostos do nacionalismo tradicional (Brickman, 1986).
Políticas de ciência e tecnologia: realidades complexas, mitos simples
As antinomias discutidas nos parágrafos acima colocam em questão muitas
das suposições tradicionais a respeito das políticas nacionais e internacionais
para ciência e tecnologia. A Segunda Guerra Mundial consolidou a crença
na importância da ciência, não só para ganhar guerras, mas também para
gerar dividendos na paz. Depois da guerra, a pesquisa científica parecia
ser uma cornucópia aberta a todos os países, e conselhos científicos foram
criados em toda parte, freqüentemente com apoio e incentivo das Nações
Unidas, agências nacionais de assistência externa e fundações privadas
nos países industrializados. Supunha-se que, com instituições científicas
funcionando e educação científica adequada, todos os países poderiam participais
em bases relativamente iguais dos benefícios da ciência e da tecnologia
modernas. O que testemunhamos nos últimos dez ou vinte anos é que esta
suposição não se agüenta mais em pé. Não se trata apenas de que a maioria
dos países do Terceiro Mundo falharam em sua tentativa de construir instituições
modernas, de alta qualidade científica; mas até mesmo países relativamente
bem desenvolvidos e com a população bem educada (como os da Europa e,
naturalmente, os do bloco socialista) começaram a perceber que seu patrimônio
científico e tecnológico estava se tornando obsoleto. Não está claro se
os recentes esforços para ampliar os investimentos em C&T e para estabelecer
redes de cooperação internacional na Europa Ocidental serão suficientes
para que ela acompanhe os Estados Unidos e o Japão; o que é certo é que
nenhum outro país ou região consegue acompanhá-los.
Na medida em que a natureza complexa e contraditória da ciência e da
tecnologia contemporâneas se revela, elas gera, em um outro paradoxo,
propostas de políticas públicas que tendem à simplicidade extrema, se
não ao simplismo. Não é difícil compreender porquê. Sociedades que tiveram
sucesso na construção de suas instituições científicas e tecnológicas
realizaram isso de uma maneira não planejada, dentro de um amplo movimento
de crescente educação, industrialização e desenvolvimento da competência
científica e tecnológica. A confiança nos valores da ciência e do saber
era tácita e as atividades científicas, tecnológicas e educacionais foram
mais ou menos deixadas para os cientistas, engenheiros e educadores, que
discutiam com o governo os recursos de que necessitavam, em troca dos
produtos que achavam que podiam entregar. Aqui, uma vez mais, a ciência
e a tecnologia modernas desenvolveram uma das suas muitas faces duplas.
Uma para a sociedade como um todo, clamando seu desinteresse por assuntos
de lucro e de governo, e seus benefícios a longo prazo, como fontes de
conhecimento para a indústria e para as profissões liberais. Outra para
as autoridades governamentais e círculos políticos internos, oferecendo
respostas de curto prazo para complexos problemas econômicos e sociais,
e negociando junto às agências governamentais por recursos crescentes.
Foi possível continuar com essas duas faces enquanto havia confiança geral
nos benefícios da ciência e da tecnologia, e o alto prestígio dos cientistas
garantia para elas os ouvidos e os bolsos dos responsáveis pelo dinheiro
público. As comunidades científicas (e em menor grau os tecnólogos) podiam
se desenvolver ajustando-se gradualmente às circunstâncias externas, sem
perder sua capacidade de decidir com independência aquilo que deveria
ser feito, e em que direção estavam indo. Quando este delicado equilíbrio
entre duas faces contraditórias foi ameaçado, a ciência ficou em desvantagem.
Na União Soviética e nos países socialistas, as ciências sociais morreram
sufocadas pelo abraço apertado do partido e do governo, e as ciências
naturais também retrocederam. Várias países semi-industrializados tentaram
desenvolver ciência e tecnologia sob uma íntima supervisão governamental
e com propósitos militares, ou, no outro extremo, acreditaram ingenuamente
no desinteresse e na bondade natural da ciência básica para com suas sociedades,
e nenhum desses extremos funcionou bem.
A novidade das décadas de 1980 e 1990 é que está se tornando impossível
manter essa face dupla, mesmo nos países capitalistas industrializados.
Há muito dinheiro envolvido, os riscos e benefícios da moderna tecnologia
são grandes demais, há competidores em excesso, e o mito idílico da Ciência
Pura sofreu um dano irrecuperável, tanto pela investida da crítica social
e intelectual, quando pela evidência cada vez mais clara de suas possíveis
deficiências e disfunções. Um exame mais detalhado das experiências passadas
mostrará que os países que conseguiram manter políticas complexas, multifacetadas
e pragmáticas para ciência e tecnologia e desenvolvimento industrial foram
mais bem sucedidas do que aqueles que tentaram traçar projetos ambiciosos
e abrangentes, de longo alcance.
As discussões sobre o que pode ser feito para recuperar o crescente desequilíbrio
entre o centro e a periferia em ciência e tecnologia estão permeada por
uma série de suposições contraditórias, as quais, por falta de evidências
adequadas, podem ser consideradas como mitos. Podemos chamá-los de 'mitos
do passado' e 'mitos do presente'.
Os mitos do passado consistem em negar as realidades e as implicações
das mudanças em curso. Em alguns casos, estes mitos surgem como uma nostalgia
pela universidade de elite, despedaçada em todo o mundo pelas ramificações
do movimento estudantil de 1968, e pelos centros de pesquisa independentes
e de alta qualidade, hoje ameaçados por cortes de orçamento e exigências
míopes de 'relevância'. Nas universidades, aumenta a críticas às experiências
reformistas pós-68, e a defesa de uma volta aos currículos mais tradicionais
e aos princípios de hierarquia intelectual. Na ciência e na tecnologia,
criticam-se as tentativas de deslocar a pesquisa da academia e atrelá-la
aos negócios e às agências do governo. Em países do Terceiro Mundo, que
nunca atingiram os níveis de excelência da universidade tradicional e
da pesquisa básica convencional, existe a sensação de que estes objetivos
ainda são os únicos a serem buscados, apesar de desvios momentâneos por
circunstâncias políticas e econômicas de curto prazo. Se apenas tivessem
os recursos, logo estariam como a Europa - mas a do início dos anos 60.
Os mitos do futuro tendem a ser radicais, sejam catastróficos ou românticos
e utópicos. A veia utópica está mais em voga. É uma crença na nova era
do progresso, do desenvolvimento econômico e da paz, trazida pela destituição
do socialismo, pelo fim da guerra fria e pelos progressos da ciência e
da tecnologia. Os otimistas aceitariam que há, naturalmente, aqueles que
ainda não viram a luz, e países que ainda precisam se desembaraçar das
ilusões acerca do planejamento central, do papel do Estado, da cultura
e da ideologia. Mas eles acreditam que esses povos e países eventualmente
recuperarão a consciência e se unirão à onda da nova ordem internacional.
Os pessimistas vêem apenas as contradições, a emergência do nacionalismo
e do racismo, a difusão da cultura de massa, a vitória do irracionalismo
e a instauração do pós-modernismo.
A razão pela qual as questões tão complexas como as da ciência e tecnologia tendem
a ser tratadas de forma tão simples e extremada é que os problemas e oportunidades
gerados pelos novos conhecimentos são de tal monta, no mundo moderno, que eles
transcendem a órbita dos especialistas e das decisões de gabinete, e tendem a
entrar no mundo da política e dos grandes interesses, sob o olhar atento dos meios
de comunicação de massas. Quando isto ocorre, desaparecem as cores cinzas, em
benefício do branco e negro, ou das cores fortes. Esta é uma dificuldade, mas
também uma oportunidade importante. É difícil, mas necessário, preservar um espaço
para decisões refletidas, ponderadas e bem avaliadas sobre a área da ciência,
tecnologia e da educação como um todo, onde as ambigüidades são muitas, e a pressão
por posicionamentos bombásticos e radicais é intensa. A exposição crescente destas
questões ao escrutínio da opinião pública, através da imprensa, dos partidos políticos
e dos movimentos sociais deve ser vista também como um sinal da importância crescente
destes temas, e uma garantia de que, bem conduzidos, eles poderão encontrar na
sociedade o eco e o apoio de que necessitam.
Referências:
Basalla, George, 1989 - The Evolution of Technology, Cambridge
University Press
Bradford, Colin I., Jr, 1984 - "The NICs: Confronting U.S. 'Autonomy'
", in
Richard E. Feinberg and Valeriana Kallab, editors, Adjustment Crisis
in the Third World, Washington, Overseas Development Council, 1984.
Brickman, Ronald, 1986 - "France", in Rushing and Brown, 1986.
Hague, Sir Douglas, 1991 - Beyond Universities - A New Republic of
the Intellect, London, The Institute of Economic Affairs, Hobart
Paper 115.
Holden, Constance, 1991 - "Careers in Science", Science, 252:
1110-1147, May 21.
Joravsky, David, 1989 - "Machine Dreams", The New York
Review of Books XXXVI, 19 (December 7, 11-15.
Porter, Michael E., 1990 - The Competitive Advantage of Nations,
New York, The Free Press.
Rushing, Francis W. and Carole Ganz Brown, 1986 - National Policies
for Developing High Technology Industries -International Comparisons.
(Boulder and London: Westview Special Studies in Science, Technology and
Public Policy.
Wall Street Journal, 1990 - "Education: The Knowledge Gap", The Wall
Street Journal Reports, The Wall Street Journal, February 9, 1990.