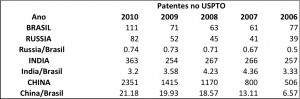Escreve Adalberto Cardoso, professor do IUPERJ, a respeito de minha postagem anterior (transcrevo a mensagem, e comento logo abaixo):
A carta:
Prezado Simon,
Li com atenção seu artigo. Acho que você não tem acompanhado o que temos feito, o que torna parte de seu julgamento injusto, por mal informado. Por isso gostaria de esclarecer alguns pontos sobre nosso presente e o que esperamos do futuro.
O IUPERJ é um centro de pós-graduação com cerca de 200 alunos. Formamos perto de 300 doutores e 500 mestres, muitos deles hoje lotados em centros de pesquisa aplicada, como o IPEA (a propósito, um de nossos doutorandos tirou o primeiro lugar no mais recente concurso do IPEA, e três outros doutores foram aprovados), a Fiocruz, o ISER, o seu IETS, o CEBRAP, o CEDEPLAR… Promotores públicos, procuradores da República e juízes de vários ramos do direito têm sido qualificados por nós. E quarenta e cinco por cento de nossos doutores são, hoje, professores de universidades públicas. Um quarto está em centros de pesquisa públicos e privados. Em nossos 11 núcleos de pesquisa, consolidados nos últimos dez anos, realizamos pesquisa básica e pesquisa aplicada, alimentamos bancos de dados de várias instituições e estamos conectados com núcleos de pesquisa em várias partes do mundo. E tudo isso, como você lembra em seu texto, feito sem cobrar anuidades aos alunos.
O IUPERJ, ao voltar-se para a academia e dedicar-se principalmente à formação de quadros de alto nível (para dentro e para fora dela), fez uma opção pelo público. Prestamos um serviço público, embora tenhamos sido financiados, com exceção do pequeno interregno sustentado pela FINEP, por instituições privadas, a principal delas a Sociedade Brasileira de Instrução, mantenedora da Universidade Candido Mendes.
A vocação pública de nossa atividade, consolidada nos últimos vinte anos (posteriormente, pois, à sua saída da instituição), embora você não o aponte, ganhou reconhecimento dos pares. Temos um programa 7 em sociologia (há apenas outros 2 no Brasil, USP e IFCS) e um programa 6 em ciência política (há apenas mais um no Brasil, a USP). Isto é, essa instituição financiada com recursos privados, sustenta programas de excelência que só têm equivalentes nas duas maiores universidades públicas do país, cujos orçamentos são dezenas de vezes superiores ao nosso, com corpo docente 3 ou 4 vezes maior e corpo discente muito menor. Nenhum deles formou tantos doutores quanto o IUPERJ. Todos eles têm professores formados pelo IUPERJ.
Isso não é nosso passado. Isso é o nosso presente, e pretendemos que seja nosso futuro.
A solução que você preconiza para o IUPERJ é um clone da FGV, das raras empresas lucrativas de ensino e pesquisa do país: cobrar anuidades aos alunos, fazer pesquisa aplicada na área de políticas públicas ou voltadas para o mundo privado, e ministrar cursos de extensão. Tudo isso sem abrir mão da excelência acadêmica. Não nos parece possível trilhar este caminho, porque ele implica abandonar nossa vocação pública.
Somos um instituto pequeno, com 20 professores e 16 funcionários, inteiramente dedicados à formação de nossos alunos. O que estamos propondo é a constituição de uma Organização Social (OS), não uma OSCIP, vinculada ao MCT. Portanto, voltada para a pesquisa. Uma OS estabelece metas em acordo com o gestor público, no caso necessariamente metas de pesquisa. Parte de nossas atividades se voltaria, justamente, para as políticas públicas (seu desenho e avaliação), porque não pode ser outra a vocação de uma OS ligada à ciência e tecnologia.
Esse instituto pequeno, além de formar quadros de alto nível, participa ativamente do debate público em nosso Estado e no país. As gerações que convivem no IUPERJ, parte das quais você não conhece, produzem conhecimento novo sobre nossas dinâmicas política e social que é referência no Brasil e no exterior. É essa produção que alçou o IUPERJ à posição que hoje ocupa no sistema público de pós-graduação no Brasil. É o reconhecimento desse fato incontestável que nos move em direção ao financiamento público de nossas atividades. Assim, poderemos finalmente exercer, sem as amarras que hoje nos prendem, a vocação pública que nos move há pelo menos duas décadas.
Sugiro uma visita a nossa homepage e um passeio pelas atividades de nossos núcleos de pesquisa.
Um abraço, Adalberto Cardoso Professor do IUPERJ
Meu comentário:
1 – a qualidade do trabalho do IUPERJ: o que eu disse é que me parecia que o IUPERJ havia se rotinizado, e deixado de ter uma presença forte e de liderança no debate e interpretação nas questões intelectuais e de política pública e social de maior relevância, hoje ocupado predominantemente por economistas e alguns filósofos. Aldaberto pode ter razão, de fato eu não tenho acompanhado em detalhe os trabalhos dos diversos grupos de pesquisa do Instituto. Coloquei isto como algo a ser discutido, e meu principal argumento, no caso, é que sei que outras pessoas compartem o mesmo sentimento.
2 – OSCIP e Organizações Sociais. Várias pessoas me corrigiram, o que o IUPERJ pretende é se transformar em uma OS, e não em uma OSCIP. As OSCIPs são organizações não governamentais que, mediante o atendimento de certos critérios, como transparência, fins não lucrativos e finalidade de interesse social, obtêm certas vantagens fiscais e maior facilidade para celebrar convênios com órgãos públicos. As Organizações Sociais são organizações controladas pelo governo que, junto com representantes da sociedade, detêm maioria de seu conselho diretor, e trabalham para o governo desempenhando atividades de interesse público mediante contratos de gestão. Diferente das universidades, as Organizações Sociais não têm autonomia, e esta foi uma figura jurídica criada para reinstituir as fundações de direito público que foram inviabilizadas pela Constituição de 1988. Se o IUPERJ se transformar em uma organização social, ele vai se constituir em um órgão de execução das políticas de governo, e perder sua independência.
3 – Gratuidade. Não vejo nenhum mérito, ao contrário, no fato de o IUPERJ oferecer educação superior subsidiada a pessoas que ocupam hoje posições tão importantes, prestigiadas e bem remuneradas como as que indica Adalberto. Esta aberração, naturalmente, não é só do IUPERJ, mas do ensino superior público brasileiro em geral, e particularmente dos programas de pós-graduação, que subsidiam a elite. O IUPERJ poderia muito bem cobrar, digamos, quinhentos reais mensais de cada um de seus duzentos alunos, o que já daria uma renda de cem mil reais por mês, combinando a cobrança com um sistema de créditos educativos e patrocínios diversos para os que não possam pagar no momento.
4 – Pesquisas aplicadas, atividades de extensão e trabalho acadêmico. Eu não acredito, e tem uma vasta literatura que mostra isto, que estas coisas são excludentes. Instituições de excelência desempenham papéis múltiplos, uns alimentam os outros, tanto intelectual quanto financeiramente. Ao contrário, instituições que se encerram nas torres de marfim acadêmicas correm o risco de se perder nas formalidades dos rituais acadêmicos – publicações, congressos, títulos – sem no entanto produzir conhecimentos e idéias que a sociedade está disposta a pagar e usar.
5 – Subsídio público para instituições privadas. Eu acredito que, na medida em que uma instituição privada produz bens de interesse público, ela deveria ser apoiada com recursos públicos na proporção destes bens produzidos, desde que garantidos os princípios da equidade social. O atual sistema de pós-gaduação no Brasil tem o grave defeito de só apoiar, praticamente, instituicões públicas, cujos salários são pagos diretamente pelo governo, e em muitos casos a qualidade destes cursos e programas é bastante precária. Instituições privadas como o IUPERJ, Fundação Getúlio Vargas, PUC do Rio de Janeiro, IBMEC e outras que desenvolvem cursos de graduação e pós-graduacão de qualidade deveriam ter acesso a fundos públicos adequados, para os quais pudessem competir, que cobrissem pelo menos parte de seus custos de pessoal e operacionais. Mas eu vejo muitas vantagens no fato de que este apoio seja apenas parcial, e que as instituições devam também buscar na sociedade mais ampla as fontes de apoio que as estimulem a cuidar, permanentemente, de seus padrões de qualidade e relevância.
 O Vale do Silício, na California, é o centro mundial da produção de software, o que não impediu que um grupo de especialistas do Rio de Janeiro desenvolvesse uma linguagem de computação, Lua, usada em todo mundo, inclusive na produção do famoso jogo dos “Angry Brids”. Como isto foi possível? O que significa, a partir de um “lugar errado” viver, trabalhar e produzir em um mundo cada vez mais globalizado, que ao mesmo tempo concentra os recursos e os talentos, mas também abre oportunidades inesperadas?
O Vale do Silício, na California, é o centro mundial da produção de software, o que não impediu que um grupo de especialistas do Rio de Janeiro desenvolvesse uma linguagem de computação, Lua, usada em todo mundo, inclusive na produção do famoso jogo dos “Angry Brids”. Como isto foi possível? O que significa, a partir de um “lugar errado” viver, trabalhar e produzir em um mundo cada vez mais globalizado, que ao mesmo tempo concentra os recursos e os talentos, mas também abre oportunidades inesperadas?