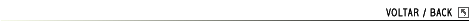
Ciência e Tecnologia no Brasil: A Capacitação Brasileira
para a Pesquisa Científica e Tecnológica (vol. 3) (1)
Simon Schwartzman, editor
Publicado pela Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996.
Os textos aqui são primeiras versões, antes da revisão editorial para publicação.
» Apresentação
»  A capacitação brasileira para a pesquisa, Eduardo M. Krieger e Fernando Galembeck
A capacitação brasileira para a pesquisa, Eduardo M. Krieger e Fernando Galembeck
»  Biotecnologia, Antônio Paes de Carvalho
Biotecnologia, Antônio Paes de Carvalho
»  Botânica, ecologia, genética e zoologia, Sônia M. C. Dietrich
Botânica, ecologia, genética e zoologia, Sônia M. C. Dietrich
»  Avaliação das ciências sociais, Fábio Wanderley Reis
Avaliação das ciências sociais, Fábio Wanderley Reis
»  Computação, Carlos J. P. de Lucena
Computação, Carlos J. P. de Lucena
»  Engenharia, Sandoval Carneiro Jr.
Engenharia, Sandoval Carneiro Jr.
»  Física, Sérgio M. Rezende
Física, Sérgio M. Rezende
»  Physiological sciences (fisiologia) Antonio C. Paiva
Physiological sciences (fisiologia) Antonio C. Paiva
»  Geociências, Umberto G. Cordani
Geociências, Umberto G. Cordani
»  Inteligência artificial, Walzi C. Sampaio da Silva
Inteligência artificial, Walzi C. Sampaio da Silva
»  Pesquisa agropecuária, João Lúcio Azevedo
Pesquisa agropecuária, João Lúcio Azevedo
»  Pesquisa e tecnologia militar, Geraldo L. Cavagnari Filho
Pesquisa e tecnologia militar, Geraldo L. Cavagnari Filho
»  Química, José M. Riveros
Química, José M. Riveros
»  Saúde, Oswaldo Luiz Ramos
Saúde, Oswaldo Luiz Ramos
Apresentação
Com este terceiro volume a Fundação Getúlio Vargas completa a publicação dos
trabalhos preparados para o estudo sobre a política de ciência e tecnologia
no Brasil, realizado entre 1992 e 1993 pela Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas(2). Os
dois primeiros volumes incluíram, como capítulo inicial, um documento síntese
com as principais recomendações e conclusões derivadas deste estudo, além de
uma série de trabalhos sobre o contexto mais amplo, nacional e internacional,
no qual a atividade de pesquisa científica e tecnológica se desenvolve. Este
volume reúne uma série de trabalhos sobre áreas específicas do conhecimento
- escritos por autores de destaque nas respectivas áreas de pesquisa - que são
precedidos por um documento síntese preparado por Eduardo Krieger e Fernando
Galembeck. Ainda que realizados com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia,
no âmbito das atividades do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (PADCT II), desenvolvido em colaboração com o Banco Mundial, estes
trabalhos foram escritos com toda independência por seus autores e não refletem
necessariamente as opiniões do governo brasileiro, do Banco Mundial ou do responsável
pela coordenação do estudo(3).
Em seu conjunto, e cada qual a seu modo, todos estes trabalhos contam uma história
semelhante e têm uma origem comum. A ciência brasileira deu seus primeiros passos
mais significativos no início do século XX e vem desde então tentando encontrar
seu lugar na sociedade brasileira.(4) Nos anos
30, com a criação da Universidade de São Paulo, e depois da Universidade do
Brasil, a pesquisa cientifica encontra um nicho no nascente sistema universitário.
Os anos do pós-guerra são um período de grande otimismo quanto aos benefícios
que a ciência e a tecnologia poderiam proporcionar ao desenvolvimento econômico
e social do país, e o intercâmbio científico e técnico com os países desenvolvidos
se intensifica, enquanto são criadas as primeiras instituições nacionais de
fomento à pesquisa, dentre as quais a Fundação de Amparo à Pesquisa de são Paulo
e o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). Os anos de regime militar se iniciam
com conflitos intensos entre o governo e muitas dás principais instituições
científicas do país, mas, a partir sobretudo de meados da década de 70, os investimentos
governamentais na área científica e tecnológica se intensificam, e o governo
federal se reorganiza para apoiar a pesquisa de forma mais consistente e com
maiores recursos. São os anos de criação do sistema nacional de pós-graduação,
da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP), da reformulação do CNPq e do
início da política nacional de informática, assim como da implantação do programa
nuclear e de outros projetos de grande porte, sobretudo militares. A política
do "Brasil Potência", que teve seu auge no governo de Ernesto Geisel,
não tem continuidade no governo João Batista Figueiredo, nem é retomada tampouco
pelos governos civis que se sucederam desde 1985. O Brasil que emerge
de 20 anos de regime militar é um país com graves desequilíbrios econômicos,
sociais e institucionais, que precisam ser administrados em um ambiente de intensa
competição político-partidária, e neste quadro o setor de ciência e tecnologia
não con- segue ser mais do que um entre tantos na disputa por recursos públicos
cada vez mais escassos.
O curto período, de menos de 10 anos, em que o setor de ciência e tecnologia
no Brasil pôde contar com recursos relativamente abundantes não foi suficiente
para que cientistas e tecnólogos demonstrassem os eventuais benefícios que seus
trabalhos poderiam trazer ao país, mas bastou para criar um conjunto muito significativo
de instituições e grupos especializados, que ficaram depois com a frustração
do trabalho interrompido. Em maior ou menor grau, todos os trabalhos incluí-
dos neste volume espelham a visão de que a pesquisa brasileira cresceu, mas
não o suficiente, e nem sempre com a qualidade que seria desejável. Existem
centros e grupos de pesquisa de excelente nível, mas outros nem tanto. A falta
de recursos é um problema grave, mas mais séria ainda é a instabilidade institucional,
a imprevisibilidade e a falta de políticas bem definidas. As agências de fomento
à pesquisa precisariam ser aperfeiçoadas, trabalhar melhor. O governo deveria
ter políticas que estimulassem um interesse maior do setor produtivo pela atividade
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Todas essas considerações são de
extrema importância, sobretudo quando vistas no contexto de cada área do conhecimento.
É relativamente escassa, no entanto, a discussão sobre se a estratégia de desenvolvimento
científico e tecnológico que começou a se armar na década de 70 tinha realmente
um futuro promissor, e sobretudo se seria realista tentar voltar às condições
daqueles anos, dadas as profundas modificações havidas desde então, tanto no
país quanto no mundo. E esta preocupaçãO que preside, por outro lado, a maioria
dos trabalhos publicados nos dois volumes anteriores deste projeto.
Vários destes trabalhos, sobretudo os relacionados com áreas mais aplicadas
como a pesquisa agropecuária, a pesquisa militar, a computação, a biotecnologia
e a química, colocam o dedo em duas questões centrais, que são o relacionamento
difícil e complexo entre as atividades de pesquisa e suas aplicações, e o papel
do Estado e do setor privado. A leitura conjunta destes trabalhos é extremamente
ilustrativa. Em um extremo, o texto de Cavagnari sobre a tecnologia militar
ainda insiste no papel do Estado como grande investidor em ambiciosos projetos
de alta tecnologia, enquanto Paes de Carvalho, no outro, trata de identificar
os mecanismos de ativação da iniciativa privada na área da biotecnologia. Entre
os dois, o trabalho de Lucena, sobre computação, testemunha a passagem de uma
política de fechamento e auto-suficiência, que caracterizou o início dos anos
80, para uma política de muito mais abertura ao setor privado e à tecnologia
internacional, na qual o Estado continua a ter um papel central. Não se trata,
somente, de diferenças entre autores, mas sobretudo de diferenças entre áreas,
mostrando que não é possível tratar todos os campos da pesquisa cientifica e
tecnológica em um mesmo modelo de ação pública governamental. Apesar das diferenças,
todos estes trabalhos coincidem na noção de que não basta investir na pesquisa
tecnológica, nem na pesquisa acadêmica, para que bons resultados comecem a aparecer,
se os mecanismos de articulação e passagem entre os centros geradores de conhecimentos
e os usuários de seus produtos não estiverem adequadamente identificados e azeitados.
Dois trabalhos deste conjunto, sobre as ciências sociais e sobre a inteligência
artificial, foram escritos com um espírito diferente e chamam a atenção para
outros problemas, não contemplados nos demais. As ciências sociais e humanas
nunca conviveram de forma confortável com as ciências físicas e biológicas,
e seu status científico tende a ser continuamente contestado, tanto por
cientistas naturais quanto por seus próprios especialistas. No Brasil, as ciências
sociais e as humanidades não eram reconhecidas pelo CNPq até os anos 70, e ainda
hoje não têm entrada na Academia Brasileira de Ciências e não recebem apoio
do PADCT. O trabalho de Wanderley Reis sobre as ciências sociais é o único que
coloca em questão o conteúdo dos conhecimentos produzidos pela área que analisa,
e sua conclusão é bastante contundente: as ciências sociais são, em princípio,
tão cientiCicas quanto as demais áreas do conhecimento, mas, quando avaliadas
deste ponto de vista, o que se produz no Brasil está muito longe dos padrões
internacional- mente aceitos. Esta conclusão, fadada a levantar controvérsias
nos meios acadêmicos, abre duas questões que não teríamos como desenvolver aqui,
mas que devem ser assinaladas. A primeira é se problemas de conteúdo semelhantes
aos identificados por Wanderley Reis nas ciências sociais não surgiriam também
nas ciências naturais, se estas fossem submetidas a escrutínios equivalentes.
No Brasil já se utilizam indicadores de produtividade, como publicações, citações,
teses aprovadas etc., como próxis de qualidade dos trabalhos científicos, mas
não existe, nas ciências naturais, a tradição de examinar de maneira critica
e aberta o trabalho realizado pelos colegas, como é usual na área das ciências
humanas e sociais.
A segunda questão, mais complexa, é se o padrão de "cientificidade"
seria o melhor critério para avaliar todo o trabalho que se realiza no país
não só na área das ciências sociais e humanas, mas também em todo o conjunto
de atividades que aparecem usualmente sob o nome genérico de ''ciência e tecnologia''.
Uma literatura crescente questiona a existência de uma demarcação clara entre
a "ciência" e outras atividades relacionadas com o conhecimento, tanto
nas ciências naturais quanto nas ciencias sociais, em atividades como a educação,
a inovação tecnológica, a difusão de conhecimentos e a elaboração de conceitos
e interpretações simbólicas, que seriam mais típicas da política, da literatura
e da história. Nesta visão, as ciências naturais estariam muito mais próximas
das ciências sociais e das humanidades do que normalmente os cientistas estão
dispostos a admitir(5). Uma conclusão extrema,
e certamente inadequada, desta visão seria desqualificar todo trabalho que se
procure fazer em nome da ciência e, dessa maneira, o próprio esforço de dar
ao país uma base científica e tecnológica moderna digna deste nome. A outra
conclusão, muito mais difícil, mas cada vez mais inevitável, é começar a distinguir
com mais clareza o que é a atividade cientifica propriamente dita, segundo o
consenso das comunidades especializadas, e o que são outras atividades eventualmente
tão meritórias como esta, mas que precisariam ser conhecidas e avaliadas em
seus próprios termos.
O texto de Sampaio da Silva coloca o dedo na questão da interdisciplinaridade
em uma área particularmente difícil, a da inteligência artificial, que requer
a convergência das ciências físicas, biológicas, sociais e da filosofia. Aqui,
como em outras áreas, existem pessoas e grupos bem qualificados, mas ela sofre
de um problema especial - a falta de espaços institucionais adequados para seu
crescimento e desenvolvimento. A pesquisa científica e tecnológica no Brasil,
organizada sobretudo em departamentos universitários, se estrutura em função
de faculdades profissionais, das disciplinas acadêmicas clássicas ou, no máximo,
de algumas áreas aplicadas tradicionais, como a engenharia e a pesquisa agropecuária,
e tem pouquíssimas condições de se organizar de forma semelhante àquela em que
as atividades de pesquisa vêm se estruturando em todo o mundo desenvolvido(6).
discussão sobre o caso da inteligência artificial sugere que não basta insistir
na necessidade do trabalho interdisciplinar, nem na necessidade de outras caracteristicas
que seriam típicas e essenciais para a pesquisa científica e tecnológica modernas,
se não tivermos condições de entender e trabalhar também as estruturas institucionais
e culturais mais profundas sobre as quais nossa pesquisa científica e tecnológica
ainda se equilibra com tanta precariedade.
Notas:
1. Publicado pela Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996.
Os textos aqui são primeiras versões, antes da revisão editorial para publicação.
2. Os volumes anteriores são: Schwartzman, S. (coord.).
Science and technology in Brazil a new policy for a global
world Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. 1995; e Schwartzman
S. (coord.). Ciência e tecnologia no Brasil política
industrial, mercado de trabalho e instituições de apoio. Rio
de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1995.
3. Ainda que escritos entre 1992 e 1993, todos os trabalhos
foram revistos ern 1995 para esta edição. Na maioria dos casos não houve, no
entanto, atualização dos dados, que têm como referência o ano de 1993.
4. Para uma visão em conjunto dessa história, ver Schwartzman
S. A Space For Science - The Development of The Scientífic Community In Brazil
University Park, Pennsylvania State University' Press, 1991.
5. Uma das referências mais conhecidas e polêmicas
é Latour, Bruno, Science in action: how to follow scientists and engineens
through society. Milton Keynes. Open University Press. 1987.
6. Ver, a respeito. Gibbons, Michael; Limoges. Camille;
Nowotny. Helga; Schwartzman Simon; Scott, Peter & Trow, Martin. The new
production of knowledge - the dynamics of science and research in contemporary
societies. London, Sage, 1994.