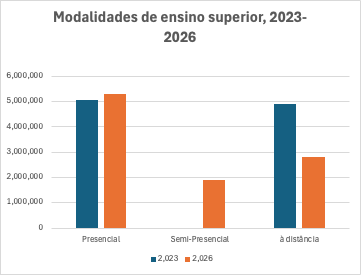(Publicado em O Estado de São Paulo, 9 de janeiro de 2026)
Começamos o novo ano com a campanha eleitoral para a presidência já em pleno andamento e sob o signo da gangorra chilena: a volta da direita ao poder depois do fracasso da revolução das esquerdas iniciada nas ruas de Santiago em 2019, que sucedeu às frustrações com o governo de direita de Sebastian Piñera. É isto que também nos espera, um novo governo de direita sucedendo ao governo de esquerda de Lula, que também sucedeu ao governo de direita de Bolsonaro, cada um se elegendo graças à frustração dos eleitores com os governos do outro?
Mas não, nos diz o sociólogo e ex-ministro da Concertación José Joaquin Brunner em uma análise detalhada e indispensável sobre o que podemos esperar do governo de José Antonio Kast. Não se trata de um mesmo ciclo que se repete, mas de uma espiral que se aprofunda. Kast é muito mais radical do que os conservadores que ele acusa de não passarem de uma “direita covarde”, e se alinha com a onda autoritária e radical liderada por Trump que parece que vem varrendo também a América Latina. O novo governo pretende ser algo fundamentalmente novo e radical, parecido neste sentido com o próprio governo de Gabriel Boric, que acreditou estar recriando a sociedade chilena a partir de zero.
É possível pensar que a vitória de Lula e do PT nas eleições de 2001 tenha sido semelhante à de Boric em 2021, assim como a vitória do bolsonarismo em 2018 guarda paralelos com a da direita de Kast em 2024. Mas agora, envelhecidas e desgastadas, nem a esquerda nem a direita brasileiras parecem capazes de repetir o apogeu de suas campanhas passadas, quando prometiam varrer do mapa a política tradicional e eliminar para sempre as práticas do passado.
Ao contrário, tudo indica que as eleições de 2026 no Brasil se darão da forma mais tradicional possível. Com as bandeiras da defesa da democracia e da revolução social enfraquecidas, e sem a promessa de uma frente ampla que nunca se materializou, o governo Lula fará valer a força dos recursos do Estado, dos benefícios e vantagens distribuídos até aqui, e da desorganização da direita, para continuar. A oposição continuará levantando as bandeiras das críticas à corrupção, da insegurança pública e da defesa dos valores tradicionais, mas desgastada pelo fracasso do governo Bolsonaro e pelos desmandos de um legislativo onde os discursos conservadores mal se deixam ouvir ante o silencio ensurdecedor da apropriação política e eleitoral dos recursos públicos. Claro que, de um lado e de outro, marqueteiros profissionais tratarão de identificar temas e técnicas de persuasão para virar a opinião pública a favor dos respectivos candidatos, mas é difícil imaginar quais seriam os novos temas e que força teriam.
Se houver algo de novo nestas eleições, ele virá provavelmente da nova geração de governadores e prefeitos que começaram a despontar nos últimos anos em muitos estados. Com o vazio que se instalou no governo federal desde a crise econômica e os escândalos de corrupção dos últimos 20 anos, e mais o susto da COVID, abriu-se o espaço para que muitos governos locais reunissem competências técnicas e acumulassem experiências gerenciais e administrativas que agora podem querer se fazer valer no plano nacional. Ouvindo muitos destes novos líderes falarem, impressiona como têm as contas, a legislação e os resultados obtidos na ponta da língua e procuram se apoiar nos fatos e na experiência acumulada, e não em declarações políticas e ideológicas vagas, para consolidar a simpatia de seus eleitores.
Seria ingênuo acreditar que a partir de agora será a competência técnica e administrativa, e não os acordos de conveniência, as campanhas publicitárias e a manipulação das redes que determinarão os resultados das eleições, inclusive porque muitas vezes a exibição de conhecimentos e competência administrativa não passa de cortina de fumaça que oculta interesses escusos. Mas seria equivocado também pensar que nada disto tem valor. É nos estados e municípios que temas como transporte, habitação, ambiente, educação e saúde são tratados. Os desafios administrativos são grandes, governos locais que conseguem desenvolver políticas consistentes que beneficiam a população ganham apoio, e, podem transferir este novo capital político para o plano federal.
Lendo os comentaristas chilenos, vemos que eles tendem a coincidir em que Kast, afinal, não será tão radical quanto parece. Ele já teve que moderar o tom de sua campanha eleitoral para conseguir ganhar, e tanto Millei na Argentina quanto Trump nos Estados Unidos já começam a se desgastar. O Chile tem instituições fortes, o novo governo não tem maioria no Congresso, e vão ser suas competências políticas e administrativas, e não a radicalidade de seu discurso, que determinarão se, daqui a 5 anos, a gangorra chilena se inclinará para o outro lado. Com muito mais razão, no Brasil, é possível acreditar que nossos velhos políticos e seus velhos discursos poderão abrir espaço, finalmente, para uma nova geração capaz de lidar com competência com os problemas reais que não param de crescer.