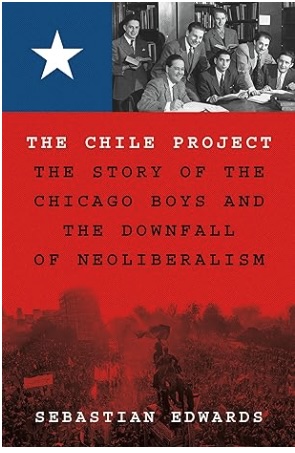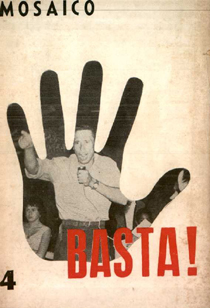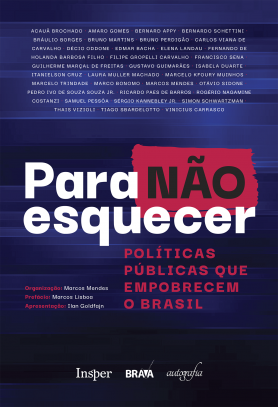(Publicado em O Estado de São Paulo, 12 de janeiro de 2024)
O Brasil está uma maravilha, neste início de ano, com inflação e desemprego em queda, a bolsa subindo, PIB crescendo a quase 3% ao ano, e o Congresso aprovando a reforma tributária, saudada por quase todos como revolucionária. E 2023 culminou com churrasco de confraternização na Granja do Torto com a presença do presidente do Banco Central, que o Presidente Lula pouco antes acusava de sabotar a economia. Apesar das comemorações desta semana, é difícil lembrar que, um ano atrás, o país parecia rachado em dois extremos que se odiavam, tentativa de golpe de estado, as contas públicas em frangalhos, e o Congresso mais conservador já eleito na história, ameaçando tratar o executivo a pão e água.
Dois fatores parecem explicar esta reviravolta. Primeiro, a entrada inesperada de grande volume de recursos, graças ao fortalecimento do mercado internacional de commodities, melhoria da economia americana e perspectiva de arrecadação extraordinária de impostos de petróleo e gás. Segundo, a grande conciliação das elites políticas, com a desmontagem da Lava Jato promovida pelo judiciário e a entrega de grande parte do orçamento público para o congresso comandado pelo Centrão, iniciados no governo Bolsonaro e continuados no primeiro ano do governo Lula.
Os processos do Petrolão e da Lava-Jato foram importantes não somente por escancarar a corrupção que prevalecia nos altos níveis de governo, mas principalmente por acender a esperança de que estava se fortalecendo no Brasil um novo judiciário, forte e independente, capaz de criar padrões mais estritos de moralidade e uso dos recursos públicos. Independentemente dos erros formais e abuso de poder que possam ter havido, o fato é que a prevalência das doutrinas “garantistas” e o fim das condenações em segunda instância acabou por liberar a todos e consagrar a ideia de que, no Brasil, ninguém que tenha suficiente dinheiro e bom relacionamento jamais será punido. Apesar das juras, vamos ver se será diferente com os mentores da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, nenhum indiciado pela justiça um ano depois. É este judiciário desvertebrado que agora é chamado a enfrentar a violência e o domínio do crime organizado sobre a população dos grandes centros urbanos e regiões de fronteira, com relações pouco claras com as oligarquias locais.
No regime democrático, o Congresso tem a responsabilidade de aprovar o montante e o direcionamento dos gastos públicos, e o Executivo, sua aplicação. Mas o que vem acontecendo no Brasil, com os fundos partidários, eleitorais e emendas parlamentares, sobretudo a partir do orçamento secreto instituído no governo Bolsonaro, é que o Congresso tem se apossado de fatias cada vez maiores dos recursos públicos para que os parlamentares distribuam conforme seus interesses pessoais. A isto se soma a apropriação privada dos recursos públicos pela proliferação dos “jabutis”, textos introduzidos em leis em benefício de grupos de interesse especiais. São estes jabutis que deformaram a lei de privatização da Eletrobrás e infestaram a emenda constitucional da reforma tributária, criando uma infinidade de privilégios. Uma característica deste Congresso insaciável é o poder crescente do presidente da Câmara de Deputados, um quase segundo-ministro que negocia apoio ao executivo em troca da distribuição de verbas, favores e privilégios.
Uma das principais consequências desta grande conciliação é que a polarização ideológica, que teria dominado a política brasileira até as eleições de 2022, parece ter arrefecido. A esperança de muitos que apoiaram a eleição de Lula foi que ele abrisse espaço para uma grande coalizão que pudesse levar à frente políticas sociais mais inteligentes e as reformas políticas e institucionais que começaram a ser implementadas para lidar com crise de 2015 e suas causas. Mas ele preferiu tentar ressuscitar o Lula II, negar que o desastre de Dilma tivesse existido, voltar às velhas práticas e pagar o preço da governabilidade exigido pela “banda podre” da política. Foi por isto, me parece, que ele quase perdeu a eleição, com pouco apoio da população mais educada e dos estados mais desenvolvidos, quando poderia ter ganho por ampla maioria. E é por isto que suas prioridades, em temas como políticas de renda, defesa de direitos sociais e de minorias, meio ambiente, saúde pública, educação, habitação etc., ficam sobretudo no nível da retórica e na dependência das flutuações da economia internacional sobre as quais não tem controle. Isso vale também para sua política externa, com a grande distância entre o ativismo das viagens e declarações sonoras e a identificação clara dos interesses do país. A grande exceção é Fernando Haddad, que precisa matar um leão por dia, à esquerda e à direita, para tentar manter a economia nos trilhos.
Olhando a crise profunda em que se meteu a Argentina, temos que dar graças a Deus, que é brasileiro, pela calmaria em que entramos em 2024. Com sorte, pode ser que o navio não afunde, embora seja certo que dificilmente enfunará as velas.