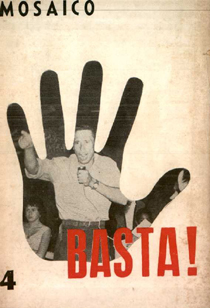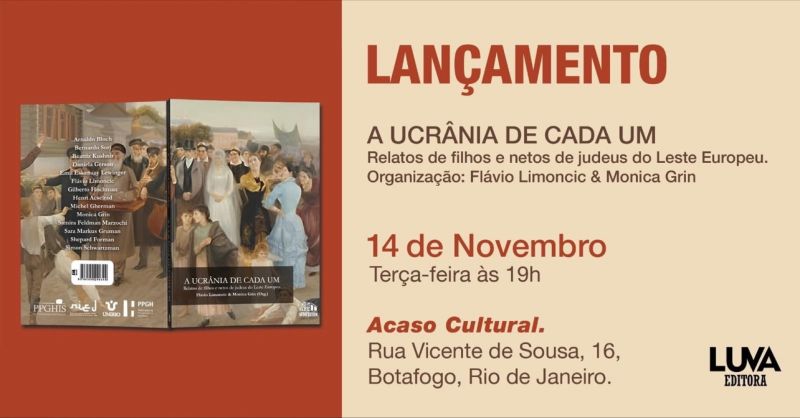O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje, 23/11/2023, uma entrevista minha sobre as questões de confiabilidade e divulgação dos dados do IBGE. O texto espelha razoavelmente bem a conversa telefônica que tive com o jornalista, com duas pequenas correções. Primeiro, não sou filho do jornalista Salomão Schwartzman, que era xará de meu pai. Segundo, que eu saiba, a ex-presidente do IBGE Suzana Cordeiro Guerra não foi indicada por Jair Bolsonaro, mas pelo Ministro da Economia Paulo Guedes, que no entanto não lhe deu o apoio que deveria.
Um estudo detalhado sobre a qualidade dos sistemas nacionais de estatística, publicado pelo Banco Mundial em 2019, mostra que os países mais desenvolvidos em relação a isto são a Noruega, Italia, Polônia, Austria, Eslovênia e Estados Unidos, todos com perto de 90 pontos em uma escala de 100. Nesta escala, o Brasil tem 76,8 pontos, a Índia 70,4 e a China 58,2, o que significa que nem China nem India são modelos para nós. O que a Índia tem de notável foi o grande avanço na implantação do governo digital. A China seguramente não está atrás no uso de informações digitais pelo governo, mas não é o melhor exemplo de transparência.
Transcrevo abaixo o texto da entrevista, tal como publicado:
“A China não é um bom exemplo para o IBGE“, diz o ex-presidente do instituto. Simon Schwartzman considera um equívoco o atual gestor, Marcio Pochmann, buscar no país asiático ideias para aplicar no Brasil, quando a Índia seria a melhor referência em digitalização.
O Estado de São Paulo. Por Carlos Eduardo Valim, 23/11/2023 | 14h30
O sociólogo Simon Schwartzman, filho do jornalista Salomão Schwartzman, presidiu o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre 1994 e 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Na época, já defendia uma modernização da estrutura da instituição para proteger o corpo técnico da interferência política, algo que voltou a preocupar economistas e quem trabalha com dados populacionais.
A gestão do instituto está sob os holofotes desde o apagão de dados no meio do governo de Jair Bolsonaro, com o adiamento do último Censo, e agora com a escolha do economista Marcio Pochmann, filiado ao PT, para liderar o órgão.
Este último chamou atenção após, em uma palestra para funcionários do IBGE realizada no fim de outubro, defender “modernizar” a forma de divulgação dos dados da instituição e comentou que buscou exemplos de como trabalhar com pesquisas na China. Schwartzman contesta que a possibilidade de país asiático ser uma referência para o Brasil, e que o exemplo precisaria ser buscado na Índia, que digitalizou a coleta de dados de forma inovadora.
Em entrevista ao Estadão, ele também defende que o IBGE deveria receber uma autonomia operacional e administrativa similar à do Banco Central, além ter um conselho técnico que aferisse e cobrasse da instituição a adoção de padrões internacionais.
As declarações e os posicionamentos políticos de Pochmann trazem preocupação sobre a credibilidade do IBGE?
Eu não vi o texto da conferência dele, mas estou acompanhando as notícias de jornais. Claro que existe uma preocupação de algum tempo de que o IBGE precisa garantir que produz dados confiáveis. Uma coisa muito importante da estatística é que ela precisa ser reconhecida como um dado válido. E isso acontece ao se adotar padrões internacionais, como os usados pela ONU (Organização das Nações Unidas), com a mesma qualidade dos principais centros de estatística do mundo. Também é preciso ter gente com reputação técnica adequada coordenando esse processo. Isso tudo é necessário porque a sociedade não tem como aferir o detalhe técnico e se o trabalho foi feito corretamente. Então, é preciso um mecanismo que traga a garantia de aplicação das melhores práticas internacionais, o que traz confiança para investidores e para a população, e dá segurança para que se possa utilizar os dados para fazer políticas públicas.
Historicamente, os dados do IBGE não costumam ser contestados. Ele não tem este arcabouço confiável?
O IBGE sempre buscou fazer um esforço neste sentido, mas não tem uma estrutura suficientemente sólida para garantir isso. Não tem conselho técnico e um mecanismo para garantir que as melhores práticas estão sendo aplicadas. Então, ele depende muito de quem está na presidência, que é um cargo demissível. Não é uma posição protegida. Deveria ser um cargo mais técnico. O problema da credibilidade é que, quando uma pessoa vem com uma marca ideológica muito forte, já se cria um clima de desconfiança que causa muito impacto. A credibilidade é muito fundamental.
Durante sua gestão nos anos 1990, houve esforços para se adotar uma governança modernizada e a falta de apoio para isso teria sido o motivo de sua saída?
Na minha presidência, eu insisti para evoluir nisso e não consegui. Eu tentei, mas não consegui na época implementar as modificações necessárias. Continuo insistindo que é necessária essa estrutura. Nenhum governo posterior levou isso para frente.
Sem isso, a instituição ficou muito exposta a pressões políticas?
Houve situações em que o instituto ficou à mercê de pessoas com posições de ideologias muito marcadas, sem compromisso com a precisão.
O Pochmann disse que se espelhava na coleta de dados digitalizada feita pela China. Esse é um bom exemplo?
O país notável do terceiro mundo é a Índia. E todos os países da Europa Ocidental também fazem isso. A China não é um bom exemplo para o IBGE. Ela é muito fechada. A Índia é mais interessante na digitalização, e tem hoje uma população maior até do que a China. É um desafio altíssimo coletar dados lá na Índia, mas todo mundo tem identidade digital, todo mundo usa comunicação digital. Eles avançaram muitíssimo nisso.
O IBGE está muito atrás? O Pochmann também causou polêmica ao defender que a divulgação pela imprensa não seria mais tão importante se é possível divulgar mais as pesquisas pela internet. Isso faz sentido?
O IBGE já avançou muito na informação disponível na internet. Todos os sistemas são digitais, todos podem acessar. Mas a divulgação pela imprensa é importantíssima, para traduzir os dados mais importantes para a população. Não entendo qual seria a novidade que ele gostaria de trazer em relação a isso.
De todos os presidentes entre 2003 e 2019, só em 10 meses entre 2016 e 2017 não teve alguém que não era funcionário de carreira. Seria importante voltar a isso?
Eu não sei se é fundamental. Eu como presidente vim de fora. Chegar à direção vindo do corpo técnico não é essencial. A questão é que as pessoas escolhidas sejam reconhecidas na área, que entendam do tema, de estatísticas. É até bom vir alguém de fora, com uma perspectiva diferente. O problema atual não é esse. Precisaria haver um mandato e a autonomia do presidente do IBGE, como é no Banco Central. Ou, então, o gestor fica sob influência do ministro ou dependente da indicação do presidente.
Quando a gestão do IBGE perdeu a confiabilidade? A primeira indicada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, a Susana Cordeiro Guerra, vinha de fora da instituição, mas tinha boas credenciais. Por que isso não teve sequência?
Ela foi indicada pelo Bolsonaro e não recebeu apoio do Ministério da Economia quando se resolveu cortar a verba do Censo. Ela ficou entre dois fogos e não conseguiu permanecer. Ela tinha uma agenda importante de se passar a usar mais informações administrativas, geradas por outras áreas do governo, como a área fiscal e a de dados econômicos. Assim, o Brasil poderia depender menos da pesquisa de opinião e usar mais os dados administrativos de qualidade gerados. Até por causa da pandemia isso ficou mais agudo ainda. Ela queria adotar critérios para os integrar os dados administrativos aos produzidos pelo IBGE, e fez um trabalho neste sentido.
Quem produz dados administrativos relevantes?
Os ministérios da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social e a Receita Federal, por exemplo. É parte do trabalho de várias áreas produzir essas informações. É preciso, então, desenvolver um processo mais organizado, para usar o que eles produzem como dados oficiais para efeito estatístico. O IBGE ainda tem um formato muito antigo, com agências localizadas em cidades do País, uma coisa dos anos 1930 e 1940, para coletar declarações das pessoas. Hoje não faz mais muito sentido, com os equipamentos de última geração e software modernos.