Por 20 votos a 3, em 15/12/2017, o Conselho Nacional de Educação aprovou o texto da Base Nacional Curricular Comum da Educação Fundamental. Em postagem anterior, eu circulei uma nota preparada por um conjunto de pesquisadores e especialistas criticando o documento na parte específica sobre o processo de alfabetização. Em resposta, as autoras responsáveis escreveram um texto que também estou disponibilizando aqui.
É um tema especializado que deveria ter sido amplamente discutido antes da aprovação da Base, não agora que ela já está aprovada, mas não há dúvida que discussão deverá prosseguir. Não tenho conhecimentos específicos de pedagogia e psicologia da aprendizagem para entrar nos detalhes desta discussão, mas acho importante assinalar alguns dos pontos principais.
Pelo que entendo, para os críticos do documento aprovado, o processo de alfabetização é um processo relativamente simples e ao alcance de todas as crianças, desde que conduzido de forma adequada. Segundo eles,
Uma criança aprende a ler em poucos meses de ensino apropriado do sistema alfabético. Meses estes precedidos de estimulação à fala, vocabulário, brincadeiras metafonológicas (desde a educação infantil); e seguidos de contextos educacionais estimulantes e incentivadores da leitura. É o que nos mostram os estudos recentes, os relatos de experiências, as pesquisas com modelos de intervenções experimentais nos mais diferentes países e línguas”.
Mais especificamente, dizem que
“O sistema alfabético de escrita se revela como um ‘código alfabético’ de relações entre o som da fala e a representação da fala, que muitos confundem com ‘código ortográfico’. O código alfabético é facilmente decodificado quando se conhece a sua ‘chave’; isto é, que as letras e conjuntos de letras estão representando sons da fala!! Quando a criança ou o adulto iletrado aprende a chave do código, a aprendizagem do sistema alfabético deslancha! É por isso que precisamos ensinar as letras do alfabeto e as formas possíveis de combiná-las para escrever e ler em Língua Portuguesa. Neste contexto teórico só se ensina letras como sinais que representam sons (…) A proposta da BNCC não prevê esta informação para alfabetizar. Consequentemente se afasta dos resultados de pesquisas que mostram a melhor forma de ensinar a ler em sistemas alfabéticos”.
Para as autoras do texto da Base, por outro lado, o processo de alfabetização deve ser integrado pelo processo de “letramento”,
“O que supõe um trabalho contextualizado pelos gêneros discursivos e, por outro lado, o compromisso de o processo de alfabetização ocorrer em um contexto que permita a reflexão do aprendiz, considerado, então, como um sujeito ativo em seu processo de aprendizagem”.
Segundo as autoras,
“Tratar a linguagem escrita como código equivale a entendê-la como uma transcrição da linguagem oral e, com isso, assumir uma relação de equivalência biunívoca entre sons e grafemas (…) Além disso, não há como ignorar pelo menos 30 anos de tradição científica em que essa visão da linguagem escrita como código alfabético vem sendo desmantelada. São incontáveis os autores e as pesquisas que demonstraram a falência de um processo de alfabetização baseado numa visão da linguagem escrita como código e a consequente necessidade de apostar num sujeito ativo que observa, analisa e reflete sobre a escrita, bem como num trabalho contextualizado e pautado pelos usos sociais da leitura e da escrita, quando da abordagem do sistema de escrita do português do Brasil”.
Os críticos, no entanto, dizem exatamente o contrário: que a literatura especializada internacional, que citam, mostra justamente a importância da abordagem que eles propõem, e que o texto da Base Nacional Curricular Comum não considera.
Apesar de extremamente técnica em muitos aspectos, esta discussão tem grande relevância. As autoras do texto da Base argumentam que as crianças brasileiras, em sua grande maioria, não teriam condições de se alfabetizar no primeiro ano escolar:
“Um país em que crianças de 08 anos, 11 anos desmaiam de fome no caminho para a escola ou na própria escola, pela pobreza que impede alimentação adequada e pela distância entre suas moradias e a escola (…) querer que esses alunos cheguem finalmente à escola para períodos intensivos e acelerados de treinos e testes para a aquisição da consciência fonológica e, mais ainda, antes dos seis anos de idade, chega a ser surreal. Provavelmente, não estamos vivendo – os missivistas e nós – no mesmo país.”
Assim, elas defendem que o processo de alfabetização se dê ao longo dos dois primeiros anos a partir dos seis anos de idade, como está na versão mais recente da Base – o que é um avanço em relação à política do Ministério da Educação até aqui, que era de aceitar um prazo de três anos. Enquanto isto, seus críticos afirmam que, com o uso de métodos adequados, a alfabetização pode se completar em um ano ou menos, desde que as crianças estejam na escola e os professores estejam adequadamente preparados, e lembram que “os professores formados até a década de 70 sabiam alfabetizar seus alunos no primeiro ano escolar”.
O fato é que, mesmo com o prazo de três anos, e talvez em parte por causa dele, um grande número de crianças nas escolas públicas brasileiras continuam funcionalmente analfabetas. Por outro lado, escolas públicas bem organizadas e que fazem uso de métodos estruturados de alfabetização conseguem excelentes resultados com estudantes de famílias pobres, como no conhecido exemplo de Sobral, no Ceará e outros, uma evidência de que, sem ignorar as dificuldades existentes, não se pode colocar nas condições sociais das crianças a responsabilidade pelo fracasso educacional de grande parte de nossas escolas públicas.

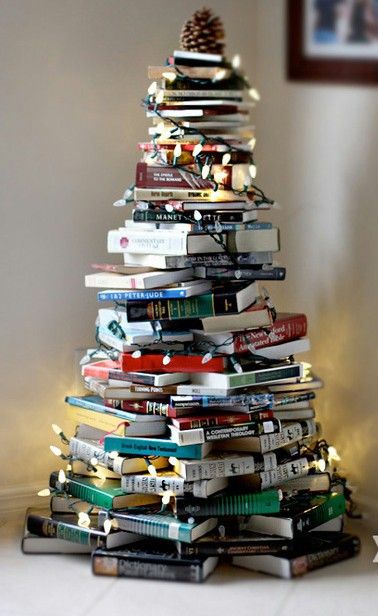
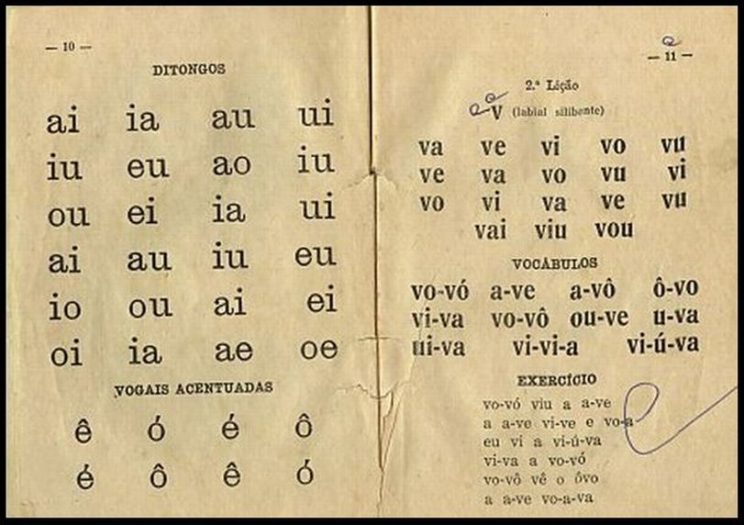
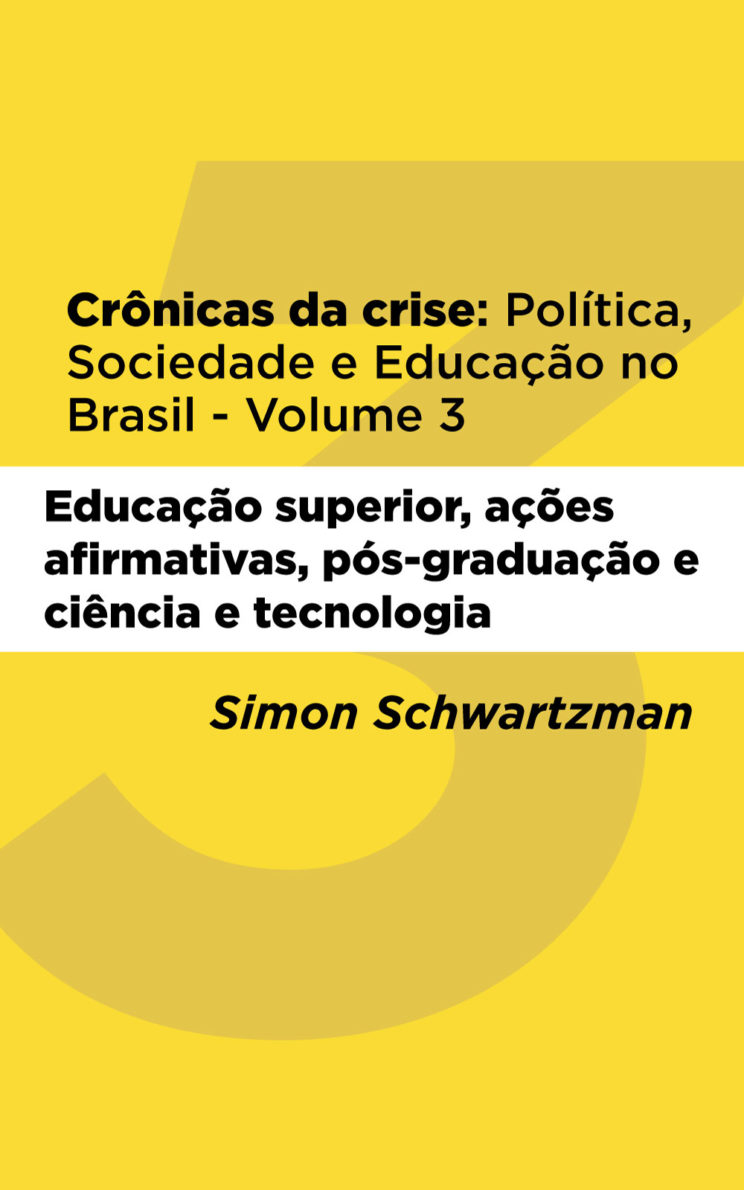
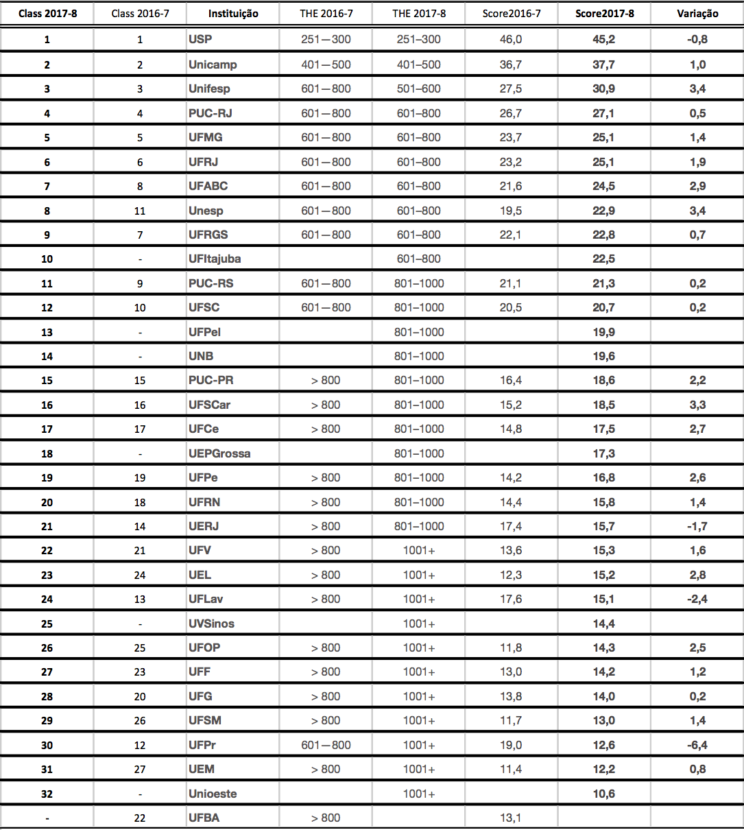
 Comparto o artigo de Bolivar Lamounier publicado no
Comparto o artigo de Bolivar Lamounier publicado no