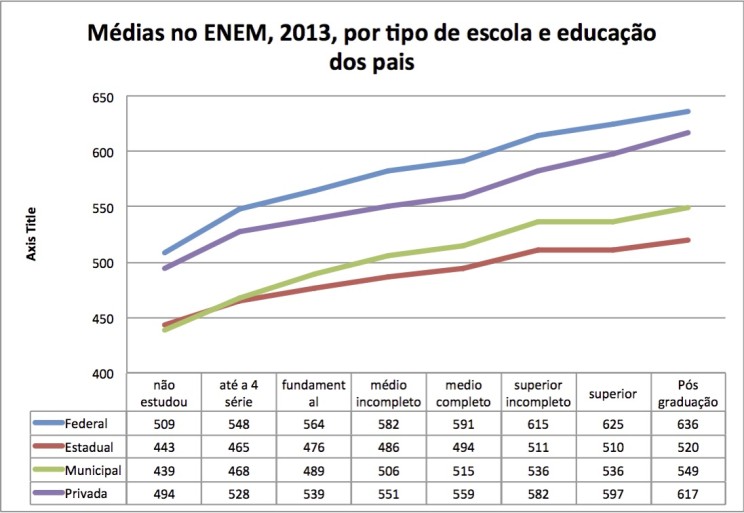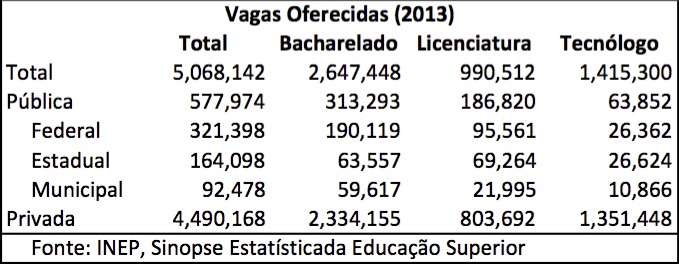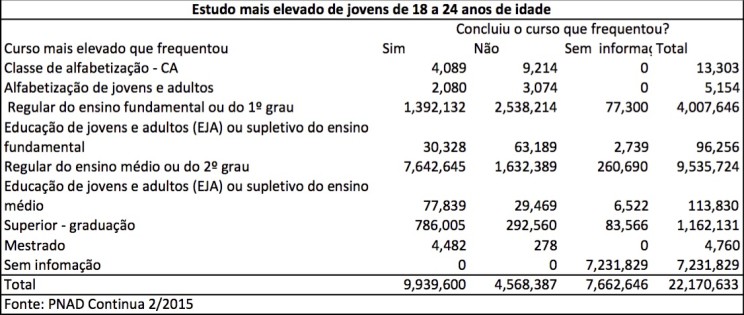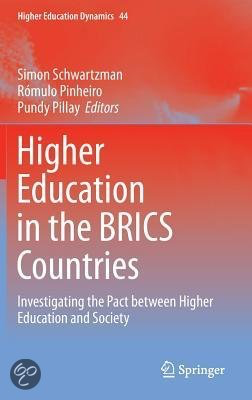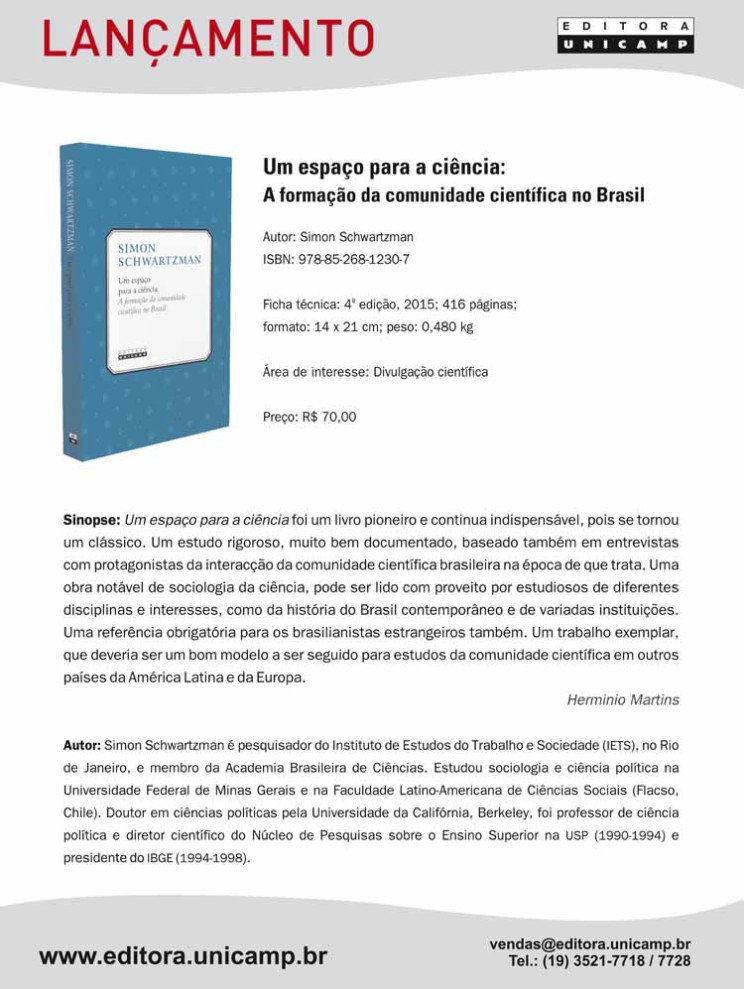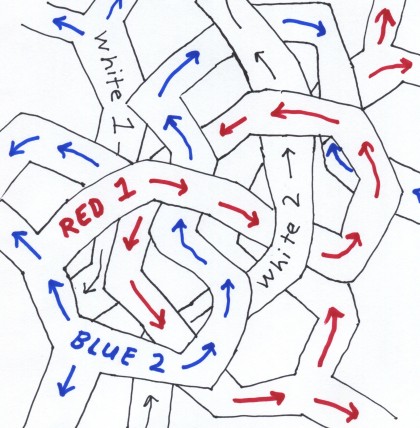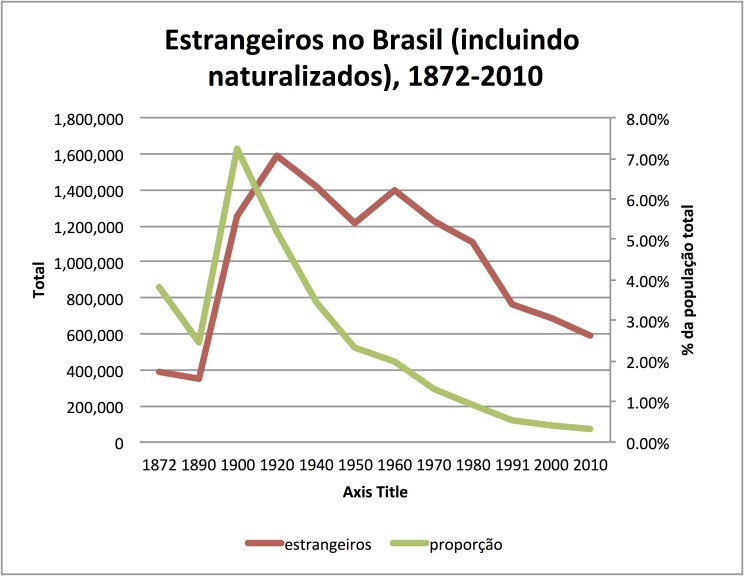A convite do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da PUC / Rio, participei de uma interessante mesa redonda sobre “Visões da Democracia no Brasil”, em companhia de Luiz Werneck Vianna e Carlos Pereira, coordenada por Maria Celina d’Araújo.
Ainda que não estivesse no programa, o tema, claro, era a grave crise política do momento, com o governo paralisado diante da crise econômica e a probabilidade de impeachment da presidente se tornando mais provável a cada dia. Aonde falhamos? Poderia ter sido diferente? A crise atual é uma prova de que nossa democracia não funciona, porque gera governos incapazes, ou, ao contrário, é uma prova de que funciona muito bem, porque não há perspectiva de rompimento das regras do jogo democrático?
Para Werneck, se interpreto bem, o que explicaria a atual situação é o abandono, pelo PT, do grande projeto de modernização do país que estava presente no movimento contra a ditadura nos anos 70 e 80, que reunia o sindicalismo independente de Lula com o MDB de Ulysses Guimarães e os intelectuais das artes e das universidades, trocado pelo oportunismo que permitia ganhar eleições, mas que ia, ao mesmo tempo, destruindo as bases deste país moderno em gestação. Em grandes pinceladas, ele fez referência a importantes momentos da história política brasileira, da unificação territorial dos tempos da Colônia à Coluna Prestes e à Semana de Arte Moderna de 1922 e à modernização dos anos de Vargas, lembrando que todos tinham seus problemas e limitações, mas apontavam em uma direção ascendente de modernização que acabou sendo traída.
Carlos Pereira partiu de uma perspectiva totalmente diferente, mas a conclusão não foi muito distinta. Seu foco é nosso sistema presidencialista de coalizão, e seu entendimento, assim como de outros cientistas políticos que cita, é que o sistema teria funcionado muito bem até recentemente, do ponto de vista da capacidade da presidência de fazer passar pelo Congresso a legislação de que necessita para governar, pagando o preço necessário, em termos de cargos e verbas, para garantir seus apoios. Seus dados mostram, no entanto, que o custo de obter este apoio vem aumentando cada vez mais, sobretudo pela preferência do PT em distribuir cargos e recursos para os próprios correligionários, ao invés de utilizá-los para garantir o apoio dos partidos coligados. A crise atual, segundo ele, se explica pela incapacidade do PT, e do governo Dilma em particular, de entender o funcionamento do presidencialismo de coalizão.
Embora partindo de premissas totalmente distintas, Werneck e Carlos Pereira concordam que nosso problema é a incapacidade do PT, e especialmente do governo Dilma, de entender os rumos que o país deveria tomar, e administrar com competência o sistema democrático para o qual foi eleito.
Longe de mim discordar das críticas de Werneck e Carlos Pereira ao PT e ao governo Dilma. Mas acredito que é papel das ciências sociais buscar explicações mais estruturais, que dependam menos das escolhas e das virtudes ou limitações individuais dos governantes. Em minha apresentação, que foi a primeira, comecei por criticar duas visões que me parecem equivocadas, a utópica, que argumenta que, como nossa democracia é imperfeita, ela não existe, e a hiper-realista, ou panglossiana, que argumenta que democracia é isto mesmo, e que a nossa é tão boa quanto tantas outras democracias imperfeitas que existem por aí, e que estamos no melhor dos mundos possíveis.
Lembrei que a democracia, mais do que um valor, é um mecanismo que tem se mostrado extremamente funcional para a solução de disputas de interesse e conflitos na sociedade, e citei um importante livro de Bolívar Lamounier (Da independência a Lula : dois séculos de política brasileira, Augurium, 2005) que mostra como, desde o Império, os períodos democráticos têm sido muito mais estáveis e profícuos do que as inúmeras interrupções autoritárias salvacionistas pelas quais passamos. Isto não significa, no entanto, que não existam democracias melhores e piores, e o critério para avaliá-las não pode se limitar à capacidade do Executivo de implementar suas decisões.
Para funcionar bem, o regime democrático deve ser legítimo, o que depende de um sistema representativo que garanta que os cidadãos se sintam representados pelos governantes, e deve ser também eficaz, tanto para garantir os direitos civis, políticos e sociais da cidadania quanto para lidar com a complexidade crescente das políticas econômicas, sociais e ambientais requeridas pela sociedade moderna. E as duas coisas estão ligadas, porque governos legítimos têm mais autoridade para implementar suas políticas, e dependem muito menos da troca de favores, do que governos debilitados e sem apoio na sociedade.
Deste ponto de vista mais amplo, o sistema político brasileiro tem falhado, ao levar ao extremo uma lógica de competição de curto prazo baseada na ampla distribuição de vantagens grandes e pequenas para ricos e pobres, de forma legal ou ilegal. É uma lógica eleitoral que funciona bem em épocas de recursos abundantes, mas não tem como se manter em períodos de escassez, ou quando os recursos públicos se esgotam.
Uma outra característica de nossa democracia tem sido a tendência a simplificar de forma extrema as políticas públicas, quase sempre colocadas em termos de ações simplistas e de grande efeito, mas de qualidade ou impacto desconhecido ou mesmo desastroso (incluindo, entre tantos outros, o falecido Trem Bala, o Ciência Sem Fronteiras, os campeões do BNDES, a euforia do Pré-Sal, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, o FIES, o PRONATEC, e tantos outros).
A questão é se estes problemas de incompetência, que estão na raiz da crise atual, são inerentes ao regime democrático ou são decorrentes das limitações dos atuais detentores de poder. Em minha apresentação lembrei de um argumento de vem sendo reiterado pelo economista Samuel Pessoa, segundo o qual o déficit crônico do setor público brasileiro se deve a um pacto implícito ratificado na Constituição de 1988, de distribuir ao máximo (e além do máximo) os recursos públicos existentes entre os diversos grupos de interesse (com especial destaque para os benefícios previdenciários), deixando pouco ou nenhum espaço para investimentos de longo prazo e para o reequilíbrio da economia.
Não há dúvida que este pacto, se existiu, poderia ser revertido por um governo que entendesse o alcance dos problemas e tivesse apoio e legitimidade suficiente para levar à frente as reformas necessárias, tal como foi quando da implantação do Plano Real. O problema não me parece ter sido a miopia ou outros pecados do PT, mas a base política com a qual ele chegou e tem se mantido no poder, que é uma combinação de apelo populista, aliança com oligarquias políticas tradicionais e o apoio de grandes interesses econômicos que se beneficiam da proximidade com o poder. Esta combinação funcionou muito bem até recentemente, mas agora está chegando a seus limites por dois fatores: a crise econômica, que não permite mais a farta distribuição de recursos, e o fortalecimento de novos atores importantes da sociedade e no sistema político brasileiro, começando pelo novo Ministério Público e o judiciário, dramatizado pelo Lava Jato, e amplos setores da população e do empresariado que não dependem nem querem depender das bondades do Estado, mas reclamam, sobretudo, a instauração e o fortalecimento do império da lei e de uma nova política voltada para a representação da cidadania, e não sua manipulação.
Não sabemos qual será o desenlace desta crise, mas duas coisas parecem certas: não haverá rompimento da ordem democrática, e os atuais mecanismos de sustentação do poder, da velha política, dificilmente sobreviverão.
 Reproduzo artigo do economista Jorge Jatobá, publicado anteriormente na Revista Algomais número 144 (que tem matéria de Capa de João Batista Araújo e Oliveira, que também recomendo):
Reproduzo artigo do economista Jorge Jatobá, publicado anteriormente na Revista Algomais número 144 (que tem matéria de Capa de João Batista Araújo e Oliveira, que também recomendo):