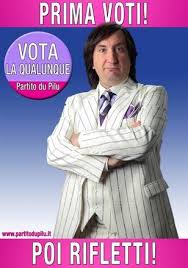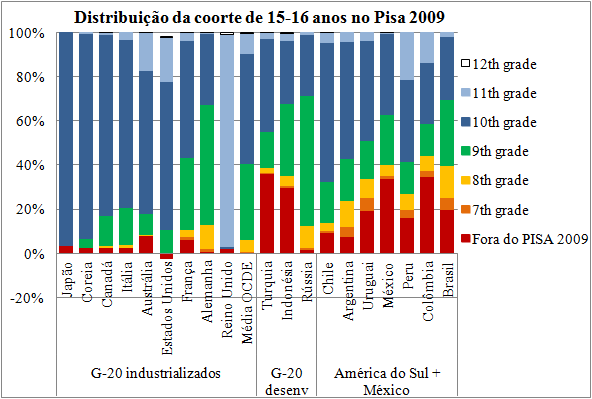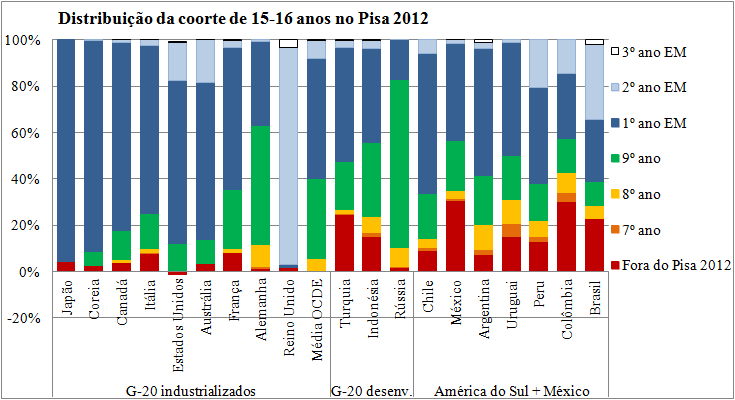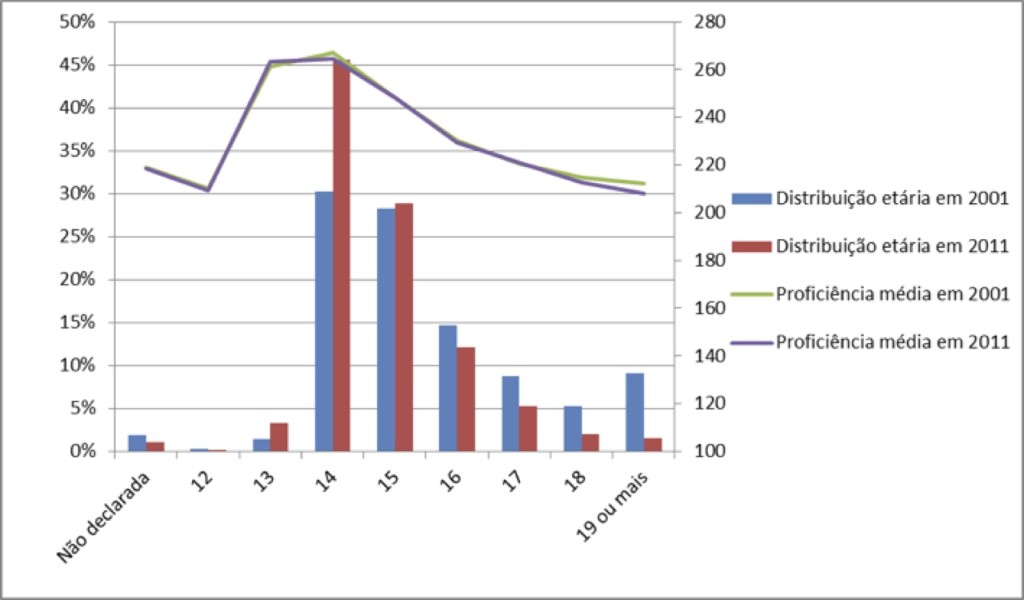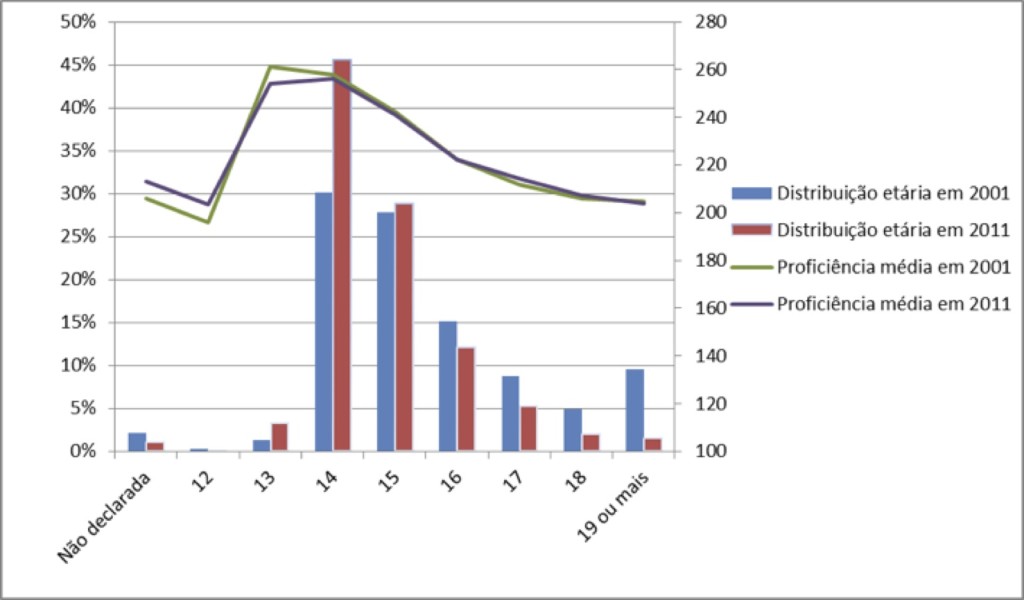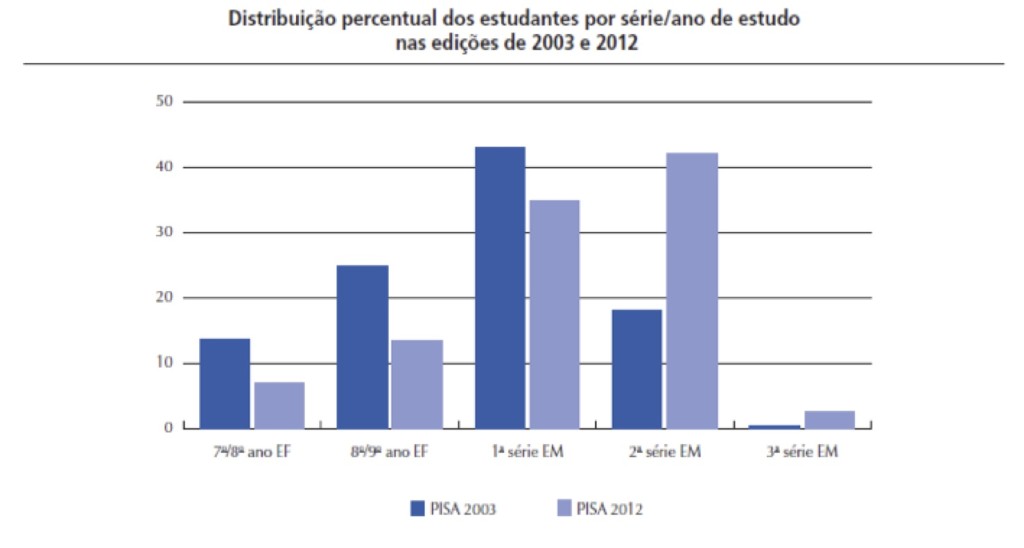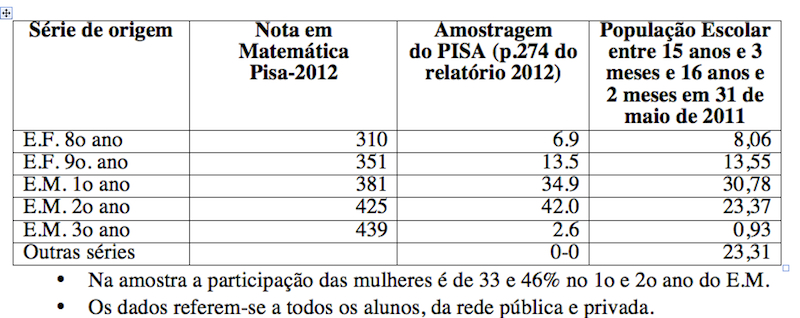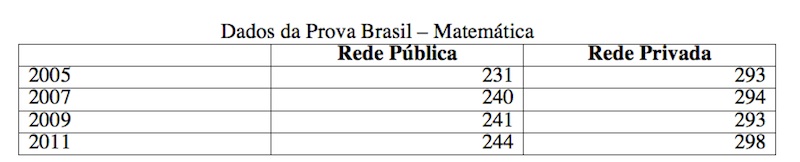No dia 18 de dezembro de 2013 participei de uma mesa redonda na Fundação Getúlio Vargas de lançamento do livro de Marcus André Melo & Carlos Pereira, Making the Brazil Work – Checking the President in a Multiparty System Palgrave MacMillan, 2013.. É um livro extremamente rico, que analisa o sistema político brasileiro em seus diferentes aspectos – a presidência, a política de coalizões, o funcionamento dos estados, o papel do judiciário e das agências de regulação – fazendo uso de muitas evidências e comparando o Brasil com outros países, sobretudo da América Latina. Transcrevo abaixo os comentários que fiz.
No dia 18 de dezembro de 2013 participei de uma mesa redonda na Fundação Getúlio Vargas de lançamento do livro de Marcus André Melo & Carlos Pereira, Making the Brazil Work – Checking the President in a Multiparty System Palgrave MacMillan, 2013.. É um livro extremamente rico, que analisa o sistema político brasileiro em seus diferentes aspectos – a presidência, a política de coalizões, o funcionamento dos estados, o papel do judiciário e das agências de regulação – fazendo uso de muitas evidências e comparando o Brasil com outros países, sobretudo da América Latina. Transcrevo abaixo os comentários que fiz.
Fazendo o Brazil Funcionar
Com altos e baixos, a democracia brasileira tem funcionado sem interrupção desde 1985, contrariando algumas previsões mais sombrias de que nosso sistema político, denominado “Presidencialismo Multi-Partidário”, ou, na formulação de Sérgio Abranches, “Presidencialismo de Coalizão”, seria disfuncional e correria sérios riscos de ingovernabilidade e instabilidade. Sem deixar de reconhecer os problemas existentes, os autores argumentam que, na verdade, este sistema tem sido um grande sucesso e veio para ficar, graças à combinação de três fatores: uma presidência forte; a existência de “moeda política” – cargos, recursos orçamentários e decisões de política pública – que possam ser utilizados para manter a coalização parlamentar em linha; e um conjunto de controles externos que incluem o judiciário independente, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a imprensa livre, e outros. Com isto, a democracia brasileira, nos dizer dos autores, atingiu a maturidade, “has come to age”. Este “sucesso inesperado” não teria ocorrido somente no Brasil, mas também em outros países, começando pelo Chile, aonde um arranjo semelhante também existiria.
Todo livro é, direta ou indiretamente, um diálogo com outros, e, no caso, dois ou três tipos de interlocutores podem ser identificados. O primeiro são aqueles que argumentam que o sistema representativo é inerentemente perverso, e que deveria ser substituído por formas diretas de democracia. Este argumento não tem muita ressonância entre especialistas, mas é bastante popular em muitos setores da opinião pública, da juventude e dos movimentos sociais. Aqui, vale lembrar a famosa frase de Winston Churchill nos anos 40, de que a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras que já foram tentadas. Marcus Melo e e Carlos Pereira vão além de Churchill, no entanto, ao argumentar que nossa democracia, na verdade, funciona bastante bem.
O segundo grupo de interlocutores são os que, como Juan Linz, Fernando Henrique Cardoso e Bolivar Lamounier, defenderam a ideia de que nosso tradicional presidencialismo deveria ser substituído com vantagens por um sistema político parlamentarista, acompanhado de uma reforma do sistema partidário. Com a vitória do presidencialismo no plebiscito em 1993, a tese do parlamentarismo ficou de lado, o que não impede que muitos continuem apontando para os problemas de nosso presidencialismo e nosso sistema partidário e insistindo na necessidade de torná-los mais funcionais e mais representativos da sociedade. Contra estes os autores dizem que, claro, todo sistema político tem seus problemas, mas nosso presidencialismo funciona bastante bem, e não precisa de maiores reformas.
Eu concordo plenamente com os autores quanto à importância da democracia representativa, não somente como imperativo ético, mas também porque os sistemas políticos abertos e competitivos têm maior capacidade de administrar contradições e conflitos e abrir espaço para iniciativas e inovações do que os sistemas autoritários, sobretudo em países grandes e complexos como o Brasil, por mais eficientes que estes possam ser no curto prazo. Isto é mostrado com muita clareza por Bolivar Lamounier em seu livro Da Independência à Lula: Dois Séculos de Política Brasileira (Augurium, 2005) em que argumenta que foram muito poucos os períodos de regime fechado na história brasileira, e estes períodos foram muito mais instáveis do que as diferentes democracias que experimentamos, da monarquia parlamentarista à República Velha, passando pela Segunda República do pós-guerra e agora pela democracia aberta que já começou a existir antes mesmo que o regime militar acabasse.
Aonde eu concordo menos é na resposta ao dilema que eles colocam ao final do livro entre ver o copo como meio cheio ou meio vazio. Ao colocar ênfase no lado meio cheio, eles deixam de examinar o período do governo Sarney e a desastrosa eleição de Fernando Collor/Itamar Franco, e focalizam a atenção sobretudo nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, que podem ser considerados excepcionais em dois sentidos importantes. No primeiro caso, a legitimidade eleitoral obtida por Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real, que lhe permitiu governar por alguns anos com uma equipe técnica altamente qualificada, organizando a economia do país (legitimidade eleitoral que não faltou a Collor no início, mas que não lhe serviu de nada). No segundo caso, os benefícios de uma conjuntura econômica internacional extremamente favorável que permitiu ao governo Lula fazer amplo uso das “moedas políticas” da distribuição de cargos e favores para garantir tanto o apoio parlamentar de que necessitava quanto a aprovação da opinião pública. Esta condição excepcional deixou de existir ao final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, e tudo indica que sua ausência está afetando também de maneira profunda o governo de Dilma Rousseff.
O fato de nosso presidencialismo ter funcionado razoavelmente bem nestes períodos excepcionais, e ter pelo menos sobrevivido ao descontrole do governo Sarney e à corrupção extrema do governo Collor, e ainda o fato de que a democracia brasileira funcione melhor do que a da Argentina, Venezuela ou do Equador (mas não, me parece, que a do Chile) não me parece suficiente para que nos acomodemos achando que tudo está bem. É necessário ter um standard de referencia mais alto. Nosso sistema de representação proporcional é extremamente problemático, fazendo com que os eleitores não saibam em quem votaram e os parlamentares só representem os grupos de interesse que os financiam diretamente. Pelo estatuto das medidas provisórias, o parlamento abdica de seu direito de legislar, em troca das “moedas políticas” que recebe do executivo para lhe prestar apoio.
Não há dúvida de que a barganha funcionou bem durante muito tempo, mas o governo Dilma tem enfrentando um parlamento cada vez mais rebelde, não no esforço de reafirmar sua responsabilidade legislativa, mas de aumentar cada vez mais as “moedas” que recebe (inclusive buscando tornar impositivas as emendas parlamentares), que se tornam cada vez mais escassas com o recesso econômico e o esgotamento da capacidade do governo de aumentar impostos e gastos. No impasse político que vai se gestando, a capacidade de ação o governo se reduz, e não faltam vozes no partido do governo propugnando bandeiras populistas que incluem desde a tentativa de controlar a imprensa até ao esforço por desmoralizar o judiciário, passando por políticas econômicas de curto prazo que continuam favorecendo a distribuição de benefícios em detrimento de uma racionalidade econômica de médio e longo prazo, dificultada ainda mais pelo calendário eleitoral que, a cada dois anos, paralisa o país. Creio que concordamos todos que estas vozes dificilmente vão prevalecer, pela própria complexidade da sociedade brasileira e de suas instituições. Mas nossa democracia não está imune a outros Collor e Sarneys, sem falar nos fantasmas de Kirshner e Chaves, e isto deveria nos preocupar.