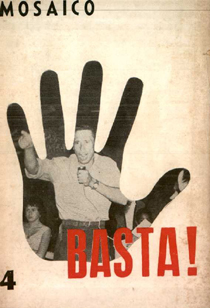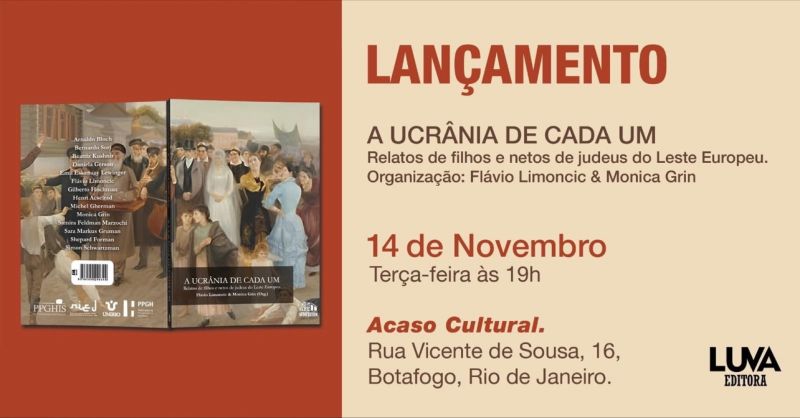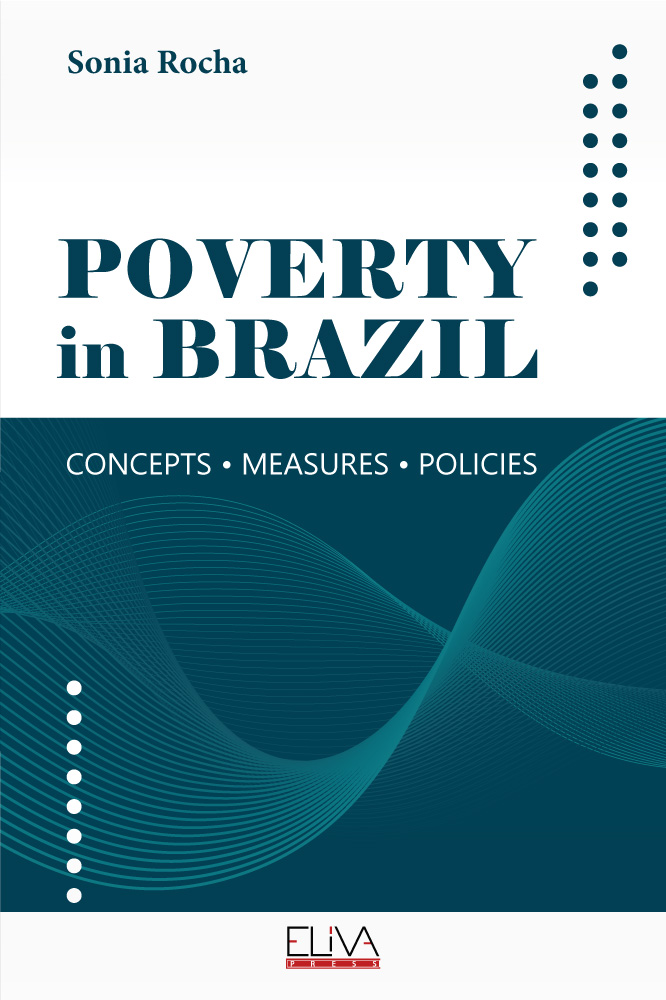Este livro reúne um conjunto de textos, muitos deles inéditos, que acompanham a transformação da abordagem da pobreza no Brasil, que, por volta dos anos noventa, passa a ocupar um lugar de destaque, tanto nos meios acadêmicos como na agenda de política social, ganhando visibilidade na mídia e entre o público em geral. A pobreza deixa de ser um assunto de caráter essencialmente filantrópico, de certo modo considerado como um fato normal da vida, associado às desigualdades inevitáveis da organização social. Ganha protagonismo próprio e atenção específica, deixando também de ser vista como um apêndice do subdesenvolvimento e da política pública. Esta ainda estava muito centrada nas questões macroeconômicas e na promoção do desenvolvimento econômico, na crença que o crescimento da renda levaria automaticamente à redução progressiva da pobreza.
No âmbito na política pública, a nova abordagem causou uma ruptura do enfoque clientelista e assistencialista que operava sem qualquer controle, passando-se a privilegiar paulatinamente instrumentos e ações anti-pobreza baseadas em evidências objetivas e passíveis de avaliação.
Os textos apresentados aqui rompem portanto com a tradição predominante até os anos oitenta, adotando uma abordagem centrada na pobreza com uma pegada empírica. Utilizam como ponto de partida bases estatísticas oficiais cobrindo o país como um todo e suas subdivisões territoriais/espaciais, que tanto servem para fins de análise e de diagnóstico, focando em última instância na aplicação para desenho, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para o combate à pobreza e sua irmã gêmea, à desigualdade de renda.
O texto inicial serve como pano de fundo para todos os demais. Traz uma retrospectiva dos dados básicos desde 1990, apresentando a tendência geral de declínio da pobreza, mas enfatizando as alterações ocorridas associadas à urbanização e à consequente perda de importância relativa da pobreza rural. A expansão da fronteira do Centro-Oeste causa modificações na distribuição regional da pobreza, mas a dicotomia fundamental entre Norte e Sul pouco se altera, já que a pobreza brasileira permanece predominantemente nordestina, mas crescentemente nortista.
Os textos que se seguem enfocam diferentes aspectos da questão da pobreza. Geralmente adotam como pressuposto a abordagem da pobreza como insuficiência de renda. Utilizam-se, portanto, frequentemente linhas de pobreza e de extrema pobreza como critério básico para distinguir um subconjunto de pobres, medir a incidência de pobreza e caracterizar a subpopulação pobre. A primazia da abordagem de pobreza enquanto insuficiência de renda na maioria dos textos apresentados aqui merece algumas qualificações.
A primeira é que, embora pobreza seja reconhecidamente uma síndrome de carências multivariada, o nível de renda é o determinante básico do nível de bem-estar das famílias, pelo menos no que o bem-estar depende do consumo no âmbito privado. Por esta razão estudos de pobreza em países de renda média ou alta utilizam preponderantemente a abordagem da renda como ponto de partida. Um dos textos selecionados – Measuring Poverty in Brazil: A Review of Early Attempts – faz uma revisão dos diferentes experimentos pioneiros de medição de pobreza no Brasil usando linhas de pobreza, explicitando como foram estabelecidos seus valores e quais os resultados obtidos.
A segunda qualificação concerne à aplicabilidade de um valor único de linha de pobreza para um país tão vasto e com características diferenciadas de consumo e de preços, portanto de custo de vida. Os textos selecionados aqui adotam como pressuposto linhas de pobreza e de extrema pobreza diferenciadas por regiões e por suas subáreas (urbanas, rurais e metropolitanas). Além disso, ao invés de usar valores arbitrários como linha de pobreza – como por exemplo, um múltiplo do salário mínimo-, os valores adotados derivam-se da estrutura de consumo efetivamente observada dentre os mais pobres em pesquisas de orçamentos familiares. Os valores das linhas são, portanto, resultado das preferências de consumo dos indivíduos e famílias, dada a restrição de renda que enfrentam. A diferença de valores entre áreas mais afluentes, com estrutura de consumo de maior custo, como a metrópole de São Paulo, e as áreas mais pobres, como a área rural do Nordeste, evidencia a relevância de usar parâmetros de renda tão localizados quanto possível para medir pobreza no Brasil. Premissas e procedimentos utilizados para a derivação e atualização periódica dos valores espacialmente diferenciados das linhas de pobreza são objeto de um dos textos selecionados (Poverty Lines for Brazil: New Estimates from Recent Empirical Evidence).
Um terceiro aspecto tem a ver com a vantagem do uso de linhas de pobreza como premissa, já que ela permite incorporar à análise, simultaneamente, outras carências associadas à pobreza. Assim, a partir da delimitação dos pobres do ponto de vista da renda, podem ser derivados perfis dos pobres, e se desejado, também dos não-pobres, utilizando variáveis relativas à educação, inserção no mercado de trabalho, acesso a serviços públicos, estrutura familiar, etc. Os textos Poor and Non-Poor in the Brazilian Labor Market e Who are the Poor in Brazil tiram partido desta abordagem combinada.
Alguns dos textos selecionados utilizam apenas subsidiariamente a renda para a análise de aspectos relevantes da pobreza. Em Sustainable Development and the Poverty Reduction Goal discutem-se três aspectos relativos à noção de sustentabilidade no Brasil, que são frequentemente vinculados à questão de pobreza. Em particular o falso trade-off entre crescimento econômico e política anti-pobreza. Um outro texto, Child Labor in Brazil and the Program for Eradication of Child Labor, enfoca um problema crítico da pobreza e desenvolve uma tipologia das crianças envolvidas em trabalho precoce visando o desenho e a operacionalização do PETI, sem utilizar linhas de pobreza.
O texto sobre o trabalho infantil acima citado, assim como três outros textos selecionados, enfoca o processo de formulação, aplicação e aperfeiçoamento dos novos programas de transferências de renda, começando com o Bolsa-Escola em Brasília. Revelam-se os defeitos e dificuldades detectados, que foram contornados ou pelo menos amenizados com os aperfeiçoamentos paulatinos introduzidos, em particular, no Bolsa-Família ao longo do tempo. Estes textos sobre os programas de transferência de renda, que combinam micro-simulações, análise e explicitação da lógica da adoção das progressivas mudanças no desenho dos programas, estão fortemente vinculados à operação da política pública anti-pobreza adotada no país desde os anos noventa, fortemente centrada nas transferências de renda focalizadas.
Dois textos tratam da desigualdade de renda, que está imbricada à persistência da pobreza absoluta no Brasil, já que, diferentemente do que ocorre em países realmente pobres, em base per capita, há renda suficiente para que toda a população brasileira se situe acima das linhas de pobreza. Nas raízes da desigualdade e da pobreza estão as históricas deficiências educacionais, que determinam a relação entre nível de escolaridade dos indivíduos e as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. O primeiro texto – Education, Labor Earnings and the Decline of Income Inequality in Brazil – enfoca as relações entre educação e renda do trabalho, e os impactos sobre a pobreza e a desigualdade de renda. O segundo – Age and Regional Inequality Among the Poor in Brazil – se concentra na desigualdade entre os pobres. Mostra como no período 2004-2014, caracterizado pela queda sustentada da pobreza, não houve redução na desigualdade entre os pobres tanto no que se refere ao recorte regional – mantendo-se a concentração de pobres no Norte/Nordeste, como já se comentou, como por faixa etária. Neste último caso foram os idosos, que já se encontravam em melhor situação relativa dentre os pobres, os que mais se beneficiaram da redução da pobreza no período, em particular devido à cobertura dos benefícios previdenciários e assistenciais, indexados ao salário mínimo, que muito se valorizou no período. No extremo oposto foram as crianças as grandes perdedoras, com aumento de sua participação dentre os pobres, apesar de programas como o Bolsa-Família. Estes resultados deixam evidente o ponto crítico da política anti-pobreza que vem sendo adotada no Brasil, dos programas de transferência de renda mais especificamente, incapazes de proteger as crianças, os mais vulneráveis e também em maior desvantagem dentre os pobres.
Um ultimo conjunto de artigos mostra como as oscilações conjunturais e fatores macroeconômicos impactaram os níveis de pobreza, o que não é surpreendente, já que utilizamos a abordagem da renda. Como a inflação castiga preponderantemente os pobres, o estancamento da alta de preços do Plano Real trouxe uma forte redução da pobreza com melhorias distributivas marcantes, mas não deu origem a um processo continuado (The 1994 Monetary Stabilization. Early Evidence of its Impacto on Poverty). Entre 1997 e 2004 diversos determinantes macroeconômicos – de crises externas a dificuldades da gestão cambial – deixaram as taxas de pobreza estagnadas. Só a partir de 2004 se iniciou um ciclo sustentado de redução da pobreza, impulsionado por fatores favoráveis tanto internos como externos.
Hoje muito já se sabe sobre pobreza no Brasil e sobre os mecanismos de política pública mais eficientes para combatê-la. Os textos apresentados neste livro trazem um conjunto de evidências e reflexões com a intenção de ilustrar os progressos ocorridos no longo prazo e o enorme aprendizado acumulado. Os retrocessos ocorridos desde a recessão iniciada em 2014, acentuados pela crise sanitária atual, vão demandar todo o talento e arte para a recuperação das perdas e a retomada do crescimento econômico em moldes adequados à nova realidade.