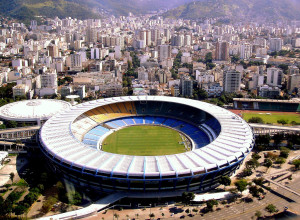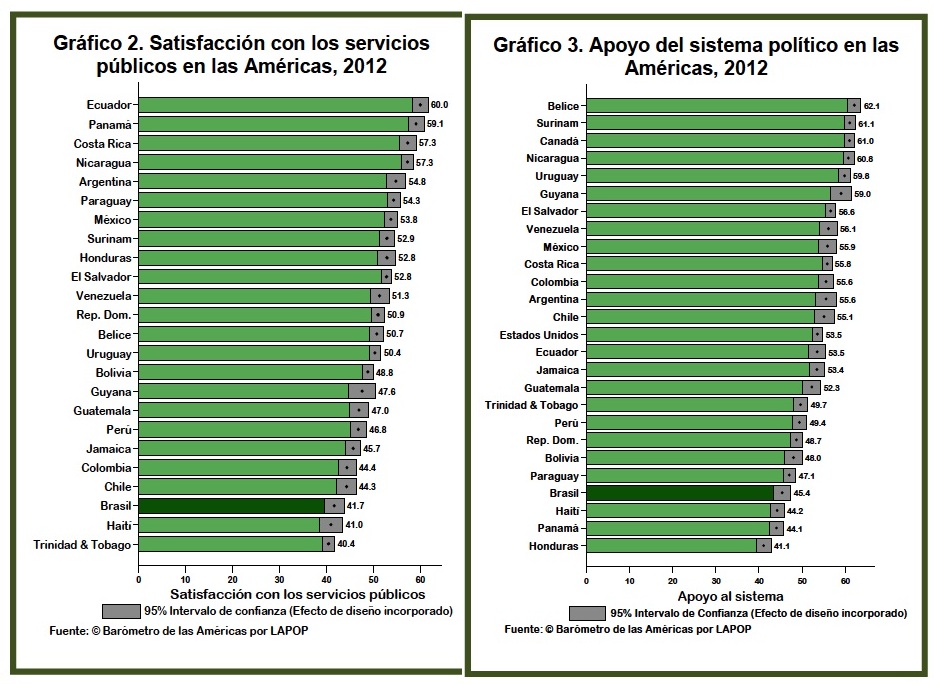Comparto a contribuição do cientista político Antônio Octávio Cintra ao debate sobre como interpretar o sentido e as consequências nas manifestações de rua do mês passado:
Este blog tem acolhido um bom debate sobre o sentido das recentes manifestações de rua, em particular como interpretadas pelo artigo de André Lara Rezende no Valor, que Simon aqui reproduziu.
Dou aqui algumas breves opiniões à luz do que foi dito pelos vários colegas. Primeiramente, tem-se questionado essas manifestações por fugirem dos canais institucionais, tendo elas, assim, caráter muito genérico e por certo fugaz.
O influente Samuel Huntington, em seu opus magnum Political Order in Changing Societies, no final dos anos 60, ampliou o conceito de “pretorianismo”, tirando-o da mais estrita conotação militarista, advinda da intervenção da guarda pretoriana na seleção e destituição de imperadores em Roma, e estendendo-o à irrupção de grupos da sociedade civil na esfera política, sem intermédio das instituições. Ao dar-se tal ampliação do conceito, como ficou sua valoração negativa? Parece ter irremediavelmente contaminado a abrangente realidade agora denotada. Em suma, por não serem institucionalizadas e, até mesmo, anti-institucionais , as manifestações, pedir-nos-ia redobradas cautelas em sua avaliação. Pé atrás.
Fica, porém, pendente a outra faceta da realidade: e quando as instituições se ossificam e se tornam avessas aos reclamos da sociedade, como se manifestam estes?
Lembrarei, aqui, três manifestações de representantes institucionais, ao longo dos últimos anos, sob governos do lulopetismo. Lula, já presidente, declarava, em 2006, ser a saúde, no Brasil, quase perfeita . Já no clima de preparação da Copa, não faz muito tempo, a ministra do – vejam bem – Planejamento, recomendava-nos despreocupação com o pouco que se fazia quanto à mobilidade urbana. Esse problema seria resolvido, porque decretaria feriado nos dias dos jogos. Finalmente e, creio, mais importante, numerosas vezes têm a presidente e o ministro da Fazenda proclamado estar a inflação sob controle, apesar de há muito bater no topo da meta.
Só sobre este último assunto, recordaria aos mais jovens que sou de uma geração formada politicamente tendo a inflação como um dos problemas centrais da vida econômica nacional. Inflação era tema quotidiano da discussão pública. Alguns professores meus a defendiam, como instrumento de poupança forçada, para o crescimento nacional. Mas o povo se queixava da crescente da “carestia”, palavra que Fernando Henrique Cardoso voltou a por em circulação em recentes artigos.
Contudo, nos estratos mais altos da classe média, tal problema não é vivenciado com a mesma intensidade que é pelo povão. Fiz a experiência, outro dia, num almoço, em que se reuniam amigos, todos da elite do funcionalismo público de Brasília. Perguntei o preço de certo tipo de melão. Ninguém sabia. Contudo, esse preço varia bastante entre um “verdurão” e dois supermercados da vizinhança, estes vendendo-o mais barato do que aquele. Uma amiga, presente, disse ter percebido a grande diferença de preço no que adquiria ao fazer uma compra num hiper-mercado, outro dia, dos mesmos itens e das mesmas quantidades habituais, e ter economizado cerca de R$ 100,00. Pois bem, minha empregada, meses atrás, me alertava para não fazer compras de alguns produtos onde eu semanalmente as fazia, por achá-los muito caros. Comecei a observar e vi estar corretíssima. Mudei os hábitos de compra.
Quem foi criado já sob a égide do Real não tem, provavelmente, idéia disso. Mas as autoridades públicas, se antes retomavam velhas idéias sobre a importância de alguma inflação para o crescimento, certamente se assustaram com as manifestações.
O descolamento, entre nós, das instituições públicas da base social, se presta a uma análise de quase vinte anos atrás, feita por Richard Katz e Peter Mair, da evolução dos partidos políticos nas democracias ocidentais (1). Resumidamente, mostram eles como essas entidades foram-se modificando ao longo dos últimos duzentos anos. De agremiações, inicialmente, da aristocracia rural, para quem a administração estatal era quase uma continuidade de sua atividade privada – não à toa, o parlamento era quase que uma extensão do club dessa elite – passa-se à incorporação dos estratos burgueses e da classe média, ao longo do século XIX. Surgem, depois, as agremiações da classe operária, inicialmente de fora do sistema político, com toda uma subcultura própria e, portanto, com a necessidade de suprir essa classe com as coisas a que não tinha acesso na sociedade global (imprensa, associações de vizinhança, educação política). Segue-se sua gradual entrada na instituição parlamentar e a ampliação de sua base social a outras camadas – tornam-se catch-all parties, na expressiva denominação britânica — e, finalmente, a assunção ao comando do executivo.
Nos anos 50, coube ao politólogo francês Maurice Duverger formalizar o paradigma dos novos partidos, os partidos de massa, que ele achava proverem o modelo que no futuro predominaria na vida política, mesmo entre os partidos burgueses, forçados a se organizar nos mesmos moldes (tese do contágio pela esquerda).
O PT, quando criado entre nós, seguiu bastante, e de caso pensado, a cartilha de Duverger. E o partido sabia organizar, foi capaz de agregar e institucionalizar movimentos sociais, e canalizar pleitos, e fazer oposição. Aos poucos, o partido abriu o foco, e o conceito de “trabalhador” abrangeu, além da classe operária, as demais categorias. Por pouco, não teríamos também trabalhadores-empresários e, até, trabalhadores-banqueiros, abrangidos pelo largo conceito…
Mas, conforme apontado por Katz e Mair, o partido de massa, ao conquistar o poder, entra numa nova categoria, o partido governamental (na terminologia e acepção deles, partido-cartel). A teoria, na prática, torna-se diferente… Temos, então, a “carta ao povo brasileiro”. O vasto espectro de associações, sindicatos, movimentos organizados, é incorporado ao poder, se torna para-estatal.
Que acontece? Aos poucos, reclamos novos são ignorados. Demos, acima, algumas instâncias chamativas desse fechamento oficial às novas demandas, algumas até geradas pela política governamental, como a mobilidade urbana, muito afetada pela massa de automóveis que tomaram as ruas.
Enfim, o partido que antes estava do lado de fora, agora, de dentro, se mostra incapaz de perceber a mudança que ele próprio ajudou a efetuar. Que, então, as manifestações irrompam por fora, não canalizadas, não deve causar surpresa, nem merecer desqualificação por se darem sem a intermediação de instituições. É que estas se descolaram primeiro.
—————————————
(1) (Richard S. Katz e Peter Mair, Changing Models of Party Organization and Party Democracy: the Emergence of the Cartel Party, Party Politics, 1995, 1, 5).