Alyson Wolf é professora do King’s College em Londres e autora, entre outros, de Does Education Matter? Myths About Education and Economic Growth (Penguin, 2002) aonde faz um ataque devastador ao complicado sistema de certificações profissionais desenvolvido ao longo dos anos pela Inglaterra. Agora em 2012 o governo inglês adotou oficialmente o relatório que ela coordenou sobre a educação profissional (“vocacional”) na Inglaterra, propondo profundas mudanças a partir de uma anállise da situação inglesa e de comparações internacionais.
A maior parte da discussão e das recomendações do relatório são específicas para o contexto inglês, Mas, para quem conseguir superar o emaranhado infernal de siglas de instituições, certificados e qualificações da Inglaterra, o Relatório traz análises e idéias preciosas, que poderiam ser muito úteis para a discussão brasileira que mal se inicia sobre este tema.
Ainda que as proporções variem, todos os países enfrentam a situação de que, por um lado, as credenciais e as qualificações proporcionadas pela educação mais acadêmica são valorizadas pelas pessoas e pelo mercado de trabalho, mas, por outro lado, um número significativo de jovens não consegue seguir o caminho tradicional que passa pela educação geral no ensino médio e termina com a formação universitária.
A alternativa, adotada no passado pela Inglaterra e a maioria dos países europeus, era destinar a maior parte dos estudantes (geralmente de familias mais pobres e menos educadas) desde 12 ou 13 anos de idade, a cursos de formação profissional e para o mercado de trabalho, reservando as carreiras mais acadêmicas e a universidade para poucos.
Esta situação, mostra o relatório, está mudando, e precisa mudar rapidamente, por várias razões. Não é justo definir o destino dos jovens tão cedo na vida, colocando-os em cursos que os deixam sem opções para continuar avançando e se desenvolvendo. As familias percebem isto, e os cursos de formação profissional são cada vez menos procurados. O mercado de trabalho também está mudando dramaticamente, sobretudo para os jovens. As antigas profissões artesanais estão desaparecendo, competências gerais como o domínio da língua, da matemática e das tecnologias de informação são cada vez mais importantes, e é cada vez mais dificil para jovens de menos de 18 anos conseguir trabalho e adquirir experiência prática.
Isto não significa, no entanto, que todos devam seguir o mesmo programa de estudos, e que a formação profissional deva ser abandonada ou colocada em segundo plano. O relatório mostra que se, por um lado, o complicado sistema de certificação de competências criado nas últimas décadas não produziu bons resultados, existem muitas experiências de aprendizagem em empresas e escolas que combinam formação geral e experiência de trabalho prático que dão resultados excelentes e são muito valorizados no mercado de trabalho, as vezes mais do que a formação universitária convencional.
Um aspecto central do sistema inglês é a avaliação a que todos os estudantes são submetidos aos 16 anos, ou seja, ao final do que no Brasil seria a educação fundamental, e quando obtêm o GCSE, o Certificado Geral de Educação Secundária. Aos 14 ou 15 anos os estudantes já começam a escolher em que áreas pretendem ser avaliados (em inglês, matemática ou ciências, por exemplo), e os que estão em programas de formação profissional podem se concentrar nestas áreas. O relatório recomenda que as escolas neste nível (o que eles chamam de Key Stage 4) tenham liberdade para oferecer as qualificações que queiram, profissionais ou acadêmicas, desde que façam parte de uma lista de áreas devidamente certificadas, e que tenham um conteúdo importante do ponto de vista da formação dos estudantes. A partir daí, conforme os resultados do GCSE, os alunos começam a buscar caminhos próprios e a se aprofundar nos temas de sua preferência, seja pela via academica (preparando-se para os “A-Level” aos 18-19 anos, para aceder à universidade) seja para a vida profissional ou alguma combinação das duas coisas, com pelo menos cinco caminhos alternativos principais .
O problema principal com a educação profissional é fazer com que ela não se transforme em um ritual sem significado para a formação do estudante e para suas chances no mercado de trabalho, e não coloque o estudante em um beco sem saída, aprendendo um ofício que pode se tornar obsoleto em pouco tempo. Aqui, como em seus trabalhos anteriores, Alyson Wolf critica a tendência adotada na Inglaterra e muitos outros países de desenvolver sistemas detalhados de competências que seriam depois avaliadas por testes padronizados. A idéia central é que a formação de uma pessoa não é a simples agregação de habilidades discretas e separadas, mas um processo integral. O que é importante é a experiência real de trabalho, combinada com o aprofundamento e ampliação contínua das competências no uso da língua e da matemática. O ensino da língua e da matemática não pode ser abandonado nem antes nem depois dos 16 anos, ainda que estudantes com níveis e interesses distintos possam fazer estes cursos em níveis diferentes.
A outra caracteristica importante da formação profissional é que ela seja feita com a participaçao do setor empresarial, tanto quanto possível em sistemas de aprendizagem que funcionem em parceria com a educação formal para o desenvolvimento das competências em linguagem e matemática. Fazer isto não é fácil, e duas linhas de ação são sugeridas. A primeira é dar apoio financeiro às empresas que desenvolvam sistemas de aprendizagem e formação profissional. Como estes aprendizes também trabalham nas empresas, e podem ser eventualmente contratados depois de formados, as empresas devem cobrir parte dos custos, mas ser também financiadas na proporção do trabalho formativo que realizam. A segunda é modificar e fortalecer o sistema de certificação das instituiçoes e programas de ensino profissional e de aprendizagem, não pela soma das competências que proporcionam (o que estimula a acumulação de créditos sem maior relevância) mas pela qualidade da experiência educativa e profissional que proporcionam. Esta certificação precisa ser feita com a participação ativa do setor empresarial, e não pode ser reduzir a sistemas simplistas de indicadores sintéticos de qualidade que, como mostra a Lei de Goodharts, por definição não medem o que pretendem.
O sistema ingles não pode nem deve ser copiado, mas temos muita coisa a aprender com seus erros e acertos. Entre os erros, evitar a especialização precoce, a proliferação burocrática das “compeetências” e habilidades e de títulos e certificados que nem eles mesmo entendem bem. Entre os acertos, permitir que os estudantes comecem a escolher seus caminhos aos 14 ou 15 anos, que em quase todo mundo correspondem ao “secundário inferior” mas no Brasil foram incorporados ao ensino fundamental; abrir muito mais o leque de alternativas de estudo e formação profissional a partir dos 16 anos, no “secundário superior”, que é nosso ensino médio; não abrir mão da certificação da qualidade dos cursos, dentro da vocação e interesse de cada um; estimular o setor privado a participar de forma ativa das atividades de educação, dando aos estudantes experiências concretas de trabalho profissional, sem abrir mão da formação contínua em língua e matemática; valorizar ao máximo os sistemas de aprendizagem, em parceria com as escolas; estimular a existência de escolas de formação profissional e especializada; e manter sempre aberta possibilidade de que as pessoas continuem a estudar e a se aperfeiçoar, independentemente dos caminhos que seguiram, ou não seguiram, em sua educação fundamental e média.
 Jamil Salmi, que trabalhou até recentemente como coordenador da área de educação superior fo Banco Mundial e é autor de uma das principais publicações sobre o tema das universidades de classe internacional, tem agora
Jamil Salmi, que trabalhou até recentemente como coordenador da área de educação superior fo Banco Mundial e é autor de uma das principais publicações sobre o tema das universidades de classe internacional, tem agora 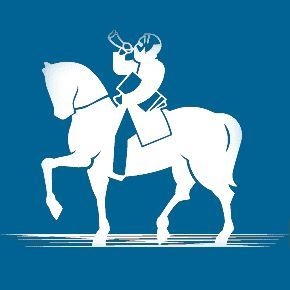 O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de 8 de fevereiro, publica o artigo abaixo, assinado por João Batista Araujo e Oliveira, Claudio de Moura Castro e por mim:
O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de 8 de fevereiro, publica o artigo abaixo, assinado por João Batista Araujo e Oliveira, Claudio de Moura Castro e por mim: