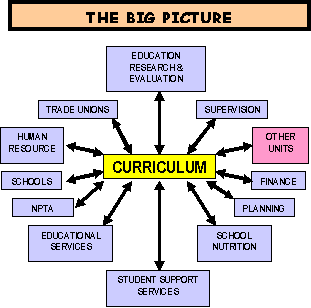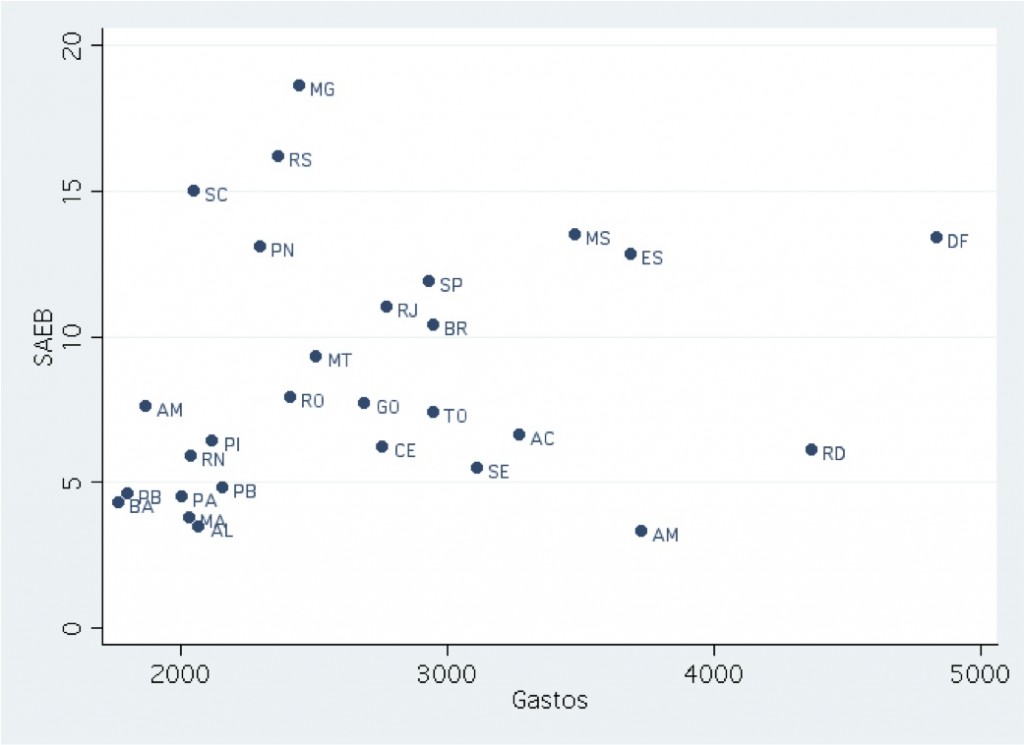Em importante artigo publicado em 10 de novembro de 2011 no El Mercurio, de Santiago do Chile, José Joaquín Brunner fala sobre a expansão do ensino superior na América Latina que, como no Brasil, tem ocorrido em grande parte em instituições dedicadas à docência, muito distantes do modelo clássico da universidade tradicional, mas nem por isto menos importantes, dentro de suas funções. Isto estaria criando uma contradição insanável entre as demandas de “educação para todos” e de “educação de qualidade”, pelo menos no sentido em que esta última é tradicionalmente entendida, o que ajuda a entender o mal estar que o tema do ensino superior tem provocado no Chile e outras partes.
Segundo ele, “el hecho de que en la época de la educación superior masiva y en vías de universalizarse, la mayoría de los estudiantes curse sus estudios superiores en institutos no universitarios y en universidades puramente docentes -públicas o privadas, da igual- no puede sorprender. Pues son estas instituciones -menos selectivas y, por ende, de menor prestigio académico y social y un menor costo unitario por alumno- las únicas que están en condiciones de garantizar un acceso masivo, y eventualmente universal, para estudiantes provenientes de hogares con menor capital económico, social y cultural. A ellas debemos que se hayan abierto las puertas hasta ayer cerradas hacia la educación terciaria, permitiendo el ingreso de un contingente cada vez más grande de jóvenes y adultos al dominio del conocimiento profesional y técnico hasta ayer controlado por una minoría”.
El fenómeno más llamativo de la educación universitaria: masificación y universalización
José Joaquin Brunner, Universidad Diego Portales, Santiago
Durante las últimas cuatro décadas (apenas un instante en comparación con 9 siglos de historia de las universidades), la matrícula terciaria aumentó en esta parte del mundo de manera dramática: de apenas 1,9 millones de estudiantes en 1970 a 8,4 millones en 1990 y a alrededor de 25 millones en 2011.
De acuerdo con la última estadística disponible (2008), el estudiantado iberoamericano representa un 13% de la matrícula mundial, tres puntos porcentuales más que el peso relativo de la población iberoamericana a nivel global.
Durante el mismo período, la tasa bruta de participación -es decir, el número de matriculados, independiente de su edad, expresado como porcentaje de la cohorte en edad de cursar estudios superiores- escaló en nuestra región de 6% en 1970 a más de 40% el presente año.
Nos acercamos entonces al umbral del 50%. Y varios países superaron dicho umbral hace ya varios años. En esta situación se hallan España, Portugal, Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile, con tasas de participación superiores a 50%. Otros dos países -Panamá y Ecuador- es probable que alcancen tasas similares de participación dentro de la presente década. Tasas ubicadas en la franja de 50% a 60% son hoy propias de países desarrollados, encontrándose allí Irlanda, Austria, Francia y Reino Unido, mientras Suiza está a punto de sumarse.
Estos procesos tienen alcance mundial y manifiestan un verdadero cambio de marea en la historia de la educación superior a nivel mundial. Ese cambio de marea se traduce especialmente en la extrema diferenciación y diversificación institucionales del sistema.
A la luz de los datos proporcionados por los estudios nacionales, en Iberoamérica existirían hoy cuatro mil universidades (¡sí, 4 mil!) y, adicionalmente, cerca de doce mil instituciones no universitarias de educación superior. Estas cifras contrastan incluso con las de los Estados Unidos, país que posee la enseñanza terciaria más descentralizada y mejor dotada de recursos, con una matrícula aproximada a la iberoamericana: hay allá, en efecto, 20,5 millones de estudiantes repartidos en alrededor de 4,5 mil instituciones, de las cuales 2,8 mil son universidades y 1,7 mil son colleges que imparten programas de dos años de duración. Podemos usar un ejemplo adicional de comparación: en China había 23 millones de estudiantes terciarios en 2005, distribuidos en alrededor de 2.400 instituciones, de las cuales 1.650 eran instituciones regulares, equivalentes a nuestras variopintas universidades.
Esas cifras introducen una ruptura radical con el concepto tradicional de universidad como institución selectiva, centro de excelencia, hogar de la alta cultura y sede de la intelligentsia académica, un grupo siempre minoritario y excelso según se percibe él a sí mismo.
¿Acaso tales imágenes -que subentienden la formación superior como una actividad pública altamente concentrada del espíritu- son compatibles con la proliferación de centenares y miles de organizaciones que, en la actualidad, cumplen esencialmente funciones de entrenamiento técnico y profesional?
Ese panorama poco tiene que ver con aquel mundo más bien recoleto y colegial donde se desenvolvía la educación superior de elite, con sus pocas pero consistentes instituciones, su encumbrado valor social y sus ritmos lentos de maduración. Las universidades contemporáneas han dejado de ser lugares tranquilos para enseñar, realizar trabajo académico a un ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados.
Como resultado de esos procesos, se multiplican sin contrapeso las instituciones puramente docentes en América Latina. Éstas -a diferencia del ideal proclamado por el cardenal Newman, el de preparar a una clase dirigente consciente de su propio carisma social y cultural- actúan más bien como agencias de socialización, instrucción y certificación, produciendo personal técnico-profesional de manera crecientemente estandarizada y conforme a una secuencia bien organizada de actividades y entrenamientos.
En casi todos los países del área iberoamericana predomina este tipo de instituciones, y no el modelo humboldtiano de universidad del saber, si bien este último comanda mayor prestigio y actúa como ideal para la fracción más consolidada de la profesión académica.
Un simple ejercicio permite apreciar que entre las casi 4 mil universidades iberoamericanas, sólo 62 (menos de un 2%) se aproximan a la noción de una research university por el volumen de su producción científica medida bibliométricamente; un segundo grupo, de tamaño similar (69 universidades), puede calificarse como compuesto por universidades con investigación; luego hay un tercer grupo, de 133 universidades (3,3% del total) que, con benevolencia, puede decirse que se halla integrado por “universidades emergentes” a la investigación, las cuales publican en promedio, durante un período de cinco años, entre 50 y 200 artículos anuales. En consecuencia, el 93% de nuestras 4 mil universidades debe clasificarse como instituciones puramente docentes, incluyendo entre ellas a un grupo de algo más de 1,1 mil universidades que tienen una actividad artesanal de investigación, publicando en promedio entre 1 y hasta 10 artículos anualmente durante el último lustro.
Ahora bien, el hecho de que en la época de la educación superior masiva y en vías de universalizarse, la mayoría de los estudiantes curse sus estudios superiores en institutos no universitarios y en universidades puramente docentes -públicas o privadas, da igual- no puede sorprender. Pues son estas instituciones -menos selectivas y, por ende, de menor prestigio académico y social y un menor costo unitario por alumno- las únicas que están en condiciones de garantizar un acceso masivo, y eventualmente universal, para estudiantes provenientes de hogares con menor capital económico, social y cultural. A ellas debemos que se hayan abierto las puertas hasta ayer cerradas hacia la educación terciaria, permitiendo el ingreso de un contingente cada vez más grande de jóvenes y adultos al dominio del conocimiento profesional y técnico hasta ayer controlado por una minoría.
En breve, el panorama institucional de la educación superior está siendo transformado en profundidad y en variados aspectos por estos fenómenos de expansión y diferenciación.
Lo que molesta y alborota a veces a quienes se identifican con los ideales y valores de la universidad humboldtiana -aquella que se precia de ser la expresión ética e intelectual de un Estado cultural (Kulturstaat) por medio del libre cultivo de la formación (Bildung) y la investigación- es la pérdida del aura que rodeó a la educación superior al comienzo de los tiempos modernos. Igual como otras cosas hasta entonces consideradas sólidas y consagradas, también las universidades han visto esfumarse su prestigio tradicional bajo la marea de la masificación y con su progresiva desvinculación de las redes del poder, la riqueza y la influencia.
Naturalmente, hubo quienes tempranamente reaccionaron frente a esta transformación, percibiéndola como una amenaza para el carácter desinteresado de la universidad o bien para las jerarquías sociales y el orden cultural.
Por ejemplo, Thorstein Veblen, uno de los padres de la sociología crítica, produjo en un famoso opúsculo de 1918, el primer ataque -lúcido e irónico- contra lo que hoy algunos denominan “capitalismo académico”; esto es, la comercialización y burocratización de la educación superior, con su secuela de rasgos mundanos, publicidad mercantil, predominio del pragmatismo, ánimo empresarial y afán de medir el trabajo académico reduciéndolo, decía él, “a una consistencia mecánica, estadística, con patrones y unidades numéricas, lo que genera en todo momento un trabajo superficial y mediocre”.
Por su lado, el humanista alemán Ernst Robert Curtius proponía derechamente en esos mismos años que “la más apremiante reforma universitaria” debería consistir en volver a cerrar las puertas abiertas a las masas “y en dificultar el paso hacia la universidad”.
Luego vendría Abraham Flexner, quien en los años 30 del siglo pasado reclamaba que las universidades modernas se estaban convirtiendo en muchas cosas a la vez: en escuelas secundarias, institutos vocacionales, facultades pedagógicas, centros de investigación, agencias de capacitación; “esto y mucho más, simultáneamente” se quejaba. Las veía envueltas en “cosas absurdas” e inconducentes. Sin necesidad, decía, “se abaratan, vulgarizan y vuelven mecánicas”, perdiendo su antiguo “carácter orgánico”. Lo más grave de todo -diría Flexner- es que estaban llegando a ser una suerte de “estaciones de servicio para el público en general”.
También en nuestro idioma castellano aparecían en esa época críticas a las insuficiencias de la universidad debidas, se esgrimía, a la precariedad del entorno cultural en que ellas se desenvolvían. Dos académicos chilenos, Yolando Pino y Roberto Munizaga, sugerían que el deterioro de la vida universitaria se debía en Chile a una “cierta actitud de vulgaridad espiritual que, ascendiendo desde los sectores sociales ordinarios, se refleja en la cultura de las clases dirigentes del país”. Estas últimas, decían ellos, con su concepto demasiado tosco de lo útil y un dinamismo sin consistencia, crean un ambiente hostil para el cultivo de las ciencias y para los científicos, los que empezaban a ser mirados -se lamentan- con una “mezcla de incomprensión, superioridad, conmiseración e ironía”. Tal era la tensión que comenzaba a aflorar en Chile, en las primeras décadas del siglo pasado, entre la república de las letras y la burguesía comercial.
Es cierto: hubo también quienes, en los mismos años o más adelante, reaccionaron en sentido contrario, celebrando por ejemplo a la universidad docente y el potencial, incluso comercial, de la universidad multiuso y la educación superior masiva.
Ortega y Gasset, sin ir más lejos, daba por misión central a la universidad no la investigación, sino asegurar la enseñanza superior, profesional, del hombre medio y situarlo culturalmente a la altura de los tiempos. Resumía su propuesta así: “Hay que hacer del hombre medio un buen profesional. Junto al aprendizaje de la cultura, la universidad le enseñará, por los procedimientos intelectualmente más sobrios, inmediatos y eficaces, a ser un buen médico, un buen juez, un buen profesor de matemáticas o de historia”. En breve: la universidad debía ser, ante todo, “una institución docente”.
Por su lado, Clark Kerr, en su libro sobre los usos de la universidad de 1963, publicado luego de haberse desempeñado él como rector de la Universidad de California, Berkeley, muestra que aun las mejores universidades públicas de investigación de los EE. UU. estaban convirtiéndose en lo que denomina multiversidades. Es decir, esa suerte de “estaciones de servicio para todo público” que Flexner había denunciado treinta años antes. Según Kerr, empezaba a crearse un nuevo tipo de institución: “ni realmente privada ni pública en realidad”, escribía; “ni enteramente del mundo ni completamente aparte de él. Única, en verdad”.
Describía a esta institución única como inconsistente, formada por múltiples comunidades, con fronteras borrosas y permeables, dispuesta a servir a la sociedad de manera casi servil al mismo tiempo que la critica a veces sin piedad; dedicada a la igualdad de oportunidades aunque internamente se organiza como una estructura de clases; con intereses internos dispersos, incluso contradictorios; sin un alma sino con varias (no sabiendo a veces cuál salvar). Compuesta por numerosas partes y piezas que podían substraerse o adicionarse con escaso impacto sobre el todo, la multiversidad -decía Kerr- se asemeja más a un mecanismo “unido por reglas administrativas y alimentado con dinero” que a una unidad orgánica. En América Latina el panorama de la educación superior se asemeja hoy más a aquellas ciudades aluvionales que de pronto aparecen en la región -improvisadas, irregulares, ruidosas, heterogéneas, inmaduras, donde conviven opulencia y pobreza, edificios de lujo junto a favelas, espíritu comercial y utopías anacrónicas, corrupción y burocratismo- que a una bien organizada república de las letras o a cualquiera otra entidad orgánica, rodeada de aura tradicional.
Es ahí, en medio de estas contradicciones, a partir de sistemas todavía no bien asentados ni articulados, que florece una educación superior a ratos caótica, más próxima a los mercados que al templo, de espaldas a las tradiciones dentro de las cuales se generó la idea de la universidad moderna y el concepto de educación superior como vértice y culminación de los procesos formativos de las elites.
Un supuesto que existiría algo así como una esencia de la universidad en sí naufragó en medio de la complejidad social, la diferenciación interna de las organizaciones universitarias y la diferenciación externa de los sistemas de educación terciaria producidos por su masificación y universalización.
La institución universitaria ha perdido su centro y debe responder ahora, más bien, a una variedad de partes interesadas ( stakeholders ), dentro y fuera de la institución. Produce masivamente personal certificado, con contenidos y métodos relativamente estandarizados. No controla ya la producción del conocimiento avanzado a la manera de un monopolio ilustrado. En su interior las especializaciones disciplinarias se conjugan con iniciativas inter y transdisciplinarias, dando lugar a una organización que ya en nada se asemeja a la agrupación de facultades de Kant. La investigación corre por canales separados de la enseñanza de pregrado, aunque la retórica de la administración académica sostenga otra cosa. En suma, por todas partes reinan la novedad, la confusión y la pregunta sobre el destino de la institución.
¿Acaso no es el desconcierto frente a esas transformaciones -por fin la universidad para todos- lo que explica parte del malestar que experimentamos en Chile?
 Quando o Walmart chega a uma pequena cidade, a população pode comprar produtos mais baratos e diferentes, mas muitos pequenos negócios fecham, e muita gente perde seu emprego, ou tem que aceitar as condições de trabalho que a grande empresa oferece. Para sobreviver, é preciso oferecer um produto diferenciado, um serviço mais pessoal e de melhor qualidade, mesmo que a a um preço maior, que os grandes supermercados não podem proporcionar. Será que isto está ocorrendo também no ensino superior privado no Brasil, com a entrada das grandes universidades privadas de ensino de massas? Existe ainda espaço para as pequenas faculadades familiares e personalizadas? Veja abaixo o desabafo do diretor de uma pequena instituição familiar no interior Paulista.
Quando o Walmart chega a uma pequena cidade, a população pode comprar produtos mais baratos e diferentes, mas muitos pequenos negócios fecham, e muita gente perde seu emprego, ou tem que aceitar as condições de trabalho que a grande empresa oferece. Para sobreviver, é preciso oferecer um produto diferenciado, um serviço mais pessoal e de melhor qualidade, mesmo que a a um preço maior, que os grandes supermercados não podem proporcionar. Será que isto está ocorrendo também no ensino superior privado no Brasil, com a entrada das grandes universidades privadas de ensino de massas? Existe ainda espaço para as pequenas faculadades familiares e personalizadas? Veja abaixo o desabafo do diretor de uma pequena instituição familiar no interior Paulista.