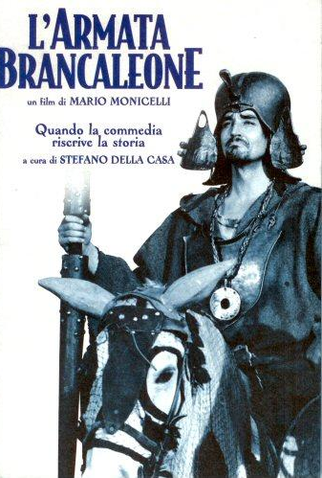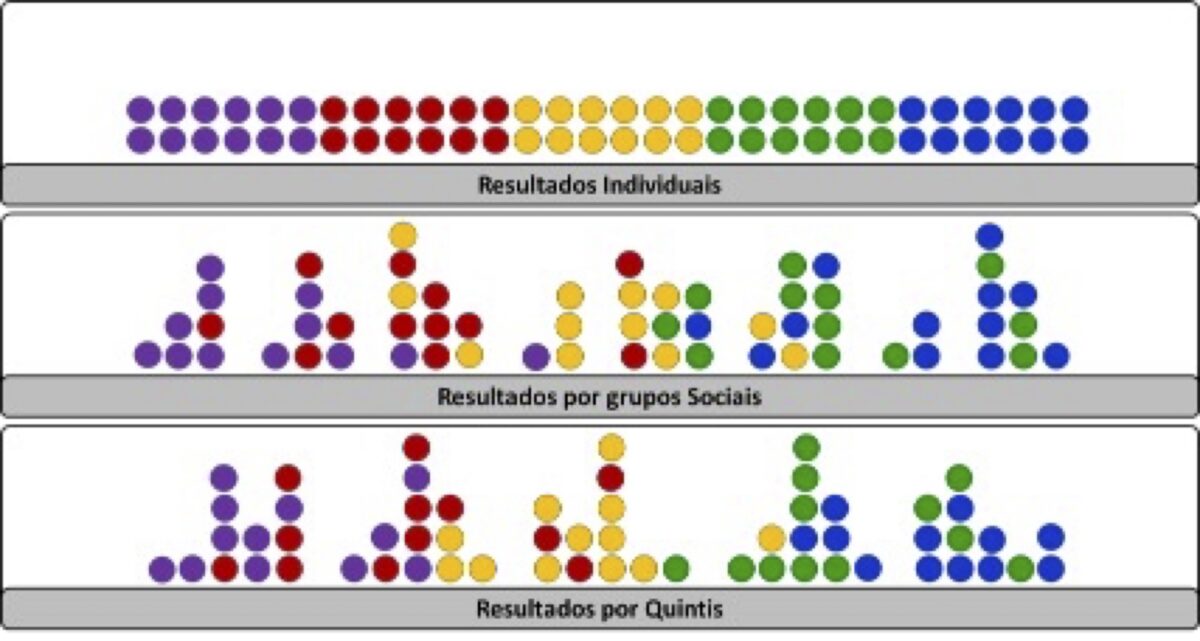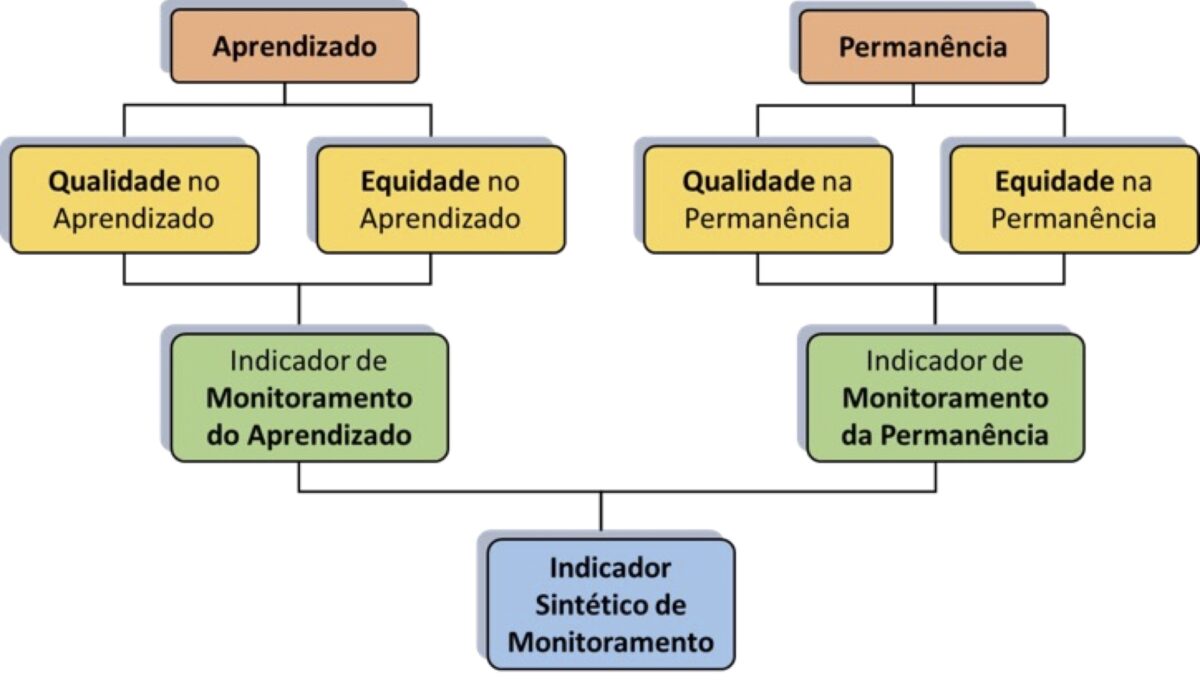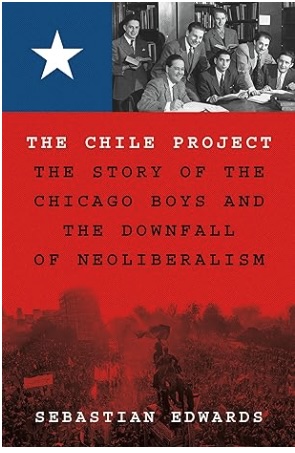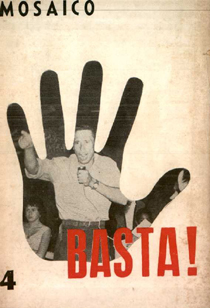Em artigo recente, escrito um ano após a tentativa de golpe de estado de janeiro de 2023, afirmei que a polarização ideológica, que teria dominado a política brasileira até as eleições de 2022, parecia ter arrefecido.Vários leitores discordaram, se referindo à Biografia do Abismo – como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil, livro recente de Felipe Nunes e Thomas Traumann (Harper Collins, 2023). O livro faz uso abundante de dados de pesquisas de opinião realizadas pela empresa Quaest, dirigida por Nunes, e busca interpretar o que está ocorrendo no Basil no contexto mais amplo de fortalecimento da direita e de polarização política em outros países, sobretudo nos Estados Unidos. A tese principal do livro é que a política brasileira se calcificou em polos antagônicos, cuja radicalização transbordou para outros campos de atividade como a educação, a economia e as relações sociais. A principal explicação para o que está ocorrendo seria o “novo ecossistema de comunicação política”, centrado nas redes sociais, e alimentado por duas figuras carismática opostas, Lula e Bolsonaro. Neste sistema, as pessoas tenderiam a se fechar em bolhas que se autoalimentam, sujeitas à avalanche de informações falsas e mecanismos que tendem a reforçar ideias pré-concebidas. A democracia está se rompendo, e só um reconhecimento do problema e uma ação deliberada das elites, restabelecendo as regras e os limites da convivência, poderia, quem sabe, deter este processo.
A principal evidência que tenho para a hipótese que a polarização política está se arrefecendo é a grande conciliação que tem ocorrido entre as elites políticas de esquerda e direita, pela anulação dos processos da lava-jato e a concessão de recursos e poder crescentes para o Congresso. Os principais atores da direita política brasileira não são mais Jair Bolsonaro e seus filhos, mas Arthur Lira, Tarcísio Freitas e Valdemar da Costa Neto, para os quais as questões ideológicas têm muito menos relevância do que as questões de poder. Esta conciliação está sendo feita a um alto custo e com consequências imprevisíveis, mas isto é um outro tema.
O livro de Nunes e Traumann é excelente ao mostrar como a polarização política se deu e ao descrever em detalhe a lógica das eleições de 2022, mas me parece que deixa a desejar na interpretação do que está ocorrendo. O problema, me parece, tem a ver com a teoria implícita que ele adota a respeito de como os processos político-eleitorais ocorrem. Para entender isto, uma pequena incursão à literatura existente precisa ser feita.
A teoria mais tradicional sobre comportamento eleitoral, de origem marxista, é que os eleitores votam conforme seus interesses de classe – operário vota em operário, burguês vota em burguês. A política seria uma disputa de classes, e, como os pobres e operários são a maioria, eles sempre ganhariam as eleições, não fosse o problema da “falsa consciência”, em que eles são iludidos e não percebem quais são seus verdadeiros interesses e quem verdadeiramente os representa. Esta teoria refletia, ainda que de maneira muito imperfeita, as divisões eleitorais da Europa ocidental até meados do século XX, mas nunca conseguiu dar conta de fenômenos como o nacionalismo, os partidos de base religiosa e, na América Latina, o populismo em suas diversas manifestações, interpretados como uma espécie de aberração em relação ao comportamento “esperado” dos diferentes setores.
As ciências sociais norte-americanas abriram uma outra perspectiva ao procurar entender diretamente o comportamento do eleitor, e, a partir daí, o funcionamento do sistema eleitoral e do regime democrático, fazendo uso de pesquisas de opinião e dados eleitorais. Estas pesquisas se iniciam com os trabalhos pioneiros da “escola de Columbia”, de Robert K. Merton, Paul Lazarsfeld e Elihu Katz, na década de 40, sobre comunicação de massas (Katz and Lazarsfeld 1964; Lazarsfeld, Berelson and Gaudet 1968) e mais adiante com as pesquisas eleitorais da “escola de Michigan”, com os trabalhos de Angus Campbell, Phillip Converse, Donald Stokes e outros (Campbell et al. 1960). Dois artigos tiveram grande influência nesta literatura, o do economista Antony Downs, de 1957, que propunha um modelo simples de decisão dos votos dos eleitores e de comportamento dos partidos (Downs 1957), e outro de Phillip Converse, de 1964, sobre como os eleitores entendem e pensam as questões da política (Converse 1964; Friedman and Friedman 2018).
O que estas pesquisas mostram é que, em geral, os eleitores tomam suas decisões a partir de fragmentos muitas vezes desconexos de informações, que não se estruturam de forma coerente como uma ideologia ou um entendimento mais profundo do sistema político. A pergunta, então, é como o sistema democrático, que se pretende representativo, consegue funcionar sobre uma base tão precária. A resposta é que os eleitores se informam com pessoas ou fontes em que confiam, e votam com os candidatos que melhor refletem seus interesses. Os textos pioneiros de Merton, Lazarsfeld e Katz falavam no “two steps flow of communication”, em que líderes de opinião explicavam e legitimavam as informações que chegavam pelos meios de comunicação à massa, e Converse, na mesma linha, identifica uma pequena percentagem de eleitores que organizam as informações políticas em uma “ideologia”, ou quadro de referência coerente, e pessoas próximas seguem. No modelo de Downs, as preferências dos eleitores tendem a se distribuir conforme uma curva normal, em um contínuo da esquerda à direita, o que faz com que os partidos procurem se posicionar o mais próximo possível da média de opiniões, para receber o maior número possível de votos. Isto explicaria o sistema bipartidário americano e a alternância de poder, dada a oscilação dos resultados obtidos pelos diferentes governos no atendimento às preferências dos eleitores. Uma outra explicação para a estabilidade do sistema americano, até aquela época, era a forte tendência de os eleitores votarem conforme sua identificação histórica com determinado partido, o que servia de amortecedor para grandes oscilações.
O que estas teorias não explicam é como este aparente equilíbrio foi sendo rompido nos Estados Unidos pela polarização crescente, que culminou na eleição de Donald Trump, um processo que também vem ocorrendo, em maior ou menor grau, em outros países. A resposta, segundo um artigo mais recente de dois cientistas políticos, Hacker e Pierson, estaria em uma outra maneira de entender o processo político eleitoral, não mais através do comportamento dos eleitores, mas através das ações deliberadas dos grupos de interesse que disputam o poder no sistema eleitoral e, para isso, procuram organizar o eleitorado e o próprio sistema eleitoral a seu favor. O autor de referência, no caso, deixaria de ser Antony Downs, e passaria ser E. E. Schattschneider, cujos trabalhos iniciais datam da década de 1930, e cujo texto mais conhecido, The Semi-Sovereign People, é de 1960 (Hacker and Pierson 2014; Schattschneider 1960). Na perspectiva de Schattschneider, a disputa política não se dá simplesmente pela competição pelos votos de uma massa indiferenciada de eleitores, mas pela ação de grupos que procuram moldar as opiniões e orientações de seus eleitores conforme seus interesses. No regime democrático, o eleitor continua sendo soberano, mas é uma soberania limitada e condicionada pelo trabalho de determinados grupos para conquistar o poder e exercê-los conforme seus interesses. É esta ação que pode explicar o que o modelo de Downs não consegue, a transformação da curva normal de preferências em uma distribuição bimodal, ou seja, em polarização.
Uma maneira pela qual os grupos de interesse atuam para influenciar o comportamento dos eleitores é pela criação de organizações e associações políticas destinadas a garantir determinados resultados. Um exemplo dado pelos autores é o de uma pesquisa sobre a criação de sindicatos de professores nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60. A pesquisa mostrou que estes sindicatos não surgiram de forma natural e automática pela agregação dos interesses comuns dos professores, mas foram o resultado do trabalho sistemático do Partido Democrata em determinados estados para organizá-los. Estes processos cruciais de organização e mobilização do eleitorado, e os resultados que produzem, se tornam invisíveis quando o processo político é analisado exclusivamente a partir das opiniões e atitudes dos eleitores.
Aplicando esta perspectiva ao Brasil, é possível observar que o getulismo e o lacerdismo, o golpe de 1964, a campanha pelas Diretas Já, as eleições de Jânio Quadros, Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso e os protestos de 2013 mostram que a mobilização e radicalização política, à direita e à esquerda, não são coisas novas no Brasil, mas foram mobilizações efêmeras, que não criaram raízes. A novidade importante neste cenário foi o surgimento do Partido dos Trabalhadores no início dos anos 80. O PT começou como o braço político de um setor específico do sindicalismo industrial, com uma retórica que buscava renovar o antigo discurso político da esquerda. Aos poucos, na medida em que foi conquistando posições de poder, passou a incorporar também sindicatos do setor de serviços, organizações do campo, setores da burocracia, setores da Igreja Católica, políticos tradicionais e aliados do setor empresarial. A primeira vitória de Lula contra José Serra em 2002 se deveu sobretudo ao desgaste do PSDB depois do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, mas, a partir daí, com o programa do bolsa família, o aumento dos gastos públicos e a distribuição de benefícios e vantagens a parceiros, o PT foi incorporando cada vez mais setores a seu projeto de poder, criando um arco de alianças que foi capaz de sobreviver à crise de 2015 e renascer.
Em contraste com o PT, nenhum outro partido político brasileiro, até recentemente, depois da dissolução da aliança entre o velho PSD e o Partido Trabalhista de Getúlio Vargas na eleição de Jânio Quadros, tentou ou conseguiu organizar uma parceria estável e organizada com determinados setores da sociedade. O PSDB, que a princípio poderia ter se transformado em um forte partido de massas graças ao histórico de oposição à política tradicional do antigo PMDB de Orestes Quércia e o sucesso do Plano Real, nunca deixou de ser um partido de quadros, na terminologia proposta por Maurice Duverger, e acabou por se deteriorar após a derrota de Aécio Neves para Dilma Rousseff em 2014.
A novidade do Bolsonarismo foi criar sua própria clientela organizada, aproveitando-se dos espaços deixados de fora do Partido dos Trabalhadores após a crise de 2015 e pelo fracasso do PSDB e outras correntes de centro e à esquerda de construir uma alternativa . Estes espaços foram muitos, e incluem as populações das periferias das grandes cidades, que buscavam proteção nos novos cultos religiosos e na convivência sofrida com o crime organizado; os setores da classe média baixa que não se beneficiaram da expansão da máquina administrativa e não tiveram acesso à educação pública e ao sistema de saúde público subsidiado; empresários que sofriam com os altos e baixos e a ineficiência da economia; e as polícias militares e partes das forças armadas que não recebiam os mesmos benefícios e a mesma atenção que outras partes do serviço público. Some-se a isto setores da sociedade que se sentem ameaçados pelas políticas e mobilizações identitárias que colocam em questão padrões tradicionais de comportamento, relacionamento e dominação que já vinham se desfazendo naturalmente e que, por isto mesmo, são ansiosamente defendidos. Tal como nos Estados Unidos, estas parcerias foram estabelecidas inicialmente através do uso inovador das novas redes de comunicação social, De forma simétrica ao discurso do PT em nome do “povo” contra a “herança maldita” e as “elites”, elas foram reforçadas pela ressureição do antigo discurso integralista de Deus, Pátria e Família e contra a corrupção. Com Bolsonaro no governo, esta rede passou a ser alimentada diretamente com subsídios, distribuição de cargos e outras formas de organização e institucionalização, incluindo o estímulo ao armamento da população civil.
Estas redes de interesse e a ação sistemática de determinadas correntes políticas para estabelecer alianças e mobilizar apoios não são facilmente capturadas por pesquisas de opinião que medem as atitudes e orientações dos eleitores por amostras e grupos focais, e, por isto, não aparecem com destaque no livro de Nunes e Traumann. Mas, sem esta análise não conseguimos saber qual a profundidade e a resiliência da calcificação ideológica que eles postulam. Existem autores que estimam que o “núcleo duro” do PT, ou seja, eleitores vinculados a suas redes de organização, mobilização e favorecimento de interesses, seria da ordem de 15 a 20% do eleitorado, e as redes criadas pelo bolsonarismo teriam um tamanho semelhante. Além das pessoas que participam diretamente de suas redes, a força das diferentes correntes depende também, naturalmente, da quantidade de pessoas atraídas ou convencidas por sua retórica, que é mais incerta. As eleições de 2022, como o livro mostra, foram decididas em grande parte pelo voto contra, e não a favor de um ou outro lado. Isso significa que cerca de 60% do eleitorado estaria, em princípio, disponível para apoiar outras correntes políticas que conseguissem organizar e representar seus interesses de forma mais efetiva.
Um tema central nesta questão é o lugar e o que se pode esperar da democracia. Os estudos de opinião pública, comportamento eleitoral e sistemas partidários em todo o mundo mostram a fragilidade da ideia de que os governos democráticos são a simples expressão direta da “vontade do povo”. Isto não justifica, no entanto, a tese dos movimentos políticos de extrema esquerda e direita de que os regimes políticos não importam, porque não passam de instrumentos de dominação de determinados grupos sobre outros. Um conceito mais apropriado de democracia é que ela é uma forma de governo legitimada por um processo político aberto, que garante que o poder de determinados setores não se perpetue e exerce funções importantes de administrar conflitos e garantir o pluralismo e os direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos, e sobretudo das minorias. A grande fragilidade dos regimes democráticos é que os setores mais interessados em sua manutenção são, em geral, os menos motivados e capacitados para se organizar e mobilizar a sociedade para defendê-la, em contraste com seus opositores nos extremos. Ao final de seu livro, Nunes e Traumann falam sobre os problemas da democracia e dizem, com razão, que a única maneira de defendê-la é com mais democracia e o fortalecimento das instituições e da cidadania. É isto, e não a mera exortação às elites políticas para que se comportem e coloquem limites aos ataques mútuos, que pode reestabelecer um mínimo de convivência na política brasileira e fortalecer a democracia.
Em meu texto anterior, eu dizia que havia indícios de que polarização do início de 2023 parecia que havia se arrefecido, não que havia desaparecido. Para saber o quanto, vamos ver em que medida os resultados das próximas eleições municipais dependerão de alinhamentos ideológicos ou de circunstâncias locais, e sobretudo como serão as eleições de 2026.
Referências
Campbell, Angus, Phillip Converse, Warren E. Miller, and Donald E Stokes. 1960. The American Voter. New York: Willey.
Converse, Philip E. 1964. “The nature of belief systems in mass publics.” Critical review 18(1-3):1-74.
Downs, Anthony. 1957. “An economic theory of political action in a democracy.” Journal of Political Economy 65(2):135-50.
Friedman, Jeffrey, and Shterna Friedman. 2018. The nature of belief systems reconsidered: Routledge.
Hacker, Jacob S, and Paul Pierson. 2014. “After the “master theory”: Downs, Schattschneider, and the rebirth of policy-focused analysis.” Perspectives on Politics 12(3):643-62.
Katz, Elihu, and Paul Felix Lazarsfeld. 1964. Personal influence the part played by people in the flow of mass communications. New York, N.Y: Free Press of Glencoe.
Lazarsfeld, Paul Felix, Bernard Berelson, and Hazel Gaudet. 1968. The people’s choice how the voter makes up his mind in a presidential campaign. New York: Columbia University Press.
Schattschneider, E. E. 1960. The Semi-Sovereign People – a realist view of democracy in America. New York: Holt. Rinehart and Winston.