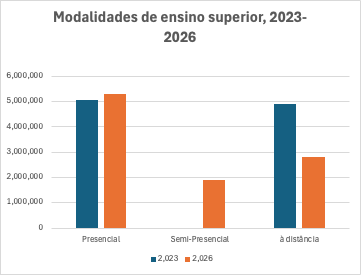(Publicado em O Estado de São Paulo, 10 de outubro de 2025)
À esquerda e direita, todos parecem se preocupar com o tema da educação técnica e profissional. Em 1971 o governo militar concluiu que as escolas brasileiras só formavam bacharéis, e decidiu que todos os estudantes de nível médio teriam que ter uma qualificação profissional. Depois tivemos o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – PLANFOR (Governo Fernando Henrique,1995), Plano Nacional de Qualificação – PNQ (Lula, 2003) e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC (Dilma , 2011). Nada funcionou direito. Em 2017 tivemos a reforma do ensino médio, com um novo itinerário técnico de nível médio (Governo Temer), reformulada em 2024 antes de entrar em vigor, e agora temos o Programa de Expansão da Educação Nacional de Qualidade – PROPAG, que permite que os Estados destinem parte dos recursos de suas dívidas com a União para ensino técnico, com valores que podem chegar a 12 bilhões de reais. Será que agora vai?
É fácil se perder em meio a tantas regras e programas que se sucedem, com cada Estado e redes escolares tomando iniciativas apontando para diferentes lados. Um pouco de luz pode surgir se olharmos os dados, mas é preciso primeiro esclarecer do que estamos falando. Não se trata de formação nas áreas de ciências exatas, naturais e engenharias (STEM) em contraste com a formação em ciências sociais e humanidades. Isto é importante, mas é outro assunto. No Brasil, “educação técnica” é o nome que se dá aos cursos que levam a um diploma profissional de nível médio. Ter um diploma deste não impede que a pessoa continue estudando em nível universitário, mas, tipicamente, ele é destinado a pessoas que precisam entrar logo no mercado de trabalho. Quantas pessoas procuram este diploma, e quanto valem?
Pelos dados da PNAD contínua, em 2024, 26% da população jovem de 18 a 29 anos de idade tinha educação superior e 46.8% educação média, cerca de 18.2 milhões. Destes, 1.4 milhões tinham concluído um curso técnico. Outros 1.1 milhão tinham completado um curso técnico e entrado no nível superior. A renda média mensal de quem tinha educação superior era de 3.880 reais; a de quem só tinha nível médio, 1.810 reais; e de quem só tinha concluído um curso técnico, 2.105 reais. Então, ter um diploma universitário aumentava a renda de quem só tinha nível médio em 114%; e ter um diploma técnico, em 11%. Um ganho ainda significativo, mas ilusório, porque há muito mais pessoas com diplomas técnicos do Sudeste, onde os rendimentos médios são mais altos. Em São Paulo, por exemplo, a renda média de quem tem nível médio era de 2.200 reais, sem diferença entre os que tinham ou não tinham diplomas técnicos. Outro dado significativo é que ter ou não ter diploma técnico não faz diferença em termos de conseguir emprego e trabalho formal ou informal, nestes tempos de pleno emprego.
Estas médias podem esconder diferenças importantes, e o curso técnico pode ser vantajoso por diferentes razões, se por, por exemplo, for mais acessível do que um curso médio regular, ou a pessoa precisar começar a trabalhar mais cedo, ou se preparar melhor para entrar em uma universidade. Um dos objetivos da lei de reforma do ensino médio de 2017 foi reduzir a carga de matérias obrigatórias, abrindo mais espaço para diferentes itinerários de formação, entre os quais técnicos, mas isto foi revertido pela reforma da reforma de 2024.
Apesar de todas a incertezas, as matrículas em cursos técnicos aumentaram significativamente no Brasil desde então, passando de 1.7 para 2.3 milhões entre 2017 e 2024. Destes, um terço estão em escolas estaduais, e outro terço em escolas privadas. O terceiro terço é dividido em proporções parecidas entre os Institutos Federais, o Sistema S (SENAI, SESI) e o Centro Paula Souza, do Estado de São Paulo. Olhando para as áreas de formação, se nota que 60% dos alunos estão em cursos de Gestão e Negócios, Ambiente e Saúde, e Informação e Comunicação, e mais 11% na área de produção industrial, que tem mais importância para o sistema S e institutos federais.
Uma possível explicação para o crescimento recente do ensino técnico é a expansão do tempo integral, que hoje cobre cerca de 20% das matrículas de nível médio nas redes estaduais. A maior parte do dia é dedicada às matérias obrigatórias, mas agora sobra espaço para itinerários técnicos e cursos não tradicionais de diferentes tipos, sobretudo em áreas que não requerem equipamentos especializados nem experiência efetiva de trabalho supervisionado no setor produtivo, mais típicos de instituições especializadas como as do sistema S. Com os recursos que devem chegar pelo PROPAG, a oferta de cursos técnicos de todo tipo deve aumentar.
A dúvida é se isto trará os efeitos que se espera, tornando o ensino técnico mais difundido, acessível, de mais qualidade e mais relevante para quem o procura. Olhando no mundo em volta, o que observamos é uma prioridade crescente dada aos sistemas de aprendizagem em parceria com o setor produtivo, em detrimento da formação técnica escolarizada; a ênfase em competências básicas digitais e tecnológicas ao lado de competências socioemocionais; maior integração entre a formação média e superior; itinerários flexíveis e individualizados; e sistemas especializados de certificação. Sem estas coisas, as matrículas podem inchar, sem produzir, no entanto, os resultados que se espera.