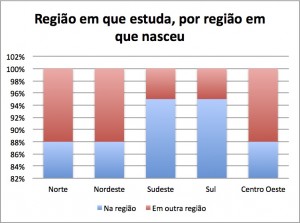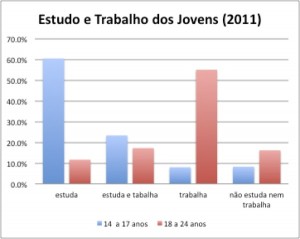No meio de tanto que tem sido dito sobre as manifestações populares dos últimos dias, três comentários me chamaram atenção, e expressam meu entendimento do que está ocorrendo.
O primeiro foi da economista Eliana Cardoso, ao dizer que, se Brasília quiser mesmo responder às demandas populares, poderia começar cortando imediatamente para vinte os quarenta ministérios de hoje existem, e reduzir em 10% os salários e benefícios dos nossos “representantes” . O segundo foi do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmando que o voto das ruas não pode prevalecer sobre o voto das urnas. E o terceiro foi de Bolívar Lamounier, ao descrever o romantismo que parece prevalecer no que tem sido dito por muitos que se apresentam para falar em nomes dos manifestantes.
O comentário de Eliana me parece resumir o grande fosso que hoje separa grande parte da população, sobretudo nos grandes centros urbanos, que sofre com a inflação crescente e a má qualidade dos serviços públicos, não se beneficia diretamente dos programas sociais do governo e vê com desgosto o mercado persa em que transformou grande parte da política brasileira, em que os políticos negociam abertamente votos e apoios por cargos e os corruptos mais óbvios continuam impunes e poderosos como sempre. Se o espetáculo de Brasília é lamentável, o da maioria das capitais estaduais não é melhor. Enquanto via horrorizado, pela TV, como tentavam incendiar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, me perguntava ao mesmo tempo quanta gente, no Estado, sabe mesmo para que ela serve.
Fernando Haddad tem toda razão ao dizer a vontade de milhões, expressa nas urnas, e que dá aos governantes um mandato para tomar decisões e implementar políticas, não pode ser atropelada pelo voto das ruas, expresso por porta-vozes cuja representatividade ninguém sabe exatamente qual é. Suas propostas sobre como lidar com os transportes públicos em São Paulo contribuíram para sua eleição, e seu papel é levar estas propostas à frente, e não mudar de rumo de repente. Mas o mandato político não pode ser somente uma formalidade legal, precisa ter legitimidade, as pessoas precisam acreditar que realmente os eleitos as representam, e os protestos de centenas de milhares de pessoas nas ruas nos últimos dias mostram a grande fragilidade desta representação.
É esta falta de legitimidade que cria o caldo de cultura para o florescimento das ideologias “românticas” que parecem dar o tom de grande parte das manifestações que se ouvem de muitos de seus supostos porta-vozes, e de que nos fala Bolivar Lamounier. “Romântico”, aqui, não tem ver com amores, paixões e ódios, mas com um tipo específico de ideologia política que sonha com um passado ou um futuro, ambos utópicos, em que as pessoas vivem em comunidade, tudo é decidido e feito em comum, em harmonia entre homens e mulheres e destes com a natureza. Comparado com o mundo perfeito dos românticos, o mundo real, de instituições, leis, recursos escassos, interesses contraditórios, tudo isto é inaceitável. Eleições, parlamentos, juízes, instituições, bancos centrais, nada disto serve para nada. “Que se vayan todos!” como se dizia na Argentina em um de seus momentos mais tristes. No mundo utópico não existem limitações de recursos, os serviços públicos são perfeitos e gratuitos, não se pagam impostos, e só precisamos trabalhar naquilo que gostamos. Alguns românticos, como os velhos hippies, decidem se recolher em comunidades isoladas de paz e amor, aonde os malefícios do mundo real não entram; outros, como os antigos anarquistas, partem para a destruição deste mundo imperfeito, contra o qual tudo vale, inclusive o terrorismo.
A grande vantagem das ideologias românticas é que elas são simples e fáceis de entender; a grande desvantagem é que elas são impossíveis. Não há exemplos de sociedades organizadas conforme as ideologias românticas (as utopias, por definição, não existem), mas não faltam exemplos de sociedades em que as instituições públicas acabaram sendo destruídas e substituídas por regimes populistas, autoritários, corruptos e ineficientes, que conseguem apoio de muitos e se apresentam como representantes dos romantismos mais puros. Mas existem também exemplos de sociedades que foram capazes de reformar suas instituições públicas, fazendo com que as pessoas se sintam representadas, tenham canais adequados de expressão, e onde a apropriação deslavada dos recursos públicos pelos políticos não seja permitida nem tolerada.
Precisamos urgentemente de governabilidade e legitimidade, e, para mim, pelo menos, a principal lição do voto das ruas é a necessidade urgente de uma reforma política que consiga produzir isto, com as inevitáveis imperfeições do mundo real.
 Rômulo Pinheiro é professor e pesquisador de origem portuguesa que trabalha na Noruega, e tem se debruçado sobre o tema das universidades regionais. Ele é autor, entre outras publicações, de Universities and Regional Development – A Critical Assessment of Tensions and Contradictions, publicado em 2012. Sobre a questão das
Rômulo Pinheiro é professor e pesquisador de origem portuguesa que trabalha na Noruega, e tem se debruçado sobre o tema das universidades regionais. Ele é autor, entre outras publicações, de Universities and Regional Development – A Critical Assessment of Tensions and Contradictions, publicado em 2012. Sobre a questão das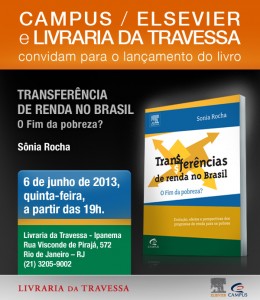 Este é o título do novo livro de Sônia Rocha, que conta a história das políticas de transferência de renda no Brasil, desde a aposentadoria rural nos anos 70 e 80 até o Bolsa Família atual, passando pelas experiências do Bolsa Escola em diferentes estados nos anos 90. Ao final, Sonia pergunta se, de fato, as transferências de renda significam o fim da pobreza no Brasil.
Este é o título do novo livro de Sônia Rocha, que conta a história das políticas de transferência de renda no Brasil, desde a aposentadoria rural nos anos 70 e 80 até o Bolsa Família atual, passando pelas experiências do Bolsa Escola em diferentes estados nos anos 90. Ao final, Sonia pergunta se, de fato, as transferências de renda significam o fim da pobreza no Brasil.