Participei no dia 5 de novembro, em Belo Horizonte, do “Seminário sobre população, pobreza e desigualade”, organizado pela Associação Brasileira de Estudos Poulacionais e a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Meu painel tinha o nome de “Dinâmica populacional e as oportunidades de políticas públicas”, e foi coordenado por Eduardo Rios Neto.
Dos três apresentadores, Eduardo Pereira, do Ministério da Previdência Social, foi o único que tratou efetivamente de dinâmica populacional. Ele mostrou que, com o envelhecimento da população, o sistema previdenciário brasileiro é insunstentável a longo prazo, porque haverá um número crescente de velhos recebendo benefícios para um número decrescente de jovens. E que isto não muda com a economia crescendo, porque, se tiver mais gente pagando a previdência hoje, haverá mais gente também recebendo depois, e vivendo muito mais tempo. O Ministério preparou estes dados, na forma de várias simulações, para apresentar ao Forum Nacional da Previdência Social, aonde estão representados os sindicatos, aposentados, pensionistas, empregadores e o governo federal, e, pelo que parece, ninguém lá gostou da tese de que os benefícios da previdência deveriam mudar. O problema é que os principais interessados na reforma, nossos filhos, que vão ter que pagar a conta ou conviver com um sistema previdenciário falido, não estavam presentes, e não havia ninguém no fórum, aparentemente, que defendesse seus interesses.
O outro apresentador foi Pedro Olinto, do Banco Mundial, que antecipou os principais resultados de uma avaliação que o Banco está fazendo de um grande número de programas de tipo Bolsa Família que o Banco vem apoiando e incentivando em um número crescente de países, inclusive o Brasil. O ponto principal foi mostrar como estes programas são, em geral, bem focalizados, e de fato melhoram em alguma medida as condições de vida das populações mais pobres. O que me pareceu mais novo foi a conclusão de que os programas não tem impacto sobre o acesso à escola em países em que a quase totalidade da população já está na educação básica, como no Brasil; e que o impacto sobre a qualidade da educação parece ser inclusive negativo. Eu já vinha dizendo e discutindo isto há vários anos, e fico contente em ver que agora o Banco Mundial reconhece isto. Aliás, se entendi bem, a avaliação do bolsa família brasileiro feita por Eduardo Rios-Neto mostra a mesma coisa.
Em minha apresentação, eu mostrei dados da PNAD sobre a evolução da educação brasileira nos diferentes níveis, e discuti um pouco sobre cada um deles e sobre as prioridades. Um dos dados que mostrei foi como o acesso ao ensino médio, que havia crescido muito na década de 90, parece estar estacionando a um nível muito baixo, inferior a 60% de cobertura nas regiões mais ricas (veja o gráfico), quando deveríamos estar caminhando para os 100%, e isto sem falar na qualidade, que, por tudo que sabemos, está muito mal. A expansão do ensino superior, enquanto isto, parece ser a prioridade do governo federal, sem preocupação aparente com sua qualidade, o que parece ser um erro evidente de foco.
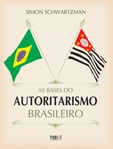 Uma nova edição de Bases do Autoritarismo Brasileiro deve ser publicada pela Editora da Unive rsidade de Campinas em 2014/2015.
Uma nova edição de Bases do Autoritarismo Brasileiro deve ser publicada pela Editora da Unive rsidade de Campinas em 2014/2015.