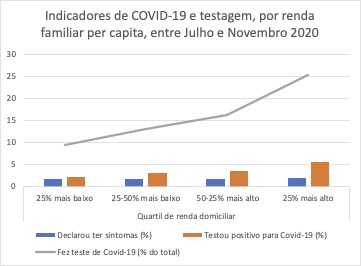A introdução forçada de cotas raciais nas universidades, que o Congresso está discutindo, é a maneira errada de tratar de um problema importante, que são as desigualdades sociais que afetam pessoas de diferentes origens sociais e culturais. Existem, no entanto, melhores alternativas, como mostra este texto de Luisa Farah Schwartzman, que vem estudando o tema.
Uma proposta alternativa às cotas
Fiquei surpresa como todo mundo no Brasil se posiciona contra ou a favor de um sistema de cotas, um sistema que nos Estados Unidos é considerado uma forma extrema de ação afirmativa. Os que se opõem às cotas em geral propõem como solução a melhora do ensino básico.
É claro que melhorar o ensino básico é importante. No entanto, não acho que a única escolha que temos é entre um sistema de cotas e melhorar o ensino básico. Mesmo melhorando o ensino básico, sempre vão existir desvantagens que são transmitidas de uma geração para a outra. Isso também acontece em paises desenvolvidos. Além disso, pode-se criar um sistema da ação afirmativa que seja importante somente enquanto o ensino básico não resolver os problemas: se o ensino básico for suficiente, ele vai tornar a ação afirmativa redundante, mas enquanto não for, a ação afirmativa pode corrigir essa deficiência. Alem disso, é bom ter pessoas que vêm de origens mais humildes em posições de prestígio, porque elas podem devolver para a comunidade mais pobre os benefícios que receberam. Por exemplo, um médico que nasceu na favela pode ser mais capaz de tratar dos problemas de saúde das pessoas de sua comunidade de origem.
Um aspecto muito discutido em relação das cotas é a questão racial. Existe obviamente uma correlação forte entre cor, renda e educação no Brasil. Seja quais forem as causas (racismo, herança do passado etc.) seria bom mudar essa correlação. Ser negro no Brasil ainda é visto como sinônimo de pobreza. Se estivéssemos acostumados a ver negros de classe média, talvez não fizéssemos mais essa associação, e isso mudaria a maneira pela qual os negros são tratados na nossa sociedade.
O problema é que usar o critério racial diretamente traz várias dificuldades. Uma tem a ver com se o governo (ou universidades) devem impor identidade/classificação racial às pessoas. O caso da UNB ilustra isso bem: quem tem o direito de determinar se um indivíduo é negro ou não? As universidades vão impor sua classificação aos alunos? Se você deixar a cargo de escolha do indivíduo (como é o caso da UERJ), como você vai saber se as pessoas que estão se classificando como negras (ou pardas) realmente são tratadas como negras (ou não-brancas) na sociedade? E a questão da herança? Ter ancestrais negros não importa, independente da cor da pele? E será que todas as pessoas sabem que são discriminadas? E as pessoas que se classificam como “pardos”? Elas se consideram “negras”? Na linguagem popular, “negro” muitas vezes é um conceito mais restrito, que se refere a pessoas de pele mais escura. Pesquisas mostram que “pardos” e “pretos” são parecidos em relação a características sócio-econômicas, mas que são diferentes em relação a outras questões, como casamento, violência policial e segregação. O que significa que a discriminação contra “pardos” seria mais institucional, e por isso mais difícil de ser notada. Muitas pessoas classificadas como “pardas” nem se vêem como “negras” (ou se vêem assim somente em algumas situações) nem sabem que são discriminadas. Como essas pessoas vão julgar se merecem ou não participar da cota? Além disso, não deveríamos criar a imagem de que os negros de classe media chegaram onde estão somente por causa das ações afirmativas (mas ao mesmo tempo, é melhor ter uma oportunidade assim do que não ter nenhuma).
Uma boa solução seria implantar um sistema de metas. O governo estipula uma meta para as universidades, que pode ser baseada em cor/raça, mas também pode ter outros critérios, como percentagens de alunos cujos pais não foram para a universidade, percentagem de alunos com certo nível de renda etc., e ficaria a cargo dos departamentos dentro das universidades decidir como chegar a essa meta. A meta podia ir crescendo através dos anos para as universidades terem tempo de se adaptar. O papel do governo seria 1) tirar amostras de alunos em períodos mais avançados para avaliar o perfil dessa população e 2) distribuir recursos de acordo com se o perfil está seguindo ou não a meta.
Um sistema de metas significaria que as universidades poderiam usar critérios não-raciais para atingir objetivos de melhora da “igualdade racial.” Isso poderia incluir convênios com cursinhos e escolas secundarias da periferia, modificação do vestibular, cotas com critérios sociais, melhoria no recrutamento (por exemplo, as universidades poderiam dar mais informação para escolas secundarias onde os alunos tendem a não prestar vestibular) etc. A vantagem seria não ter que medir raça no vestibular, mas também criar oportunidades para pessoas brancas que também tenham algum tipo de desvantagem.
Também significaria que a universidade não teria que resolver somente o problema de admissão dos alunos, mas também o de retenção. Ou seja, não adianta colocar todo mundo para dentro e depois do primeiro ano as pessoas largarem a faculdade. A universidade tem que poder incorporar alunos com mais dificuldades, não só dando aula de reforço e ajuda financeira (que deveria que ser parte do pacote do sistema de metas), mas também institucionalizar um sistema que permita a alunos de origens mais humildes entender o “currículo não-escrito,” ou seja, regras informais que pessoas de classe media que entram já sabem, até por terem contatos fora da universidade com pessoas que já são profissionais da área, e em geral por terem pessoas na família que já tem experiência de estar na universidade, ou fazendo aquele curso especificamente.
Um sistema de metas mudaria a obrigação de se perguntar a cor do aluno. Primeiro, porque nem todos os alunos teriam que marcar sua cor, já que seria uma amostra. Segundo, que a cor que um indivíduo marcasse não teria nenhum impacto na chance dele de estar na faculdade, então não teria nenhum incentivo para ele marcar diferente do que ele faria, digamos, numa pesquisa do IBGE, com a vantagem de se poder comparar com as estatísticas. Como marcar a cor não teria conseqüência individual, o ato de marcar a cor teria menos impacto no dia-a-dia da pessoa e portanto seria menos impositivo.
Um sistema de metas poderia ter um resultado mais radical do que um sistema de cotas. Isso porque o sistema de cotas dá margem às universidades de arranjarem maneiras de seguir os critérios formais e ao mesmo tempo reduzir significativamente o numero de alunos beneficiados. Isso parece estar acontecendo na UERJ. A UERJ instituiu uma renda per capita máxima muito baixa e uma nota de corte (para muitos departamentos) muito alta. Isso significa que existem pouquíssimos alunos que, ao mesmo tempo, acabaram o segundo grau, ganham mais do que esse mínimo e vão superar a nota mínima, o que significa que está sobrando vaga na cota. Um sistema de metas (com critérios mais gerais e com certa flexibilidade para os departamentos decidirem os detalhes) eliminaria esse problema.
É possível que membros do movimento negro continuassem criticando esta proposta, argumentando que ela eliminaria a discussão sobre desigualdade racial e discriminação no Brasil. Uma forma de resolver isso seria incluir esses temas no currículo da universidade, o que, no meu ver, deveria incluir uma discussão que questione o conceito de raça como algo com base biológica, e explique para os alunos que esse conceito só faz sentido como um fenômeno social. O tema das cotas está levando a uma discussão sobre o racismo mas deixando intacta a questão do racialismo (a idéia de que raças existem biologicamente), e os estudantes deveriam estar discutindo os dois assuntos. Vale a pena ressaltar que o discurso de miscigenação também é um discurso racialista, pois se não existem raças, também não pode haver miscigenação. De novo, acho que cada departamento deveria ter a liberdade de escolher como inserir a discussão sobre essas questões no currículo, tentando relacioná-las com a área específica de cada curso.
Em resumo, a proposta seria o seguinte. Um sistema de metas raciais (que pode ser combinado com outros critérios), que seria avaliado com base em uma amostra de alunos no terceiro ou quarto período, com recursos do governo atrelados ao cumprimento ou não dessas metas. Junto com isso, uma proposta de incluir nos currículos uma discussão sobre desigualdade racial, racismo e sobre o conceito de raça/cor (que pode incluir uma discussão mais ampla sobre desigualdade social no Brasil).