O texto do professor Jacques trata de uma questão delicada, polêmica e muito presente na história de nossas universidades. A escolha dos reitores tem relação muito forte com a autonomia universitária. Durante a ditadura, tivemos o período mais crítico e deletério dessa relação como descreveu Cláudio Moura Castro: “O Governo Militar exibiu, em muitos momentos, injustificável brutalidade ao tratar o ensino e a pesquisa. A escolha de reitores e ministros de estilo autoritário, as prisões arbitrárias, as perseguições injustificadas, as cassações e aposentadorias compulsórias de cientistas destacados, tudo isso aconteceu de forma incontestável” (Em Ciência e Universidade – Zahar – 1985).
Não há o que discordar do Prof. Jacques. Principalmente, quando considera que essa questão permanece “mal resolvida” até o presente, porquanto está sujeita às forças de diferentes interesses e “convicções ideológicas”. São pertinentes as suas observações quanto à legitimidade de um governo eleito democraticamente atrelar as universidades à condução de suas políticas educacionais. Conclui, então, que o ideal seria uma “combinação entre o desejo da comunidade e a legítima pretensão dos governos de escolher dirigentes mais afinados com seus projetos”. Entretanto, o grande risco é o de favorecer uma gestão universitária partidarizada ou de manipulação dos seus cargos de direção como instrumentos a serviço do poder e dos interesses políticos no âmbito do governo, dos segmentos internos ou de outras corporações.
Considerando essa situação, permito-me fazer uma referência ao que procurei expor no livro “Universidade Federativa, Autônoma e Comunitária”.
Na proposição dessa universidade, defendemos que os processos de gestão e de escolha dos reitores assumam uma dimensão participativa ampliada, ou seja, não restrita ao âmbito interno de seus membros, sejam os permanentes (docentes) ou transitórios (estudantes). Pelo seu caráter constitutivo, essa universidade (imaginária) estaria a serviço de uma comunidade mais ampla e não seria dependente de um único dono (mantenedor), seja ele o Estado ou o empresário privado. Ninguém pode negar que tanto nas universidades estatais, como nas universidades particulares, a relação política ou financeira do reitor ou do dirigente da entidade com o dono/proprietário da universidade é uma relação de subordinação, ainda que sejam ostentadas aparentes posturas de autonomia.
Na universidade federativa e comunitária, essa relação torna-se mais diluída, porquanto tanto a comunidade interna (acadêmica), como a externa é chamada a participar nas decisões e a assumir responsabilidades na sua organização e no seu financiamento. O reitor não seria representante apenas da comunidade universitária interna e menos ainda do Estado ou do mantenedor privado. Precisaria ser uma liderança reconhecida, intelectual e administrativamente, capaz de expressar os anseios das comunidades interna e externa e ao mesmo tempo articular e viabilizar a participação dos entes federados na sustentação e nos destinos da organização.
Por comunidade externa entendemos todos os atores de uma gestão federativa, ou seja, de uma forma de administração sob o regime de cooperação dos entes federados. Trata-se da perspectiva estabelecida pela própria Constituição Federal (Artigo 211). Também fazem parte da comunidade externa todos os agentes locais/regionais, em seus diversos segmentos: organizações empresariais, sindicatos, entidades culturais, educacionais, desportivas, jurídicas, religiosas, etc. De alguma forma, todos eles estariam presentes, por seus representantes, em alguma instância colegiada de deliberação superior.
Evidentemente, a comunidade acadêmica (interna), pela própria natureza das suas atividades, deverá deter a responsabilidade maior pela vida acadêmica, cujos gestores devem ser escolhidos com base na sua competência e nos critérios do mérito científico.
Por essas razões, ponderamos que a ‘gestão comunitária’ está estreitamente relacionada com os processos de democratização e de participação, mas sem confundir-se com as concepções de ‘gestão democrática’, que têm sido propugnadas para as universidades com base na bandeira igualitária assentada no pressuposto de que os estudantes, os professores, os técnico-administrativos são todos iguais.
O que desejamos realçar, aproveitando o tema suscitado pelo professor Jacques Schwartzman, é que essa idéia de universidade federativa com gestão comunitária objetiva aproximar a organização universitária dos cidadãos e criar os meios para uma interação mais intensa dos atores envolvidos. Obviamente, implica uma dinâmica complexa e barreiras quase intransponíveis. Todavia, seria uma forma de gestão que propiciaria maior transparência, maior controle público e maior efetividade.
Geraldo M. Martins – 7 de dezembro de 2009
O
texto do professor Jacques trata de uma questão delicada, polêmica e muito presente na história de nossas universidades. A escolha dos reitores tem relação muito forte com a autonomia universitária. Durante a ditadura, tivemos o período mais crítico e deletério dessa relação como descreveu Cláudio Moura Castro: “O Governo Militar exibiu, em muitos momentos, injustificável brutalidade ao tratar o ensino e a pesquisa. A escolha de reitores e ministros de estilo autoritário, as prisões arbitrárias, as perseguições injustificadas, as cassações e aposentadorias compulsórias de cientistas destacados, tudo isso aconteceu de forma incontestável” (Em Ciência e Universidade – Zahar – 1985).
Não há o que discordar do Prof. Jacques. Principalmente, quando considera que essa questão permanece “mal resolvida” até o presente, porquanto está sujeita às forças de diferentes interesses e “convicções ideológicas”. São pertinentes as suas observações quanto à legitimidade de um governo eleito democraticamente atrelar as universidades à condução de suas políticas educacionais. Conclui, então, que o ideal seria uma “combinação entre o desejo da comunidade e a legítima pretensão dos governos de escolher dirigentes mais afinados com seus projetos”. Entretanto, o grande risco é o de favorecer uma gestão universitária partidarizada ou de manipulação dos seus cargos de direção como instrumentos a serviço do poder e dos interesses políticos no âmbito do governo, dos segmentos internos ou de outras corporações.
Considerando essa situação, permito-me fazer uma referência ao que procurei expor no livro “Universidade Federativa, Autônoma e Comunitária”.
Na proposição dessa universidade, defendemos que os processos de gestão e de escolha dos reitores assumam uma dimensão participativa ampliada, ou seja, não restrita ao âmbito interno de seus membros, sejam os permanentes (docentes) ou transitórios (estudantes). Pelo seu caráter constitutivo, essa universidade (imaginária) estaria a serviço de uma comunidade mais ampla e não seria dependente de um único dono (mantenedor), seja ele o Estado ou o empresário privado. Ninguém pode negar que tanto nas universidades estatais, como nas universidades particulares, a relação política ou financeira do reitor ou do dirigente da entidade com o dono/proprietário da universidade é uma relação de subordinação, ainda que sejam ostentadas aparentes posturas de autonomia.
Na universidade federativa e comunitária, essa relação torna-se mais diluída, porquanto tanto a comunidade interna (acadêmica), como a externa é chamada a participar nas decisões e a assumir responsabilidades na sua organização e no seu financiamento. O reitor não seria representante apenas da comunidade universitária interna e menos ainda do Estado ou do mantenedor privado. Precisaria ser uma liderança reconhecida, intelectual e administrativamente, capaz de expressar os anseios das comunidades interna e externa e ao mesmo tempo articular e viabilizar a participação dos entes federados na sustentação e nos destinos da organização.
Por comunidade externa entendemos todos os atores de uma gestão federativa, ou seja, de uma forma de administração sob o regime de cooperação dos entes federados. Trata-se da perspectiva estabelecida pela própria Constituição Federal (Artigo 211). Também fazem parte da comunidade externa todos os agentes locais/regionais, em seus diversos segmentos: organizações empresariais, sindicatos, entidades culturais, educacionais, desportivas, jurídicas, religiosas, etc. De alguma forma, todos eles estariam presentes, por seus representantes, em alguma instância colegiada de deliberação superior.
Evidentemente, a comunidade acadêmica (interna), pela própria natureza das suas atividades, deverá deter a responsabilidade maior pela vida acadêmica, cujos gestores devem ser escolhidos com base na sua competência e nos critérios do mérito científico.
Por essas razões, ponderamos que a ‘gestão comunitária’ está estreitamente relacionada com os processos de democratização e de participação, mas sem confundir-se com as concepções de ‘gestão democrática’, que têm sido propugnadas para as universidades com base na bandeira igualitária assentada no pressuposto de que os estudantes, os professores, os técnico-administrativos são todos iguais.
O que desejamos realçar, aproveitando o tema suscitado pelo professor Jacques Schwartzman, é que essa idéia de universidade federativa com gestão comunitária objetiva aproximar a organização universitária dos cidadãos e criar os meios para uma interação mais intensa dos atores envolvidos. Obviamente, implica uma dinâmica complexa e barreiras quase intransponíveis. Todavia, seria uma forma de gestão que propiciaria maior transparência, maior controle público e maior efetividade.
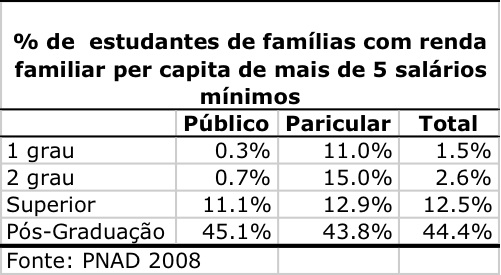
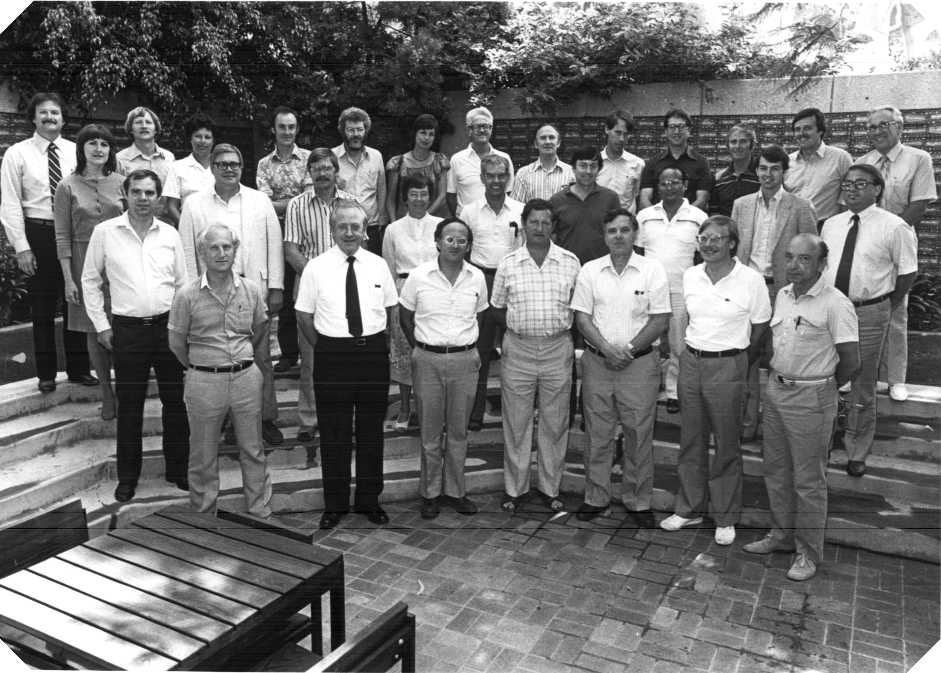
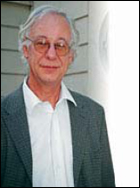 José Jaquin Brunner está publicando, em Santiago, “Educación Superior en Chile: Instituciones, Mercados y Políticas Gubernamentales, 1967-2007” (Universidad Diego Portales, 2009), livro do qual tive a honra de escrever o prólogo. Noto, na introdução, que
José Jaquin Brunner está publicando, em Santiago, “Educación Superior en Chile: Instituciones, Mercados y Políticas Gubernamentales, 1967-2007” (Universidad Diego Portales, 2009), livro do qual tive a honra de escrever o prólogo. Noto, na introdução, que